Unknown
0 views14702 WordsCopy TextShare
Unknown
Video Transcript:
Boa tarde a todas a todos a todes eh é um prazer né estar aqui reunida com Vânia Alessandra e Valéria que eu vou apresentar de maneira mais formal já já para mais essa Live aqui do canal do GT povos indígenas na história vinculada a ampu Brasil então quero começar agradecendo a coordenadora do nosso GT a professora Vânia Moreira eh da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e que também da UnB já que lá ela está como professora visitante Quero agradecer o apoio então da da nossa coordenadora as atividades do canal do nosso GT Eh
quero também agradecer a professora Alessandra pelo aceite do nosso convite também a professora Valéria Melo eh pelo por ter aceitado vir aqui conversar com a gente eh nós temos tido muitas visitas né no nos vídeos do do nosso canal Então eu imagino que esse debate de hoje possa servir eh para alunos da graduação da pós-graduação para os povos indígenas eh pra gente debater um pouco mais sobre eh intelectualidade indígena entre outras coisas então vou apresentar aqui para vocês as nossas convidadas a professora Valéria é graduada em História e mestre em ciências do ambiente pela Universidade
Federal do Tocantins e ela é Doutora em antropologia social pela Universidade Federal do Amazonas Ela é professora agora né hoje na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará a unif e é vinculada ao profhistória de lá ela atua em diferentes frentes da Unifesp A Valéria é vice coordenadora vice-diretora do curso de licenciatura em História colabora com o laboratório de cartografia social do Sul e Sudeste do Pará também lá na Unifesp e a área da antropologia na qual a Valéria tem mais experiência é a olia indígena e ela trabalhou Pelo que eu vi principalmente com
o povo xerente então ela se dedica aos seguintes temas história indígena educação escolar indígena Isso é muito bom interessante né porque ela está no profhistória e ela também se dedica a um tema super quente que é o tema dos impactos ambientais Valéria tem algumas eh me chamou muito atenção eh um capítulo que a Valéria escreveu junto com outros pesquisadores que se chama agricultores acampados de Canaã dos Carajás e os impactos da mineração no sudeste paraense e esse capítulo da Valéria e de outros dois pesquisadores está num livro que se chama mineração e garimbo em terras
trad ocupadas conflitos sociais e mobilizações étnicas é uma publicação recente né relativamente recente de 2019 e eh também nossa convidada Alessandra Gonzales de Carvalho depois ela conta pra gente como é que pronuncia eu esqueci de perguntar Enquanto estávamos nos Bastidores eh seac talvez depois ela nos conta bom Alessandra eh ela tem graduação mestrado e doutorado e pós-doutorado também eh em história pela PUC do Rio de Janeiro ela no doutorado ela desenvolveu uma pesquisa que é muito interessante também pelo fato de que atravessa fronteiras porque aborda a relação entre os mapu uma etnia eh bastante conhecida
né na na bibliografia etnológica etnohistórico histórica também eh Então ela aborda essa etnia no contexto de formação dos estados nacionais argentino e chileno eh não propriamente no contexto de formação dos estados nacionais mas nesse processo de territorialização dos Estados eh na Argentina e no Chile no final do 19 hoje ela desenvolve pesquisas que estão voltadas para o diálogo entre o antropoceno a história e as ontologias e epistemologias indígenas então nossas duas convidadas aí estão com temas assim Bem quentes né o antropoceno tem se falado muito sobre esse conceito que talvez a a Alessandra explore na
sua fala eh e essa pesquisa dela tem a ver com a Live de hoje porque leva em conta também a produção intelectual indígena na contemporaneidade a Alessandra é professora de história da América na uerg a Universidade do Estado do Rio de Janeiro ela pesquisa no laboratório de pesquisa e práticas de Ensino em história também na uerg e ela faz parte do Centro de Estudos mesoamericanos e andinos o conhecido sema lá na USP eh Com certeza Alessandra também tem publicações eh muito interessantes e que tem tudo a ver com o tema que a gente sobre o
qual a gente vai dialogar hoje eh mas eu gostaria de dar notícias para vocês de um artigo eh publicado no ano de 24 2024 né então um super fresco uma publicação super fresca eh e tá publicada na revista em pauta do Rio de Janeiro e o título desse artigo da Alessandra e essa revista é uma revista A1 eh se chama Vozes da terra e ancestralidade imaginando novas perspectivas para o antropoceno bom então mais uma vez agradecendo muitíssimo à duas por terem aceitado o nosso convite eu de imediato passo a palavra pra professora Valéria Melo que
vai conversar com a gente entre 20 e 30 minutos um pouco mais ou menos em seguida passarei a palavra para professora Alessandra que fará a mesma coisa né conversará com a gente aí nesse durante esse tempo e depois nós abriremos para eh o debate com o público perguntas comentários quaisquer que vocês tenham podem colocar no chat do nosso canal que aí a gente coloca ele aqui e pras para as nossas convidadas verem gente e é algo por último né algo que a gente fica até eh com vergonha constrangido de falar mas é super importante toda
a Live vocês vão ter que me ouvir dizendo que para quem não se inscreveu no canal por favor se inscrevam né Eh curtam as nossas lives porque é é muito importante pra gente saber que esse canal de divulgação Científica tá send realmente utilizado né Com acesso democrático a informações importantes que era o que a gente queria quando a gente fundou o canal no início da pandemia Então quem não se inscreveu por favor se inscreve Valéria você tá com a palavra e um abraço para Laí Maria e que estão conosco n em outros momentos também um
abração para as duas professora Valéria o som Valéria opa agora sim eu acho que vai né então gostaria de iniciar saudando a todos os presentes né e de maneira especial agradecendo a professora in professora Vânia mais uma vez né pela generosidade abertura de espaço nesse canal tão importante né que tem feito um trabalho tão interessante no sentido de divulgar pesquisas né relacionadas à história indígena aqui né no Brasil e de outras partes também né então eh gostaria também né de de cumprimentar a professora Alessandra seisl né dizer que é um prazer dividir esse espaço aqui
com ela também nessa tarde bom a minha fala de hoje né Ela é intitulada o futuro é ancestral né entre aspas justamente por fazer alusão ao título de UMS dos livros do Aílton krenak né então reflexões sobre história indígena em seu ensino a partir de trajetórias e narrativas de intelectuais indígenas né esse título na verdade é o título da minha pesquisa de pós-doutorado né num estágio de pós-doutorado em andamento agora na Universidade de Brasília né no no programa de pós-graduação em História sob a supervisão da professora Suzane Rodrigues eh eh Apesar né Desse título a
a minha fala Hoje é mais um recorte né justamente por ser uma pesquisa ainda em estágio Inicial né então qual que é a minha ideia aqui hoje com vocês né é fazer essa reflexão mais geral né que não estará restrita ou pautada né que seja nos intelectuais em si que eu pretendo me aproximar mais da obra né que é o Aílton cren O David copena e o João Paulo Barreto Tucano né mas dialogar com o que tem sido produzido enquanto reflexão né e por isso a minha fala é mais um diálogo com autores que têm
se debruçado aí sobre as obras né sobre a produção de intelectuais indígenas do que propriamente uma tentativa de síntese ou de diálogo com esses autores em si né Eh esse grupo mais amplo né de autores aos quais Eu me refiro eles têm sido classificados em alguns casos chamados referidos como intelectuais indígenas né Eh eles eles hoje se encontram presente no no mundo acadêmico né no espaço Acadêmico mas não apenas né estão também nas artes na literatura e em diversos outros espaços trata--se de intelectuais que abordam a questão indígena a partir do que graça Graúna né
em um texto de 2013 define como autoista né e eu acho que a ideia de aut hisória que que tem sido um conceito mais utilizado no âmbito da literatura é muito pertinente né para pra nossa reflexão no campo da história também né de acordo com essa autora o termo aut história ele faz referência a uma produção de autoria indígena escrita ou disponibilizada a partir de diferentes suportes e em que a autorid a autoridade ganha né evidência e protagonismo em narrativas que geralmente o possuem uma lógica própria essas narrativas elas né Como Eu mencionei vão muito
além da escrita e daquilo que tem sido produzido pela presença indígena já muito significativa né no no momento no tempo presente dentro das Universidades eh e aí eu penso que vale a pena destacar né as contribuições Justamente que os autores do campo da literatura tem oferecido para a reflexão sobre vários aspectos que perpassam o texto né desses autores enquanto características enquanto também outros aspectos como a relação entre oralidade e escrita né enfim as asos ligados à construção dos textos desses autores em si é interessante destacar também que nesse Campo da literatura autores Como o próprio
Daniel mundurucu né e a Graça Grauna né que também é uma intelectual indígena tem contribuído bastante com as reflexões né no campo da história por outro lado né apesar de tive uma ampliação nos últimos anos de iniciativas voltadas pro diálogo né com as obras desses autores indígenas né E aí me interessa muito o diálogo inclusive com a com a professora Alessandra seisl né até para entender a percepção dela sobre isso eu pelo menos ainda vejo que o avanço nesse sentido de um diálogo mais direto né e mais aberto com esses autores e com as percepções
próprias de história desses autores é ainda tímido né no no Brasil pelo menos Ah mas aí eu penso que vale a pena a gente refletir né sobre o que que definiria um intelectual indígena e essa também é uma questão que tem me guiado eh nesses momentos iniciais da pesquisa né bom tem um texto do Aílton krenak lá na década de 90 né desses primeiros eu acho os registros escritos dele né Eh que passam a ser publicados em que ele compara os intelectuais típicos né da da cultura ocidental aqueles presentes na tradição indígena né Ah nesse
texto o krenak explica que enquanto os os intelectuais né típicos da cultura ocidental Eles teriam muitas funções institucionais e entre elas o Kena cita né escrever livros fazer filmes dar conferências aulas nas universidades né ele vai dizer que o intelectual indígena talvez não tivesse tantas atribuições né ou atribuições tão diversas mas que ele teria uma responsabilidade permanente né E que responsabilidade seria essa de estar no meio do seu povo e com ele narrar sua história e o sentido dessa eh herança cultural né bom no Século XX e observando aí essa movimentação dos intelectuais indígenas né
Eu acho que a gente pode dizer que eu acho desde ali da segunda metade do século XX né até o o momento atual percebendo a a movimentação dos intelectuais indígenas no âmbito do próprio movimento indígena Inclusive a gente pode dizer que pelo menos no que di respeito ali às atribuições essa Fronteira aí que o krenak menciona entre intelectuais né da cultura ocidental e intelectuais indígenas Ela Tem se tornado cada vez mais fluida né Sem romper com os laços com as suas origens né aliás fazendo da sua origem muitas vezes o motivo e o tema principal
das reflexões construídas é cada vez mais comum né perceber os indígenas escrevendo livros produzindo filmes fazendo conferências né Exposições artísticas dando aulas em Universidade né esses intelectuais eles têm Portanto subvertido deliberadamente o papel que a escola né vamos dizer assim a escola enquanto instituição a escrita e a arte historicamente tiveram para a difusão de equívocos e estereótipos utilizando essas mesmas ferramentas como meio de falar por si próprios né significar representações e colocar em evidência um pensamento indígena no plural antes de seguir com essa reflexão eh eu gostaria de fazer algumas ponderações sobre a utilização do
termo intelectual né para fazer alusão aos indígenas que tem ganhado notoriedade Nesse contexto né que a gente tá discutindo aqui e por que que isso é necessário né é necessário porque a gente sabe que se trata de um conceito ocidental e por isso mesmo não necessariamente esse conceito ele Corresponde à lógica indígena de produção e circulação de conhecimento né Eh para pensar o porquê dessa utilização eu penso que é muito pertinente a caracterização que alguns autores né T feito a dessa da da produção de autores indígenas no Brasil entre esses autores a gente pode citar
novamente a graça Graúna Portela e Guimarães né darne do rico Tiel e outros autores né eh segundo esses autores a produção indígena apesar das suas especificidades né Ela é muito marcada por um ativismo estético político né E por uma autoria né que é individual e coletiva ao mesmo tempo eh assim tendo em vista esse caráter político e coletivo a minha opção pelo termo né vai ao encontro da ideia de intelectual orgânico né proposta pelo gramich né E que é uma opção também né de outros autores que têm trabalhado com a com a produção desses autores
indígenas né eh é portanto em referência ao caráter político e como forma também de enfatizar né a a como forma e necessidade né de encarar o conhecimento produzido pelos povos indígenas né de maneira simétrica aquele que é produzido pelo Ocidente que eu mobiliza então o termo intelectual aqui na na minha fala né bom corroborando com essa percepção de que a autoria indígena ela é antes de tudo inspirada e comprometida com lógicas e projetos coletivos Aparecida bergam ela define o intelectual indígena como aquele que Alia o conhecimento que é próprio da sua cosmologia conduzindo ou seja
tornando possível né diálogos Inter curais significativos né E por significativos a gente pode colocar aqui a ideia que esses diálogos interculturais que são realizados através de um trabalho né extremamente complexo de tradução né desses intelectuais de signos e significados né dos de suas cosmologias próprias para conceitos e significados ocidentais né Eh que que esse trabalho ele é estritamente político e tem tido efeitos políticos muito significativos né um exemplo nesse sentido são os espaços políticos também né que os povos indígenas têm conseguido eh ocupar ultimamente né o acesso a esses diálogos Sem dúvida foi impulsionado pela
a expansão da escolarização entre os povos indígenas todavia é bem importante a gente ter clareza que não é a escolarização que define necessariamente que um intelectual né ou que um indígena seja reconhecido como um intelectual né e aqui a gente é remetido a algumas das especificidades dessa classificação né bom assim como o Ken né na quando ele tá construindo a reflexão dele ali sobre os intelectuais a aparecida bergam ela vai nos lembrar que há os intelectuais indígenas que se formam apenas a partir da oralidade nos conhecimentos do próprio povo né esse é o caso por
exemplo do Davi copena né Ele é um líder ianomami né um Xamã ele é pouco fluente no português mas ele é um entendedor perspicaz da ah cosmovisão ocidental vamos dizer assim né Isso fica particularmente Claro no livro né a queda do céu palavras de um chaman e aomame publicado em 2015 com em em coautoria né com o antropólogo francês Bruce Albert né Eh justamente por seu caráter político a compreensão da produção dos intelectuais indígenas não pode ser pensada separadamente da Gênese e da atuação do movimento indígena no Brasil né E aí a gente pode falar
dessa Gênese a partir aí da década de 1970 né e das diferentes estratégias que desde então o movimento indígena vem adotando né para fazer frente E dialogar com o estado brasileiro né Eh desde então por meio de novas estratégias de mobilização política os povos indígenas chamaram então atenção para as incoerências né de ideias de passividade desaparecimento até muit até então muito presentes na historiografia tradicional e largamente reproduzidas né pelo senso comum a mobilização política indígena naquele período mostrou como os códigos e conhecimentos da sociedade envolvente dos quais os indígenas se apropriaram foram e continuam sendo
fundamentais para a conquista e eh manutenção desses direitos né o Brasil e a historiografia se viram desde então diante de indígenas né que segundo o viveiros de cas se tornaram vetores de indenização da política nacional antes que de abrasileiramento dos índios né que aí nos ajuda a questionar um pouco a ideia de aculturação inclusive né que é uma das ideias também que fez né e em alguma medida faz ainda muito parte do do senso comum né ainda na década de 1990 né lá em 1999 no texto armas e armadilhas o John Monteiro né refletindo sobre
a atuação de líderes e de associações indígenas no período pós constituição ele já chamava a atenção para a maneira como narrativa sobre a história né produzidas no âmbito do movimento indígena lançavam mão de categorias analíticas imagens e representa não indígenas como ferramentas para legitimar as demandas por direito né E aí o John Monteiro ele vai se referir né a a esse estilo de narrativa como um discurso produzido para fora né justamente nessas nessa nesse esforço de estabelecer um diálogo tornando inteligível e ao mesmo tempo legítimo né essas essas demandas indígenas nesse mesmo texto né destacando
os avanços e desafios que então se colocavam para pesquisa e abordagem em história indígena em sala de aula naquele momento eh John Monteiro reflete né que essas narrativas elas deixavam entrever perspectivas indígenas né sobre a história mas ele faz um questionamento bem importante né seria possível falar sobre uma história propriamente indígena né Então essa perspectiva indígena sobre a história ela já vinha ficando Clara né nessas narrativas indígenas daquele período Mas seria possível falar sobre Ah uma história propriamente indígena né E aí eu penso que se a gente diz que sim né que é possível falar
sobre uma história propriamente indígena é muito necessário a gente adicionar a essa uma outra questão o que que definiria esse tipo de história né e É nesse ponto que eu penso que o encontro né sobre possíveis respostas de possíveis respostas passa necessariamente por uma melhor contribui por uma melhor compreensão da produção e da atuação de intelectuais indígenas no tempo presente né bom essa compreensão eu acredito ela pode contribuir não só com o enriquecimento né das perspectivas de pesquisa e ensino né de história indígena Mas elas são igualmente necessárias para uma melhor interlocução com os indígenas
dentro e fora das nossas universidades né e aqui eu acho que vai vale muito a pena a gente pensar nos próprios estudantes indígenas que têm ingressados nos cursos de história né de graduação e pós--graduação e tem se proposto a escrever né então do nosso próprio papel enquanto orientadores né Eh e é muito fácil às vezes a gente enquadrar essas experiências e ess escritas dentro de uma percepções que tende né a o uma perspectiva de uma história Universal não permitindo muitas vezes ali por falta de de de conhecimento mesmo que essas histórias indígenas né E essas
historicidades indígenas elas possam se fazer presentes né e aqui eu abro esse parêntese para dividir uma das minhas inquietações como docente né como professora e que já orientou né estudantes indígenas e me vi nesse lugar de estar preocupada né com as com com essa abertura a possibilidade de abertura de um espaço aí mais simétrico de diálogo com esses conhecimentos indígenas né bom então como enfatizam Nogueira eh Portela e Nogueira né em um texto em 2016 eu acredito abre aspas né que a diversidade expressa nas narrativas de aor indígena abre possibilidade A reflexão e questionamentos em
relação aos lugares de produção de conhecimento e formas de construção da história né fecha aspas por outro lado essa produção ao mesmo tempo que permite acessar perspectivas indígenas sobre a história provoca-nos a pensar a questão da agência indígena né Essa a a ideia de agência indígena ela ganhou como nós sabemos né um espaço significativo na historiografia nas últimas décadas né e eu penso que essa produção indígena hoje ela nos permite pensar a agência por um ângulo diverso né que que que seria esse ângulo diverso né creio que a abordagem das atuações indígenas na história já
não se mostra mais suficiente né É é igualmente necessário reconhecer os indígenas como agentes produtores de conhecimento né com o qual a academia e a história podem e devem aprender né Eh tendo em vista que a diversidade cultural né pode implicar IMP percepções relacionadas ao tempo a interlocução com as narrativas indígenas coloca a necessidade de uma melhor compreensão dessas historicidades né nesse ponto acredito que os historiadores ainda tem um caminho a avançar né um exemplo nesse sentido é a necessidade de uma melhor compreensão por exemplo da relação entre mito e história né E nesse ponto
eu concordo com a antropóloga Joana overing né quando ela defende que o mito é um gênero através do qual a olia indígena ela revela questões básicas né da sobre a história sobre essa sobre essa relação dos povos indígenas com tempo e também sobre o desenvolvimento das coisas né E que Portanto o mito ele não pode ser tomado pura e simplesmente como oposto à história né como costuma acontecer em alguns casos né Mas a gente pode deve falar também da do impacto da importância dessa produção na dimensão do ensino né de história indígena a gente sabe
que desde de a lei né 11.645 né de 2008 e também por Ponta Da Da ampliação né quantitativa e qualitativa das pesquisas relacionadas à história indígena que nós tivemos avanços importantes né na área do ensino de história indígena né E aí a gente tem uma série de trabalhos né Eh muito bons por sinal que relatam isso mas a a esses trabalhos eles também nos colocam diante de alguns desafios né é que um deles é que apesar dessa ampliação dos conteúdos né Eh e da própria abertura de espaços nos currículos né a tarefa de desconstruir a
percepção que os povos indígenas estão relegados por exemplo ao período colonial da história do Brasil é ainda um desafio né que essa essa tarefa tá ainda no começo né E isso leva a perceber né que a simples identificação da presença ou a denúncia da ausência né indígena nas abordagens de eventos históricos ela não é suficiente né para desconstruir a percepção de passividade ou do inevitável desaparecimento dos povos indígenas né Eh da mesma maneira né que a menção desses sujeitos nesses eventos históricos não garante que eles sejam reconhecidos como sujeitos históricos efetivos né embora já ajude
né bastante em vários sentidos bom o que eu quero colocar né é que trabalhar com as Produções indígenas né em sala de aula pode ser uma estratégia produtiva também nesse sentido né Eh de romper com lugares comuns como é o caso por exemplo da imagem né equivocada do índio Genérico e que é tomado assim não a apenas por ser tido como detentor de uma cultura que é supostamente estática homogênea né como já muito discutido né dentro da da historiografia mas também porque ele é geralmente tomado como alguém sem nome sem rosto né como um coletivo
genérico né Ah E aí nesse sentido eu acredito né que permitia a visibilidade e a compreensão de diferentes formas de atuação indígena no tempo presente e a partir delas olhar para o passado né eh através da da da produção desses intelectuais indígenas contribui paraa compreensão dos povos indígenas né não apenas como sinônimo de Cultura né Mas também como produtores de conhecimento e de arte né A locução com os autores indígenas em sala de aula vai também ao encontro de um ponto né que tá lá presente nas diretrizes de implementação da lei 11645 né que deixam
claro que uma das demandas do movimento indígena em relação a essa lei é que os próprios indígenas assumam o protagonismo né de falar sobre suas histórias e culturas por meio dentre outros recursos né da utili de materiais didáticos e pedagógicos de autoria indígena né E aí eu concordo portanto né com o que coloca o Clovis Brent né Eh quando esse afirma que a inclusão dos saberes indígenas seja nas escolas de Educação Básica né ou nas universidades significa mais do que representar a diversidade cultural né e a agência desses sujeitos significa segundo ele né Colocar dialogar
com a multiplicidade dos seus conhecimentos suas sabedorias e suas cosmovisões e estabelecer a a interlocução portanto e a partir disso com os conhecimentos ocidentais né E isso requer necessariamente né uma maior ca e uma melhor compreensão das ciências indígenas né E aí eu gostaria de encerrar a minha fala né fazendo menção à ópera O Guarani né que Eh voltou ao teatro municipal de São Paulo no último final de semana né Essa essa adaptação da Ópera O Guarani né de de Carlos Gomes uma Ópera do século XIX né foi adaptada pelo Aílton krenak né e ela
possui co-direção artística e cenografia do Denilson banila é uma adaptação que foi feita em 2023 né que conta com atores indígenas e também com couro Guarani né então assim eu acho muito significativo essa ópera né e a atuação indígena no sentido de uma ressignificação né de algo que como a gente sabe aí eh foi produzido em um outro tempo a partir de outras perspectivas Mas enfim né Essa ópera ela entre premiações e críticas também bastante ácidas né que acusam a ópera de não fazer julo ao Legado de Carlos Gomes ou de ter promovido uma descaracterização
da Ópera né ela tem estado praticamente né com ingressos esgotados em todos os dias de sua exibição né nos mostrando aí o alcance mas eu gostaria mesmo de encerrar minha fala com uma uma observação que o Aílton krenak faz sobre essa sobre essa ópera sobre essa adaptação e uma entrevista que ele deu à revista Veja São Paulo em março de 2023 né então perguntado Qual era o objetivo dele né com essa adaptação ele responde o seguinte né abr aspas o que eu espero é conseguir colar a obra nesse momento da realidade política em que nós
somos nós somos desafiados a mudar os nossos padrões a contradição está em tudo e das coisas que achamos ruins em nós a gente não consegue se desfazer por falta de coragem essa narrativa influencia toda a produção de ideias no nosso país a literatura o cinema é um cânone ele guia uma narrativa sobre o mundo se a gente conseguir mexer nisso pelo menos na nossa realidade doméstica no Brasil podemos estar contribuindo para uma mudança que será Ampla e em cadeia não podemos nos esquecer que o que Carlos Gomes fez que não podemos esquecer que Carlos Gomes
fez o que foi possível no tempo dele e agora cabe a nós fazer o que é possível no nosso tempo né então com essas palavras né do aen eu encerro a minha fala e agradeço o espaço muit ob obrigada muito obrigada Valéria também pela tua pela tua exposição pelos teus argumentos tão instigantes antes de passar a palavra para Alessandra eu quero agradecer né e cumprimentar muitas pessoas que que estão com a gente no canal do YouTube não vou conseguir cumprimentar a todos mas eh Gostaria de mandar um forte abraço pro professor José Inaldo Chaves e
pra professora Maria Regina Celestino pra professora Ane messen né para o Ernesto eh que está conosco O Ernesto Basto que está conosco no GT né que se chama povos indígenas na história agradecer né vários comentários entre eles o comentário do Marcelo eh o Marcelo que é da etnia Xua Marcelo te mando um abraço Minha tese de doutorado também foi sobre os os Xua na na virada do do 18 pro 19 e a título de informação geral eh especificamente sobre o comentário do do Marcelo eu acho que você tem toda razão Marcelo né Eu acho que
eh chamar nomear escrever sobre os povos indígenas utilizando a palavra índio ela foi sim né Eh isso foi feito durante muito tempo mas com a ajuda né Valéria numa demonstração aí da do do da força da intelectualidade indígena com a ajuda do movimento indígena também e dos intelectuais não não indígenas e não indígenas isso tem sido mudado então Eh inclusive o nome do nosso GT mudou né ele foi fundado Como os índios na história depois ele passou a ser indígenas na história em 2019 ele mudou para indígenas na história e eh na no último encontro
que tivemos o nome do GT foi novamente mudado para povos indígenas na história então agradecendo Marcelo concordando com ele e informando né o nome do nosso GT hoje eh bom sem mais delongas eu vou passar a palavra paraa professora Alessandra Oi gente boa tarde né a todos que estão assistindo eu também vou começar fazendo aqui os agradecimentos a professora Vânia e a professora Carina pelo convite eh reconheço a importância do GT pro desenvolvimento da da história indígena no Brasil então é um prazer muito grande estar aqui também tô muito feliz de estar conhecendo a pesquisa
da professora Valéria eu acho que as nossas pesquisas dialogam muito e enfim Fiquei bastante contente de escutar você falar e saber que tem outras pessoas interessadas Nessas questões nessas temáticas e etc acho que a gente pode falar sobre sobre isso depois e enfim quando eu recebi o convite eu fiquei pensando um pouco em que contribuição eu poderia tá eh dar para esse tema né perspectivas indígenas no fazer e no pensar a história e o mundo vivido eu acho que a minha contribuição hoje para debater esse tema não tem muita relação Direta com a minha pesquisa
de mestrado e doutorado Porque como a a própria professora Karina falou no mestrado e no doutorado eu estudei a resistência mapu ao processo de expansão territorial dos Estados Argentina e chil no século XIX mas eu acho que então a minha contribuição tem mais a ver com as pesquisas que eu venho desenvolvendo Mais especificamente Desde o ano de 2023 que vinculam enfim eh muitas temáticas que estão sendo bastante debatidas hoje em dia né como antropoceno a questão do pensamento indígena eh e outras historicidades e formas de pensar a história no seu sentido acadêmico então eh eu
acho que um bom ponto de partida é falar um pouco sobre o artigo que eu publiquei na topoi em 2023 que é um artigo intitulado um fazer histórico chamico porque Nesse artigo especificamente eu vou debater as potencialidades do regime de historicidade Cosmo histórico que não é um conceito criado por mim mas é um conceito cunhado pelo Historiador mexicano eh Federico Navarrete Linares e eu entrei em contato com esse conceito eh a partir da minha participação no Sema né o centro de estudos mesoamericanos amazônicos e andinos lá da USP do qual Federico faz parte também como
como pesquisador e em linhas Gerais quando eu escrevi esse esse artigo em 2023 acho que o que eu queria argumentar Ali era que a falência dos conceitos das instituições e das redes semânticas da modernidade ocidental a crescida desse senso de catástrofe que assola todos no presente né E aí abram parênteses tô aqui no Rio de Janeiro com sensação térmica de mais de 50 graus já alguns dias então a gente vem vivendo diretamente essa esse acho que essa sensação de fim do mundo fim dos tempos Mas enfim então Nesse artigo eu busquei pensar como essa falência
a a crescida desse senso de catástrofe tornava e torna né os instrumentos e objetivos tradicionais da disciplina histórica insuficientes para produzir inteligibilidade pros Novos Tempos Então o que eu busquei argumentar ali é que o antropoceno exige novas perspectivas pro conhecimento histórico e também a reformulação do conhecimento histórico em termos das suas premissas e e das suas práticas usuais depois a gente pode conversar um pouco sobre sobre a questão do antropoceno é um conceito extremamente eh polêmico ele disputa e espaço com outros conceitos como capitaloceno plantation oceno e inúmeros outros conceitos que buscam designar né esse
período geológico mais recente do planeta mas em linhas Gerais para quem tá acompanhando e não tem família idade com esse conceito o antropoceno seria uma seria um conceito que busca designar um período geológico mais recente do planeta no qual os efeitos da atividade humana adquiriram uma dimensão de uma força física dominante né impactando Eh e deteriorando ecossistemas e o clima em uma magnitude comparável ao vulcanismo e a os movimentos tectônicos e a outros elementos então Eh dessa Gama aí de de eventos naturais e etc enfim e aí quando eu tava escrevendo esse esse artigo eu
busquei também eh pensar que pra reformulação dessa história e dessa história no sentido acadêmico eh que essa reformulação ela estaria muito atrelada a reformulação também de elementos como a descentralização da figura do humano a reconexão entre natureza e cultura o diálogo com formas agramaticais de empregar o vocabulário político e o estabelecimento de relações Mais simétricas e aí eu acho que esse é o ponto no qual a a minha pesquisa dialoga bastante com a pesquisa da da da professora eh da professora Valéria eh estabelecimento de relações mais simé entre distintas ontologias epistemologias Então nesse processo eu
acho de que é urgente de reformulação do do conhecimento histórico eh eu acho que os princípios do que o campo antropológico convencionou chamar de virada ontológica acabam contribuindo paraa reorientação da história e do político na na história Então eu acho que a história a partir de então né dessa reformulação ela passa a ser compreendida a partir da comunicação entre múltiplos modos de performar o mundo que estão sempre em diálogo mesmo que de maneira conflituosa e daí o conceito de Cosmo hisória que eu acho que é o o conceito central do do artigo que eu escrevi
na topoi em 2023 né a Cosmo stória então seria um regime de historicidade que preza pela reconstrução de interações complexas frágeis multifacetadas entre diversos mundos históricos e reconhece de certa forma diversas ontologias historicidades protagonistas e formas de Devir histórico que convivem entre si por meio de diálogos eh ambiguos enfrentamentos e negociações bastante intrincadas sem nunca alcançar a perspectiva de uma totalidade que seria dotada de um alcance supostamente Universal que eu acho que é a perspectiva então de um regime de historicidade mono istória eh que então é o regime de historicidade ao qual Federico Navarrete Linares
opõe Esse regime de historicidade Cosmo histórico e aí Nesse artigo que eu acho não sei se ficou Claro mas esse artigo foi um ponto de inflexão assim nas minhas nas minhas pesquisas eu chego à conclusão de que a Cosmo stória proposta pelo Federico navarre Linares aproxima-se do pensamento indígena e é capaz de reconhecer a relevância do pensamento indígena ou das diferentes formas de pensamento indígena para solucionar as perturbações no sistema terrestre que nós vivemos nesse período geológico nessa época geológica que chamamos de antropoceno né então acho que esse artigo ele começou a apresentar um pouco
da perspectiva historiográfica que eu desenvolvo hoje tanto em termos teóricos quanto em termos eh metodológicos Bom enfim e aí atualmente eu coordeno na werge Maracanã um projeto de extensão que se chama caminos de Bia Yala intelectuais indígenas do continente americano ele não é um projeto meu né apesar do de ter dito que eu coordeno esse projeto ele é um projeto totalmente colaborativo e desse projeto fazem parte pesquisadores como a Jaqueline ventapane a Daniele Freire A Jamile Macedo que tá assistindo aqui a a Live o Bruno Azambuja também temos muitos bolsistas voluntários e não voluntários da
uerg eh e nesse projeto E aí eu vou tentar explicar o que que esse projeto tem a ver com com o artigo da topoi né mas nesse projeto eh nós realizamos entrevistas com lideranças indígenas de abia aala e nessas entrevistas nós debatemos eh temas como pensamento indígena identidade indígena o conceito de intelectual indígena e aí eu acho que isso pode interessar bastante a você Valéria porque é um é o eixo norteador eu acho que de todas as temporadas do do projeto e com concordo com você quando você fala sobre essa necessidade de ampliação do conceito
de intelectual indígena nós não entrevistamos apenas pessoas do Meio acadêmico nós entrevistamos eh artistas eh enfim eh pessoas que trabalham com artesanato eh lideranças políticas então a gente busca escutar o que os próprios indígenas pensam desse conceito de intelectual indígena e também buscamos pensar como que os indígenas vêm desenvolvendo as suas lutas políticas pensar essa agência indígena eh em abia Yala no continente americano então ele é um projeto totalmente futado pelo princípio da simetria e da cocriação do conhecimento nós temos pessoas indígenas como membros de equipe essas pessoas nos ajudam a pensar o projeto os
caminhos futuros do projeto então para citar né algumas delas a Natália canan que é a Presidenta da do colégio de antropólogos do Chile o Rafael churu Cariri grande prêmio tese Caps eh do ano do ano passado o Henrique antilo o antropólogo mapu Helen Lima vu que é uma poeta a Luciana quispe que é antropóloga eh ketua então Eh enfim a gente e também quando eu digo né Ele é totalmente pautado pelo princípio da simetria eu acho que também é importante esclarecer né ele a nossa proposta é que ele seja pautado pelo princípio da simetria mas
nós que estamos no meio acadêmico sabemos de todas as dificuldades de romper com eh relações hierarquizadas com os espaços que as pessoas indígenas ainda galgam no meio acadêmico e muitas vezes eh não alcançam na dimensão que que deveriam e a gente busca desestabilizar essa posição entrevistador e entrevistado mas isso é muito difícil então a gente tem enfim eh debatido um pouco também essas questões dentro do do projeto E aí hoje nós já possuímos duas temporadas gravadas do projeto eh uma que teve como eixo a questão do antropoceno outra que teve como eixo a temática da
identidade indígena e esse ano de 2025 a gente vai lançar a terceira Temporada que vai ter como tema a vai ter como tema historicidades e temporalidades E aí a gente vai trazer bastante pro campo da da história Essas entrevistas que nós realizamos elas são divulgadas no YouTube no Spotify sempre com o consentimento prévio dos entrevistados a gente sempre devolve a entrevista para eles para que eles possam vê-la e e cortar determinadas partes que eles não querem que sejam que sejam publicadas Então mas elas são disponibilizadas no YouTube com leg legamento bilíngues e português e espanhol
no Spotify eh ano passado a gente lançou um livro que tá disponível no formato Open exess com a transcrição das entrevistas no formato mais acadêmico tem um um pós fácil do Rafael churu Cariri enfim eh então a gente tá sempre tentando trazer as pessoas indígenas para junto do projeto e e e realmente eh dar prosseguimento a esse intento de uma cocriação de conhecimento de um processo simétrico de produção do conhecimento e aí esse esse projeto né ele acaba como eu disse ele gera as entrevistas a gente faz a transcrição das entrevistas para análise identificação de
temas comuns E aí uma coisa que acabou ficando muito Evidente para mim ao analisar Essas entrevistas é que as reflexões desses intelectuais indígenas e aí colocando todas as ressalvas que possam ser feitas a esse a esse conceito de intelectual indígena mas essas reflexões elas são pautadas por formas próprias de modificação por políticas de ancestralidade e pela localidade epistêmica para usar aí um conceito do filósofo cheroy Brian burkhart então assim eh quando a gente transcreveu Essas entrevistas e e buscou analisá-las acho que fica muito evidente que as reflexões desses intelectuais indígenas elas devem ser compreendidas sem
sempre em diálogo com as suas próprias historicidades com as suas próprias formas políticas de ação no mundo e para que isso né ocorre e para que isso seja possível é necessário interpretar essas reflexões como narrativas sobre a história que acabam desestabilizando grande parte do do repertório de conceitos e de categorias analíticas da história disciplinar que são tomados como autoevidentes e universais né eu dialogo bastante também com a percepção do professor de história indígena da USP o Guilherme bianque que é também uma pessoa com quem eh eu troco bastante bastante ideia sobre essa pesquisa que eu
venho desenvolvendo então eh eu acho que nisso né nessa análise dessas entrevistas eu me aproximo um pouco dessa perspectiva de uma Cosmo hisória que eu trabalhei lá no no no artigo da da topoi e eu busco articular as formas de conceber o tempo e a história das sociedades indígenas as suas próprias condições ontológico existenciais ou seja né em outras palavras o que eu busco fazer é localizar a indenidade no interior das relações com o outro e com o mundo pensando essa indigene tidade tanto dentro quanto fora das instituições modernas Então o meu objetivo não é
criar uma uma visão essencialista e Romantizar usada da alteridade mas eu acho que a minha perspectiva é é essa né buscar o que que tá dentro dessa instituição moderna e quando eu falo instituição moderna eu tô falando dessa própria desse próprio conceito moderno de história mas também o que que tá fora o que que é diferente o que que excede esse limite da modernidade então eu busco transitar nessa Fronteira sempre com muita cautela eh para não Romantizar a alteridade essa indigene ade E aí eh hoje em dia esse projeto Caminho de Bia Yala que começa
como um projeto de extensão ele se desdobra em um projeto de pesquisa que é intitulado intelectuais indígenas e vocabulário político ontológico repensando as fronteiras da história intelectual e do conhecimento histórico no no antropoceno que é um um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo tentando unir a minha formação na PUC que foi uma formação eh extremamente voltada paraa história intelectual escola de Cambridge história dos conceitos Então como a a própria professora Karina disse né eu eu eu fiz assim estudei anos na PUC e tive essa formação muito sólida em teoria da história dialogando com a
história intelectual mas eu não busco abandonar a história intelectual paraa análise dessas dessas entrevistas mas eu busco tentar unir essa história intelectual a essa Perspectiva da virada ontológica dialogando acho que sobretudo com dois eh antropólogos que são a Marissol de la Cadena e o Mário Blazer eu acho que os dois são as minhas maiores referências hoje em dia para pensar essa essa questão que eu vou explicar agora que seria a a questão de do que eu chamo de um vocabulário político ontológico e aí eu acho importante ressaltar também que eh esse projeto de pesquisa ele
foi aprovado pelo comitê de ética então ele também eh enfim a todas as ressalvas que a gente possa fazer ao comitê de ética e a maneira como ele é como ele se porta diante das ciências humanas mas ele ele é aprovado pelo comitê de ética e como eu falei e ressalto mais uma vez a gente tem a autorização das pessoas indígenas que nós entrevistamos para que a gente possa analisar ali a as transcrições das das entrevistas né Então nesse projeto de pesquisa eu continuo desenvolvendo a perspectiva lá do do artigo da topoi da relação entre
antropoceno eh pensamento indígena e acho que é isso né e Cosmo história então continuo pautada por essa Perspectiva da necessidade de se pensar a história a partir de múltiplos mundos históricos que estão sempre em interação E aí eh só que eu também adiciono a isso a questão da análise do vocabulário político Então acho que a grande hipótese dessa desse meu projeto de pesquisa que é muito novo eu comecei a desenvolver no no ano passado 2024 é que a análise do vocabulário político ou seja desse vocabulário que é empregado por esses intelectuais indígenas nas entrevistas eh
uma análise pautada unicamente na relação discurso texto e contexto e representação não condiz com as novas perspectivas para fazer histórico no antropoceno E aí voltando né a essa ideia de que se a gente trabalha com a concepção de um contexto histórico que é vinculado a uma realidade única e compartilhada por todos que opera segundo a lógica da existência de uma natureza Universal e também segundo a lógica da lente da política moderna nós continuamos em nossa análise enquanto historiadores né do pensamento político silenciando os equívocos um conceito do do Eduardo viveiro de Castro Mas ou seja
os equívocos seriam esses mal-entendidos ontológicos que apontam para essa coexistência de uma multiplicidade de mundos históricos e paraa relação entre iguais que são em termos ontológicos mutuamente outros outros e aí eu cunho esse esse esse conceito eh utilizo esse conceito de vocabulário político ontológico para eh trazer uma proposta de análise do vocabulário político à luz da perspectiva ontológica que vai possibilitar o meu ver né Essa é a minha hipótese transcender essas análises que se focam primordialmente nos contextos históricos única e exclusivamente nos contextos históricos em que os discursos são enunciados e busco aproximar esses discursos
do mundo que é performado pelos denunciantes Então eu acho que a grande eh mudança aí nessa nessa análise que eu venho fazendo dessas dessas entrevistas dessas transcrições é tentar não me Focar apenas no contexto histórico mas também me focar nas performances de mundo que são feitas pelos entrevistados E aí Eh o meu objetivo é sobrepor a investigação de ideologias e termos políticos usuais empregados em contextos históricos específicos a compreensão de conceitos e enunciados a partir da relação que as ontologias indígenas tecem com seus próprios mundos históricos E aí eu posso trazer depois na no momento
do do debate eu tenho alguns exemplos Mas ficam fica muito Evidente assim nessa nessa análise que eu venho fazendo que existem conceitos que são mobilizados por esses por esses entrevistados que não dizem respeito única e exclusivamente a essa performance de mundo moderno embora digam respeito também né mas assim o próprio conceito de intelectual indígena é um conceito que para muitos entrevistados transcende a compreensão que nós temos do intelectual e aí transcende porque também transcende as próprias Fronteiras da História Moderna ou seja essa história antropocen essa história que eh desvincula natureza e e e cultura então
eu venho buscando trabalhar essas nuances e pensar como que esses mundos históricos são performados como que existe uma relação ali de fronteira entre a modernidade e os mundos indígenas e e etc Então eu acho que nessa pesquisa nova que eu que eu venho desenvolvendo eh que é muito focada nessa Ótica do do vocabulário político ontológico a minha grande pretensão é inserir o pensamento dos intelectuais indígenas no campo do possível e do concebível como conhecimento e também propor que a análise discursiva né Essa essa própria história intelectual mas essa análise discursiva no campo da história ela
não pode abrir mão de métodos críticos que atentem pros novos sentidos paraas inovações lexicais para transformações variações equívocos perdas danos que ocorrem quando esses corpos dos intelectuais indígenas aqui no caso que pertencem a mundos diferentes entram em comunicação com o mundo o mundo ocidental Então acho que é um pouco isso assim o que eu venho venho desenvolvendo desenvolvendo hoje em dia esse diálogo com com esses intelectuais indígenas eh enfim da das entrevistas do do projeto a relação entre o fazer histórico no antropoceno o pensamento indígena e tentando de certa forma reformular acho que a minha
a minha formação acadêmica né na na no âmbito da da história intelectual e e não sei eu acho que é que é um pouco isso assim e depois no se a gente for conversar um pouco sobre isso eu posso no no debate eu posso trazer aqui alguns exemplos de de entrevistas que mostram como esses equívocos eles estão o tempo todo acontecendo no no no projeto e enfim eu acho que que é isso gente Obrigada pela pela atenção Opa desculpem demorei um pouquinho aqui para voltar tá eh outras telas se foram se abrindo e eu não
consegui ativar o microfone bom Alessandra muito obrigada também pela tua Fala pelas tuas considerações eu anotei aqui algumas coisas mas eh vou passar a palavra pra professora Vânia eh e enquanto ela dialoga com vocês também vou dar uma olhada lá no chat do YouTube para ver as questões para vocês professora Vânia bom Boa tarde a todos e todas né com imenso prazer que eu tô na mesa aqui de desse debate né cumprimentar as colegas aqui né Alessandra a Valéria a Carina cumprimentar as estudantes que estão no background aí nos dando apoio né e lembrar aí
o a importância né da gente começar a fazer essa reflexão eh eh mais potente né sobre a a intelectualidade indígena e o quanto isso é importante nos ajuda ou quanto estamos ainda afastado de um diálogo eh mais atento com eles né então eu gostaria de de de começar aqui com uma parte da da apresentação da Valéria porque a Valéria citou o John Monteiro que foi o fundador do GT né Eh que hoje se chama indígenas na história povos indígenas na história Há controvérsias hein Carina eh e qual qual é o nome Afinal né Eu estava
convencida que era indígenas na história ainda né bom mas nome é povos indígenas na história desde a ampu do Maranhão menina eu que sou da do GT ainda tô no indígenas na história mas enfim eh uma coisa interessante do professor João é que quando ele ele teve a ideia de fundar esse GT ele teve a preocupação de usar o no né na história né Não então não é o povos indígenas do Brasil é no Brasil e na história do Brasil e a ideia do GT sempre foi muito voltada para eh a compreensão dessa participação indígena
nos processos históricos e intelectuais do país né e pela fala das colegas aqui hoje a gente vê o quanto talvez a gente ainda esteja engatinhando né nesse processo eh porque o John já colocava em armas e armadilhas como a Valéria colocou né esse desafio de um diálogo mais assido com eles né uma coisa que ele já enxergava eh já acontecendo né na América hispânica de origem hispânica né e e que ainda estava engatando no Brasil então V as colegas aí trabalhando com intelectuais indígenas eh é super gratificante né Mas a questão que eu vou colocar
paraas duas porque eu acho que a que a gente não tem muito tempo de discussão mas eu acho que esse esse é um tema que que que interessa sobretudo ao nosso GT é retomando aí uma questão que a Valéria fez e que eu que eu devolvo para Valéria e agora devolvo paraa Alessandra também é possível uma história indígena é possível uma história eh dos indígenas na história do Brasil porque o GT nunca teve a pretensão de fazer uma éno história né uma história eh a partir de um ponto de vista eh dos indígenas nas suas
comunidades ou da sua história ancestral mas de percebê-los como atores que estão conosco e com os não indígenas no processo histórico né Isso é uma questão relevante eu acredito sobre para todos os países né Eh para para para para é uma questão relevante digamos assim planetária né porque não existe um ator único principal em nenhum país né a gente tá sempre dividindo espaços né então a questão que eu coloco para vocês eh é é uma dupla questão né é possível fazer esta história e qual é a contribuição que os autores indígenas nos nos apresentam por
exemplo para pensar o o nosso próprio processo histórico enquanto Brasil e eles enquanto parte disso porque cada um de nós temos também uma parte de história que é vinculados a grupos muito específicos né no caso dos povos indígenas eles têm histórias muito específicas Mas eles têm uma uma interor siade conosco e nós temos uma interor dade com eles né então eu queria por exemplo eu sei que a Alessandra vai começar a terceira temporada agora né que vai atravessar mais o tema eh da percepção deles de história de historicidade né mas a gente percebe eh claramente
né que existia uma certa percepção hegemônica né no no entender da história do Brasil em que realmente os indígenas não apareciam como protagonistas e às vezes nem mesmo como parte do processo eles eram eh invisibilizados mesmo né e na medida em que a gente coloca Pelo menos eu tenho visto isso muito na história social e política eh que a gente trabalha com a questão indígena na medida em que a gente realmente leva a sério a questão do protagonismo indígena o próprio sentido da história muda e a gente vai vendo múltiplos sentidos né então aquilo que
aparece como uma capitulação eh num determinado momento histórico eh você já desconstrói Ou aquelas narrativas mais eh canônicas né Eh como h a guerra dos Tamoios né quando você começa a pensar isso não como a a expulsão dos dos Franceses do Brasil que é uma perspectiva totalmente eurocêntrica e Portuguesa né a a lavan haag né quando você vira isso para pros para o para a posição dos indígenas nas fontes a gente tem uma outra leitura Então o que eu queria que as colegas devolvesse aqui ou explorasse mais nas falas né no caso da Alessandra explorando
alguns exemplos né alessand que você falou que teria né Eh E no caso da Valéria devolvendo aí Valéria e aí é possível eh e e o que que para além de uma história indígena né que a gente fala história indígena mas na verdade o processo que a gente faz mesmo é um processo de vê-los na história é um esforço né mas que acaba sendo rotulado aí na na ã nas agências de fomento etc na rubrica história indígena né então eu queria perguntar para vocês aí como é que vocês veem essa questão e novamente agradecer imensamente
as as as duas As duas apresentações aprendi muito hoje tenho a certeza que deixou todo mundo aí com uma curiosidade de ler os artigos e os trabalhos de vocês e e retomar o a própria reflexão a partir desses novos olhares né então é isso agradeço aí bom então eu acho que a gente pode passar a palavra pra professora Valéria e em seguida paraa professora Alessandra né na ordem das apresentações para dialogar com as questões da professora Vânia agradecer né a professora Vânia pelo pelo questionamento né que que nós sabemos não é um questionamento de de
resposta fácil né e por isso mesmo eu acho extremamente instigante E extremamente instigante justamente pensá-lo aí no contexto desse legado do do John Monteiro né que já de maneira tão perspicaz ali naquela efervescência do movimento indígena né ali no efeito da efervescência do movimento indígena já conseguia aí pensar né Essa essa diferença entre as perspectivas indígenas sobre a história e as próprias historicidades indígenas né Eh antes de entrar propriamente na pergunta eu concordo plenamente né assim é negável que essa esse avanço que houve né na na historiografia conseguindo nas últimas décadas evidenciar essa esse protagonismo
indígena na história passa a tornar possível a construções inclusive no âmbito da da academia e do ensino de história né que eu acho é ainda mais afiador né de outras representações sobre os povos indígenas né então os avanços que que foram mencionados né pelo menos eu procurei mencionar é bom que a gente enfatize né e eu gostaria de enfatizar não são avanços pequenos né quando a gente pensa na historiografia que vem de outros períodos históricos são avanços muito significativos né E realmente Esse aumento né das pesquisas né Essa ampliação de olhar relacionada a esse essa
presença indígena na escritória não é só quantitativo é qualitativo também né então a gente tem hoje pesquisas muito boas né E que tem proporcionado aí um avanço muito positivo na construção né de um outro tipo de ensino e as nossas universidades né já são um exemplo disso também né quem tá se graduando hoje em História né em boa parte eu acredito das Universidades do Brasil já tem acesso a disciplinas que se dedicam né Mais especificamente a pensar a história indígena do Brasil muito embora ainda haja muito a fazer né Eu penso que essa eh esse
questionamento do John Monteiro ele é muito pertinente para nos inquietar sobre o que ainda há por fazer né para que a gente também não se acomode nos avanços que nos trouxeram até aqui né que tornaram possível um canal como esse que atinge tem a possibilidade de atingir tantas pessoas né através da internet discutindo esse tipo de temática né eu acredito não não tenho né a a pretensão desse momento e nem sei se vou conseguir chegar a esse ponto né de ter uma resposta fechada para essa pergunta mas eu acredito sim que há uma história é
possível falar em uma história propriamente indígena desde que a gente esteja orientado pelo que a professora Alessandra seisl né chama de equívocos né porque os os conceitos né aquilo que a gente entende como história e a nossa própria percepção sobre o tempo não necessariamente vão coincidir os trabalhos né muitos dos trabalhos que ela menciona inclusive né como do do do professor Nav e outros né apontam para isso para percepções diferentes relacionadas ao tempo e sobre a própria percepção de história né que a gente poderia falar aí de de histórias múltiplas né ou de outros outros
conceitos né então se a gente levar a sério essa ideia dos equívocos né E que os conceitos eles não necessariamente aí são dotados de conteúdos idênticos a gente tem sim a possibilidade de pensar uma história propriamente indígena agora se for no sentido de nós buscarmos né um fazer caber nos nossos termos né de história as nossas noções de tempo eh essas historicidades indígenas aí eu eh não acredito ser possível né eh pensar nessa história propriamente indígena né Eh no sentido de contu ição eu penso que acessar essas outras historicidades e avançar num conhecimento né em
relação a essas epistemologias não substitui o o conhecimento e eu acho que a as iniciativas nesse sentido também né não não tem essa pretensão de de substituir ou de eh propor um metodologia ou conteúdos que sejam superiores né Ao que se entende como história indígena e o fazer historiográfico né em relação às reflexões sobre essa presença indígena na história mas que elas eh pesquisas dentro dessa outra perspectiva tem um potencial muito grande de complementar né de enriquecer o que a gente pode extrair Inclusive das fontes né então eu penso muito nesse sentido certo eh acho
que que a a professora Valéria já já já falou coisas assim muito contundentes e interessantes mas eu concordo assim é uma uma pergunta difícil de responder porque tem um um capítulo do do livro seres terra da Marissol de la Cadena que acho que é o capítulo mais interessante do livro que se chama o arquivo de Mariano e aí nesse capítulo ela vai explorar a questão de como o arquivo de um dos colaboradores indígenas dela que era o Mariano ele era um arquivo muito complexo porque na realidade o Mariano ele tinha como parte desse arquivo recortes
de jornais revistas Mas ele também incluía dentro desse arquivo eh arquivo histórico acontecimentos que nós historiadores consideramos a históricos Ou seja que excedem os limites dessa história porque eram eh acontecimentos que cujas evidências não podiam ser registradas por escrito ou os eventos não deixavam evidências físicas e que poderiam ser provadas né em termos de de existência E aí ela debate eh todo esse esse conceito moderno de de história e Esse regime epistêmico da da História Moderna ocidental e demonstra como que você vai ampliar o conceito de arquivo histórico se as evidências precisam ser materiais físicas
estar em documentos escritos ou enfim hoje a a oralidade já tá mais presente mas enfim ela ela mostra como a própria história cancela esse potencial de criação de mundos né e sobretudo a partir de de de algo que que eu acho que é muito presente na na História Moderna ocidental e que algo que obviamente vem sendo desconstruído mas que ainda existem muitas barreiras para que isso seja rompido que é essa divisão natureza eh humanidade natureza natureza cultura Então quando você você coloca isso eh van essa questão de como pensar eh também a perspectiva indígena da
da história eu acho que que o que é mais necessário é romper com essa percepção hegemônica de de História porque sem essa ruptura ao meu ver impossível compreender a performance de de as performances de mundo indígena agora como como fazer isso isso é complexo né E aí a gente tava conversando do trabalho da Bruna eu acho eh é porque é é difícil falar sobre isso assim mas é que eu acho que romper com essa concepção de história também requer é um q de uma história especulativa de uma história que que flerta com muitas hipóteses e
que são hipóteses que não necessariamente eh tem evidências concretas que estão num documento e eu não sei até que ponto os historiadores Estão dispostos a lidar com isso assim porque tem coisas que que não podem ser comprovadas Tem coisas que não não são concretas né então quando a a Marissol tá falando que o o Mariano esse colabor ador eh indígena dela fala sobre o poder da de al sangat da montanha Como que você vai comprovar isso fisicamente né então ele ele coloca dá um protagonismo ao sangat que enfim se a gente trabalhar com essa divisão
natureza cultura a gente não não concebe isso né seria eh isso requer uma visão de história completamente não antropocêntrica enfim e aí Eh sobre os eu acho que tem muitas evidências disso assim um projeto como eu falei né o próprio conceito de intelectual indígena ele ele flerta com esse com essa problemática mas outro dia eu tava participando de uma banca E aí era uma banca sobre os mapu até do Professor Eduardo neuman o o nome do do Mestrando é Lucas de Lucas Samuel para dar o para dar os créditos a ele e o nome da
dissertação dele é Neu mapu análise da relação entre cultura escrita e oralidade mapu do período colonial a conquista do almap então uma uma dissertação orientada pelo Professor Eduardo nean e lá pelas tantas no último capítulo ele escreve sobre um eu acho isso muito muito interessante porque ele escreve sobre um sobre um antropólogo que compilou textos mapu e no século XX chamado leman e ele o que que esse antropólogo fez ele eh Ele conversou com muitas lideranças mapu depois do processo de de tomada dos territórios no no Chile e aí ele começou a catalogar essas Essas
entrevistas orais que ele fazia e ele criou uma divisão assim pro livro conto história relato e etc e aí ele ele entrevista uma liderança maputi chamada nap e ele o nap conta se eu não me engano a história de um tigre alguma coisa assim que que teria a ver com a mitologia mitologia mapu na visão do do antropólogo leem manite E aí o Nael depois que vê o livro fala assim não isso que você catalogou como conto na verdade é história não é conto não é mito Isso é história e aí eu acho que isso
isso mostra né Essa essa essas fronteiras assim que que existem ainda e e esses limites que a história precisa ultrapassar não que isso não não esteja sendo feito porque eu acho que tem Muitos historiadores que já estão trazendo essa problemática mas é isso que a gente percebe no projeto assim quando a gente entrevista cindre que é uma tecelan waju lá do da península de laguar rira e ela conta o o mito da da aranha tecelã dá para perceber eh que esse mito não é um mito no sentido de algo descolado de uma performance de mundo
de uma realidade mas é algo que tem a ver com a própria história concepção de história e concepção de tempo o aju então não sei assim eu acho que que o o que falta é eh é ampliar esse conceito do que seria um um arquivo eh do que eh não negar as análises canônicas mas eu acho que também permitir né Eh especular um pouco porque a Cosmo hisória a grande crítica que que se faz a ela e óbvio que essa Perspectiva da história com a qual eu trabalho ela é muito criticada por Muitos historiadores porque
ela é uma história meio especulativa né Ela é uma história assim que flerta com muito hipóteses e e enfim que são vistas às vezes como como eu disse também na minha fala para me defender um pouco como românticas essencialistas e e etc mas eu acho que que que é uma história também que que traz um que de imaginação e como o como gente esqueci o nome do do do antropólogo mas daqui a pouco eu lembro mas ah o Renato stutman como ele traz assim é uma imaginação que não é desvinculada da realidade não é uma
coisa negacionista nem nada disso é uma imaginação que flerta com outras interpretações históricas possíveis então assim eu acho que a gente tá nesse momento de abertura para para esse tipo de interpretação histórica assim e e não sei sabe eu acho que precisa ampliar um pouco esse conceito de de arquivo e e do que que pode ser efetivamente uma evidência histórica um pouco assim assim que eu vejo certo obrigada Valéria e Alessandra pelas pelas respostas de vocês eu gostaria de trazer aqui dois questionamentos duas falas do chat que eu vi até agora uma é da Jamile
Oliveira e a outra é da Pâmela Sul a Jamile eh e aí a a frara e a Laí podem nos ajudar jogando a pergunta aqui eh na tela também a Jamile diz assim eh gostaria que falassem um pouco mais sobre o nosso papel enquanto historiadores historiadoras como Aliados das lutas indígenas contemporâneas como a produção do conhecimento histórico e esse deslocamento de objetos de pesquisa a sujeitos de conhecimento produtor de epistemologias e teorias da história como é que isso pode contribuir para uma outra história outra entre aspas uma outra história indígena no Brasil diz a a
Jamile Oliveira depois ela cimenta do Brasil e da América e a outra questão é da pâm a Pâmela pergunta PR professora Alessandra como o conceito de tempo histórico aparece nas entrevistas isso será explorado em pesquisas futuras então passo a palavra aí pras nossas interromper S um Pou um Claro tem mais um colega aí no chat que é o Paulo Neto que fez uma pergunta poderia fazer um bloco de três tá logo depois da pergunta seria interessante 37 É verdade e olha ainda ficou mais uma ali da Jamile que é essa que tá perto da pergunta
do Paulo Neto eh bom mas aí acho que a gente deixa a Jamile com as com aquelas por questão de tempo viu Jamile eh e passa para do Paulo Neto que é amigos indígenas falam sobre como o ataque as suas autoafirmações estão ligadas à quebra da expectativa do que é o ind definições sobre o que é história indígena podem atrapalhar a autoafirmação deles acho que as duas professoras podem comentar essa do do Paulo Neto eu acho que a professora possa comear porque alumas perunas são pesquisa dela E aí eu termino pode ser pode Claro eh
sobre a a a pergunta da da Pâmela então assim nessa nessas duas como eu falei né as duas primeiras temporadas a primeira foi sobre antropoceno e a gente trabalhou muito eh essa relação do que que é mito e do que que é história eh pro pros povos indígenas e como os povos indígenas poderiam contribuir para novas condições de estabilidade do planeta e etc a gente não não teve muito como foco a questão do do tempo histórico embora isso apareça bastante assim na nas falas né tanto na segunda temporada que teve como foco a questão do
que é ser indígena que aí eu acho que que se junta um pouco com a pergunta do do Paulo Então nem nenhuma Temporada foi voltada pra questão do tempo histórico acho que a terceira como eu falei essa temporada de essa terceira Temporada que a gente vai gravar esse ano ela vai est voltada mais pro campo da história e talvez isso apareça com mais força Mas a gente sempre percebe ali eh nas falas tanto quanto tanto quanto quando eles estão falando sobre a questão da preservação dos territórios e a questão eh da crise climática no caso
da primeira temporada do que é ser indígena na segunda temporada Acho que sempre aparece assim eh indiretamente a questão de uma outra da possibilidade de se pensar o tempo his tórico de uma outra forma né Muito ligado como eu falei eu acho que é dois elementos a questão da ancestralidade eh e a questão da localidade então isso apareceu bastante assim na nas duas primeiras temporadas e no YouTube Eu acho que dá para filtrar pelo pelas perguntas que a gente faz nas entrevistas E aí você eh Pamela pode ver as as respostas assim e também um
algo que tocou bastante nesse ponto da temporalidade foi o pós fácil escrito pro pra versão do livro né Eh que a gente que a gente lançou ano passado que se chama vozes de abia Yala perspectivas indígenas sobre presente e futuro do continente americano o pfo escrito pelo Rafael xukuru kiri que se chama por um futuro possível nesse pós fácil ele fala bastante sobre a questão do tempo histórico pro povo xukuru Cariri depois você pode pode dar uma olhada também porque ele vai comentar essa questão da eh de um tempo histórico voltado PR ancestralidade então talvez
Possa possa te te interessar a pergunta da Jamile eu esqueci qual é mas eu vou vou falar do Paulo depois eu eu leio ali de novo mas acho que que é isso né Paulo a gente como eu falei a gente debateu um pouco na segunda temporada esse conceito de identidade indígena e e acho que a conclusão que a gente chegou nessa segunda temporada é que é um conceito assim como intelectual indígena é um conceito bastante disputado então a gente não teve uma um consenso entre os os entre os entrevistados sobre o que é ser eh
indígena né e eu acho que isso é uma tensão dentro do próprio movimento indígena Ah lembrei da pergunta da Jamile que tem a ver com isso né Mas acho que isso é uma uma tensão dentro do próprio movimento indígena essa definição sobre a autoafirmação indígena O que é ser indígena e sobre a história indígena atrapalhar afirmação deles não sei assim eu eu acho que é isso né a história indígena ela também vai flertar com essa definição do que é ser indígena mas acho que a história indígena tá cada vez mais aberto para esses processos de
ressignificação identitária e enfim como alguns antropólogos vão chamar de etnogênese e e a ruptura que nem a própria professora Valéria falou desde o início lá do John Monteiro a ruptura com essa ideia de um indígena original e e uma única forma de ser indígena Então acho que a história indígena hoje em dia na maneira como ela vem sendo conduzida ela não ao meu ver não atrapalha ao se ela bem feita né e feita com ética enfim ela não atrapalharia a autoafirmação indígena e a pergunta da Jamile era sobre movimento indígena eu acho que era né
Eu esqueci era deixa eu eh aqui isso o pessoal tá colocando a ela acho que fica até mais fácil né sim um pô nesse papel é assim eh também eu eu posso falar da da experiência do do projeto eu acho que nós historiadores temos o isso né Eh eu acho que nós historiadores que que levamos que fazemos essa história indígena com ética e com com o compromisso de uma de uma construção de conhecimento simétrico eu acho que a gente tenta a todo momento romper com essa com essa visão de que os indígenas são objetos das
nossas pesquisas e a gente busca transformá-los em sujeitos históricos entretanto não sei se se a a professora Valéria concorda comigo e a professora Vânia e a professora Karina é muito a gente tem muitos limites a isso também né Desde da da questão de de de por exemplo a gente ter falo pelo próprio caso da uerg a gente não dos 50 professores de história nenhum professor é indígena então assim ocupar esses lugares é é importante para paraas pessoas indígenas e isso ainda é uma um um limite dentro do do Meio acadêmico Então acho que por mais
que a gente lute por isso e e que nós façamos projetos e pesquisas que buscam se aproximar do movimento indígena e e das pessoas indígenas e escutar as suas suas demandas suas críticas e trazê-las para para junto de nós ao fim e ao cabo que eu acabei percebendo é que eu sou a entrevistadora e eles são os entrevistados eu sou a coordenadora do projeto de extensão eu tô no cargo de uma professora Universitária e muitas vezes eh Eles não estão não que isso não esteja mudando né não que isso não esteja sendo reconstruído mas Óbvio
que eu acho que essa reconstrução ela ela demora muito muito tempo então o que eu sinto posso falar da minha experiência e da experiência do projeto é que a gente vem tentando desconstruir isso mas a gente também eu não vou ser Leviana e falar que essa desconstrução já está completamente realizada eu acho que é uma luta e uma uma percepção muito cotidiana né de como se aliar a esses a esses grupos indígenas e escutar suas demandas aí só um um um último comentário no cas da werge não sei se quem tá assistindo conhece mas nós
estamos do lado de uma aldeia urbana que é a aldeia Maracanã né do lado da uer a gente tem a aldeia Maracanã que é um espaço importantíssimo de resistência indígena Na verdade tem a aldeia Maracanã ali do lado do estádio tem Aldeia uma outra uma outra uma uma uma aldeia também que fica no bairro do Estácio que é a aldeia vertical e o que eu falo pros meus alunos é sempre isso tem o alunos pesquisando e e interessados em estudar a história da Aldeia Maracanã da desocupação indígena e etc e o que eu falo para
eles é é isso né Não adianta você estudar essa história e não participar dessa resistência indígena conversar com esses indígenas e enfim se enterar das suas lutas e saber qual é a melhor forma de de de participar dele senão a gente recebe o comentário aqui o o cacique urutal o José Guajajara fala para mim sempre que eu vou lá ele sempre diz assim vocês historiadores são muito safados vocês vêm aqui entrevistam a gente S hem não voltam mais e ele sempre fala ele sempre fala isso pr pra gente assim Ele sempre reclama disso então acho
que é uma coisa que a gente tem que est um pouco atento Então vou tentar ser breve né na nas minhas considerações eu acho que a a professora Alessandra já trouxe eh contribuições muito boas né paraa gente pensar as questões que foram feitas e E aí falando de maneira mais eh sintética Jamile eu penso que o papel dos historiadores né n das historiadoras nas lutas indígenas né para contribuir com as lutas indígenas é bem importante né é importante justamente tendo em vista todas as limitações que a professora Alessandra seisl coloca né Mas se a gente
pensar historicamente mesmo no contexto das conquistas da Constituição de 88 né Eh conseguir visibilizar essa historicidade dos povos indígenas né no Brasil e e também tornar mais sível e visível esse protagonismo né é algo que tem eh contribuído para essa visibilidade hoje em alguma medida também dos dos intelectuais indígenas eu acredito né e paraa conquista de direitos né a gente pode pensar por exemplo no no caso das demarcações de terras indígenas da própria construção dos laudos né que precisam ser feitos a partir também de aspectos históricos né então eu acho que em vários sentidos essa
atuação de eh de historiadores né a construção de uma historiografia comprometida né com com essa história indígena pode contribuir acho que tem contribuído e pode contribuir a em seguir contribuindo com as lutas indígenas né é claro que a gente pode ir caminhando né por por por uma ampliação desse diálogo e eu penso que as nossas reflexões hoje elas buscaram mostrar um pouco isso também né aquilo que a gente pode avançar para tentar contribuir mais e melhor né Mesmo sem apresentar respostas definitivas e eu acho que as respostas definitivas elas não existem né efetivamente Até mesmo
porque elas são construídas também dentro de contextos históricos né mas o nosso papel é esse né Eu acredito muito nisso E aí o Paulo pergunta um pouco nesse sentido né dessa definição essa definição de história né E a sua relação com as autoafirmações E aí Paulo eu penso que autoafirmações elas também estão em constante processo de construção né de acordo com esses contextos históricos em que esses eh e que são contextos históricos políticos tão múltiplos né em que Esses povos tão inseridos e que aí essa resposta vai ser relativa né Eu acho que ela vai
depender justamente de como a professora Alessandra coloca da nossa capacidade de dialogar mais ou menos nos também com o que os povos indígenas Estão dizendo né Eu acho que os enquadramentos e as cristalizações de conceitos categorias metodologias elas são sempre fatores limitantes nesse sentido né mas eu creio sim que é possível a gente contribuir né nesse sentido Então é isso eu agradeço pela as perguntas bom eu eu também vou agradecê-las muito pelas falas pelas reflexões junto com a professora Vânia eh agradecer imensamente vocês eh anotei muitas coisas aprendi bastante anotei o nome inclusive de alguns
intelectuais indígenas que eu não conhecia né porque acho que faz parte do que muitas pessoas e gostei das palavras da professora Vânia eh do que eh Talvez hoje seja mais uma rúbrica né do que uma do que eh outras coisas com aspirações maiores né história indígena né também é uma uma rúbrica mas eu aprendi bastante aqui eh e eu acho que como eu ia dizendo tem ajudado na história indígena prestar atenção em conceitos cunhados eh desenvolvidos né refletidos Por autores indígenas eu queria fazer um eh dentre muitos aqui só um comentário que Alessandra e Valéria
podem comentar ou não a gente pode deixar para uma próxima também né mas é o seguinte eh sobre os equívocos eh eu fico refletindo aqui pensando que eh sobre os papéis das Artes eh dos conhecimentos eh e dos Pensamentos indígenas para construção de uma chamada intelectualidade talvez ela eh eh não tenha sido reconhecida né talvez Assim muitos já tenha se utilizado desse desse conhecimento desses pensamentos e dessas Artes indígenas talvez a imaginação do outro é que esteja deslocada né ao não reconhecer historicamente os papéis de intelectuais indígenas aí eu tava assim como exemplo né apenas
como um exemplo que me passou pela cabeça agora para ilustrar o que eu tava pensando eh Outro dia eu tava lendo um manual que foi eh escrito na primeira metade do século X eh por vocês já devem ter ouvido falar deles pelo William piso e pelo Jorge magrave né era História Natural Brasilia eh e nesse livro né do século X eh ele era fruto principalmente do diálogo com o conhecimento indígena né onde esses dois cientistas eh do 600 ensinavam várias coisas para outras pessoas ensinavam conhecimentos indígenas para outras pessoas olha como é que os indígenas
coletam o mel né eh olha como é que os indígenas dosam eh o veneno como remédio então assim e muito se fez né à custas desse conhecimento e isso colaborou para intelectualidad em níveis e lugares diversos né Como por exemplo o mundo da saúde no século X então assim talvez isso não tenha sido eh reconhecido né talvez a imaginação de quem estivesse lendo as fontes históricas estivesse um pouco deslocadas a ponto de não reconhecer aí esse esse esse conhecimento indígena e sobre eh o significado de intelectual como um alguém que tem uma responsabilidade permanente consigo
e com com os seus né com o seu povo como a Ilton kenac né citado por Valéria Melo disse eh eu queria lembrar também que um intelectual que é uma referência importante né para para aqueles que pensam em história social e intelectualidade orgânica que é grish também citado por por Valéria eh grams estava em condições assim contextos bastante assimétricos né quando pensou sobre intelectualidade orgânica durante a a primeira guerra mundial então fiquei pensando essas essas coisas que eu acho que eh a gente poderia conversar eh debater sobre isso né em outros momentos aqui no canal
mesmo e não sei se vocês querem comentar mas e a a minha palavra aqui finalizando e passando paraa professora Vânia para vocês também se vocês tiverem mais algum comentário é agradecê-las imensamente por compartilhar o o aprendizado bom de minha parte só agradecimentos né muita gratidão mesmo pela Alessandra tá aqui pela Valéria estar aqui né disponibilizar o tempo para apresentar os trabalhos seus pontos de vista né Acho que são temas complexos né Eh eu acho que realmente existe um cânone na academia sobre o que que é história o que que é historiografia o que que é
fonte o que que é mito né E aí esse diálogo é sempre muito interessante né então eu acho que aí fica já o convite aí pra gente continuar essa conversa mais para frente né mas agradecer muito a Karina e as meninas por receber aqui o nosso debate né no canal eh osos povos indígenas da história Então é isso bom eu agradeço também imensamente posso só dizer que fico eu me sinto né privilegiada de est nesse espaço que eu respeito bastante né como um lugar de de produção de de conhecimento de debates de estar né acompanhada
Como já disse da professora Vânia da professora Carina da professora Alessandra e Fico muito grata por todos aqueles também né que dedicaram esse tempo aqui para para pensar junto conosco né mesmo que que não se manifestando ou entrando diretamente no diálogo mas participando de de outras maneiras né Eh desse debate E aí só para fechar eu achei super interessante as colocações que a professora Karina traz também né para para costurar aí algumas da das colocações que foram feitas e de Fato né a gente tem também a construção do que a gente entende e respeita né
como conhecimento científico né como intelectualidade construída historicamente sobre também conhecimentos indígenas né E aí eu eu penso que um dos nossos desafios e daí eu penso a importância da Ampliação de debates né como esse que a professora Alessandra faz né tem feito no partir do projeto dela de realmente eh tornar esses conhecimentos indígenas mais despidos dos estereótipos né e da romantização da diminuição que historicamente foi relegadas a eles né E aí a gente tem inclusive uma uma ah construção binária né dualidades Para diferenciá-lo né Sempre do conhecimento acadêmico né mas não é uma diferenciação que
que busca né muitas vezes colocar em evidência eh simetrias né mas é uma diferenciação que vê a diferença como inferioridade né então eu acho que a gente precisa justamente discutir mais sobre isso né para assim como temse feito na historiografia de tirar os povos indígenas de buscar desconstruir essa percepção dos povos indígenas né de passivos sujeitos passivos como agentes né sujeitos históricos também poder desconstruir essa percepção dos conheciment os indígenas das epistemologias indígenas como conhecimentos menores né e colocá-las em um outro lugar né no lugar que elas merecem estar que é numa composição simétrica eí
com o conhecimento acadêmico né então é isso obrigada mais uma vez bom vou também Agradecer o convite da professora Vânia da professora Karina eh parabenizar a também o todas as pessoas que estão envolvidas no GT todas as pessoas agradecer as pessoas que estavam assistindo foi um prazer professora Valéria conhecer seu trabalho também trabalho que eu acho que é essencial hoje em dia no campo da da história e e é isso assim só um pequeno comentário sobre o que a a professora Carina falou dos equívocos eh eu deixo uma uma sugestão de leitura Mário Blazer acabou
de lançar um livro chamado eh incomum um ensaio de Ontologia política para o fim do mundo que tá disponível gratuitamente no academia Edu dele e é um livro que eu acho que é muito importante para quem enfim se preocupa com debate sobre o o antropoceno e sobre também as relações entre antropologia história e política porque ao fim e ao cabo o argumento dele é relativo a essa falência da hegemonia da política usual eu acho que ele vem apontando para como essa política razoável essa política que vem sendo praticada pelos estados nacionais ela vem sofrendo alguns
abalos mesmo que seja no campo do micro porque às vezes a gente pensa no campo do Macro e a gente vê não vê uma perspectiva de mudança mas aí ele aponta para como eh prof professora Carina esses equívocos eles vêm acontecendo no campo do menor né E como esses diálogos entre entre mundos vem gerando eh descensos e vem e vem gerando eh possibilidades do que ele vai chamar de de um fazer de um incomun né de uma ideia de múltiplos mundos que estão aí em convivência a ideia de um pluriverso ele traz alguns exemplos bem
bem interessantes desses equívocos e de como essa política hegemônica ela vem sofrendo alguns abalos assim então acho que ele também traz uma perspectiva de futuro pra gente mesmo que a gente saiba que esse futuro tá muito distante esse incomum está presente aqui no no nosso na nossa crise aí do do antropoceno e e etc e no mais deixar o convite para quem quiser participar do projeto assistir as entrevistas colaborar com o projeto é um projeto aberto e quem tiver interesse só entrar em contato com a gente e enfim todos são muito bem-vindos obrigada e até
a próxima
Related Videos
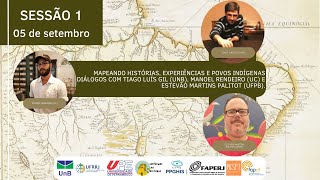
2:19:06
Mapeando histórias, experiências e povos i...
GT Povos Indígenas na História
571 views

2:32:26
Território, diplomacia e lealdades indígen...
GT Povos Indígenas na História
255 views

52:42
MOTOBOY na Logística: Desafios, Vantagens ...
LogisticaTalks
48 views
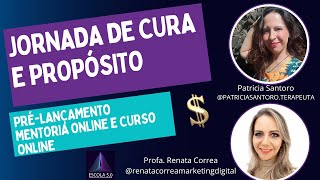
39:56
Jornada de Cura e Propósito
Profa Renata Correa Empreender no Digital
11 views

17:29
Ovid Cursos | Seleção dos projetos de impl...
Sessões Ovid
No views

28:45
O que encontraram na propriedade de John W...
Rostos familiares
4,393 views

1:11:07
Sbcert Talks | Plano de Manejo Orgânico co...
Sbcert
34 views

10:04
Sustentabilidade em Eventos: Uma estratégi...
Químea
39 views

48:50
INFLAMAÇÃO: O inimigo invisível da sua saú...
Jociane Catafesta
72 views
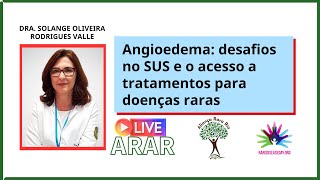
1:10:12
Live ARAR - Angioedema: desafios no SUS 3 ...
Alessandra Farmale (Farmale)
171 views
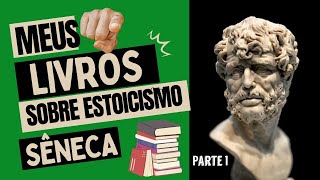
29:29
Meus Livros Sobre Estoicismo - Parte 1 - S...
Ludy Pereira - MINHAS LEITURAS
34 views

18:52
ESPAÇO UNOESC VIDEIRA - Julia Silva, Gradu...
Unoesc Fm
12 views
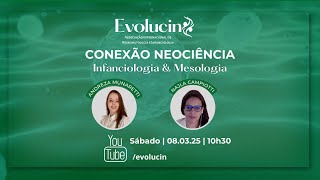
1:06:21
Live Conexão Neociência - Infanciologia & ...
Evolucin
110 views

24:58
Ciência, Tecnologia e Sociedade - Fevereir...
Ciência Tecnologia e Sociedade - Ânima Educação
875 views
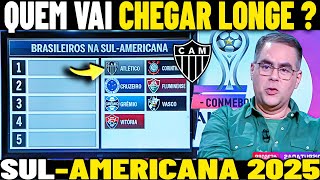
18:35
OLHA O QUE FALARAM DO GALÃO ! BRASILEIROS ...
Atleticano React
7,647 views

1:04:50
Kepha Talks #3
Kepha Venture Builder
58 views

1:30:36
1ª Live Especialistas em Licitações e Cont...
ABADES
3 views

12:10
RODRIGO SILVA DESMENTE MITO SOBRE A FILOSOFIA
RivoNews
259 views

23:07
O novo exército de robôs dos EUA chocou Uc...
Uma Nova Realidade
11,683 views

59:19
#85 Cultura organizacional e seus aspectos...
Instituto MIR
29 views