Unknown
0 views48796 WordsCopy TextShare
Unknown
Video Transcript:
[Música] Um [Música] [Música] Fala, rapaziada! Aqui é o Almeida. Nós vamos fazer aqui a revisão, entre aspas, de véspera do TJ de Rondônia. A gente tem muito conteúdo para trazer aqui. Eu vou tentar fazer uma revisão numa pegada mais focada no conteúdo. Eu sei que tem gente que gosta: "Ah, professor, queria fazer com questões do Instituto Consulplan e tal". Mas eu gosto de trabalhar as questões ao longo da sua preparação e eu espero que você tenha resolvido centenas, dezenas de questões, tá? Porque eu fico assustado quando chega alguém e diz: "Ah, mas eu só
aprendo quando houver a resolução de questões". Aí eu penso: "Você não resolveu questões na sua preparação? Tem alguma coisa de errado aí", tá? Mas aqui, nessa última pegada, eu gosto de trazer o conteúdo pra gente conseguir avançar. Vai ter que ser bem direto ao ponto porque tem muito conteúdo pra gente abordar. Eu vou trazer a base e, às vezes, vou arriscar um pouquinho mais em algumas profundidades, tá bom? Bora lá, então, para o nosso quadro e valendo a nossa revisão! Pessoal, falando de regime jurídico administrativo: regime jurídico administrativo são os princípios administrativos. Aí nós temos
os princípios expressos. Quando a gente fala de expressos, são expressos na Constituição Federal, o nosso famosíssimo LIMP: de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade significa que a administração pública só pode fazer o que a lei determina. Ah, lembrando que existe um paralelo entre a legalidade administrativa, que é o da administração, que só faz o que a lei determina e autoriza, e a legalidade do particular, que é chamada de autonomia da vontade. Tá? Autonomia da vontade é direcionada ao particular, que pode fazer tudo o que a lei não proibir. Por isso que o inciso
II do artigo 5º da Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. O princípio da impessoalidade diz que a administração pública deve buscar alcançar a finalidade. Quando a gente fala de finalidade, nós estamos falando do interesse público. Toda a atuação do Estado deve satisfazer ao interesse público. Ele também tem relação com a isonomia, uma vez que você não pode prejudicar ou favorecer alguém indevidamente. Já o princípio da moralidade trata da conduta ética e da conduta honesta por parte dos agentes e também por parte das pessoas que se relacionam com
a administração pública. Finalidade, desculpa, impessoalidade e moralidade, ambos têm relação com a vedação ao nepotismo, que é aquela história de você nomear parentes para ocupar cargos de comissão e função de confiança. Os dois também têm relação com a vedação à promoção pessoal de autoridades públicas, principalmente a impessoalidade. Então, a publicidade oficial tem que ter caráter informativo, educativo e de orientação social, e dela não deve constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou agentes públicos, tá? O princípio da publicidade trata da transparência. E aí a gente lembra que hoje existe a
tal da transparência ativa, que é aquela que depende de solicitação, por meio da divulgação em Portal da Transparência, de informações de interesse geral. Também tem a transparência passiva, que é quando você solicita informações. Esse princípio não é absoluto porque existem hipóteses de sigilo. Quando que existe o sigilo? Quando imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Então, alguma informação, por exemplo, do desenvolvimento de algum armamento, algo do tipo, seria imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aí esse tipo de informação não seria divulgada e seria protegida pelo sigilo. O princípio da eficiência trata
da busca por resultados e qualidade. Lembrando que hoje esse princípio aqui ganha um pouco mais de importância, primeiro porque ele foi inserido na Constituição somente pela Emenda 19 de 98, então ele não constava no texto original da Constituição da República. Segundo que, recentemente, o STF emitiu uma decisão dizendo que não é mais obrigatório o regime jurídico único para os agentes públicos da administração direta, autárquica e fundacional. Veja que a emenda constitucional que fez isso é a mesma emenda constitucional que acrescentou o princípio da eficiência na Constituição da República. Falando dos princípios implícitos, nós temos a
supremacia, que trata dos poderes especiais que a administração pública possui, como as cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, e o princípio da indisponibilidade, que trata das limitações e das restrições que o poder público se submete. O princípio da autotutela diz que a administração pública pode rever os seus próprios atos administrativos e, consequentemente, pode anular aqueles atos ilegais, ou seja, praticados em desconformidade com a lei, ou ainda revogar os atos inconvenientes e inoportunos, que são atos válidos, mas que deixam de atender ao interesse público. O princípio da segurança jurídica trata da estabilidade das relações jurídicas, a ideia
de você poder ter uma previsibilidade de não ter comportamentos contraditórios e de não ofender a boa-fé do particular. Ele também tem o seu desdobramento que a gente chama de proteção à confiança ou confiança legítima, que quer dizer que, se o particular não der causa à ilegalidade, ele não pode ser prejudicado por isso. Então, por exemplo, um agente que teve um problema na sua investidora pratica um ato administrativo concedendo uma licença para construir. O dono do imóvel que vai ser construído fez tudo o que a lei pediu: pagou as taxas, seguiu o plano diretor, elaborou os
projetos, fez tudo o que tinha que fazer. Daqui a alguns meses, a administração desfaz a contratação desse agente público porque houve ilegalidade na sua investidora. Os atos praticados por esse agente vão ser considerados válidos perante os terceiros de boa-fé; no caso, o dono do imóvel não deu causa a essa contratação irregular, então ele não pode ser prejudicado por essa medida. O princípio da continuidade significa que os serviços públicos, em regra, não devem ser interrompidos. E razoabilidade e proporcionalidade tratam da vedação aos excessos sobre o conceito de administração pública. Nós... Podemos ver a administração pública no
sentido funcional e no sentido orgânico. Funcional vem de função, de matéria, de conteúdo, objeto de respeito ao que é desempenhado pelo Estado. Nesse caso, a administração pública corresponde ao exercício da função administrativa, e a função administrativa se subdivide em quatro tarefas: o serviço público, o poder de polícia, o fomento e a intervenção do Estado. O serviço público são essas prestações que o Estado faz, por exemplo: transporte coletivo, distribuição de água potável, coleta de lixo. Poder de polícia são as fiscalizações e controles, limitações que o Estado faz, limitando o interesse individual em prol do coletivo. Fomento
é a atividade de incentivo, como, por exemplo, a parceria com uma organização social, e a intervenção são essas atividades em que o Estado pode intervir na economia ou ainda intervir na propriedade, com desapropriações, entre outras medidas. Já no sentido orgânico, "orgânico" vem de órgão. "Subjetivo" vem de sujeito e "formal" é porque o conceito de administração pública no Brasil é o conceito formal. Aqui, esse conceito diz respeito às pessoas que exercem atividade estatal: pessoas jurídicas, órgãos e agentes. E aí a administração pública se subdivide em administração direta e administração pública indireta. Ainda sobre a organização da
administração, nós temos a desconcentração, que é quando você dá origem aos órgãos públicos. Por isso que tem aquele "o" ali. A desconcentração diz respeito aos órgãos públicos e diz respeito a um centro de competência, sem personalidade jurídica própria. Então, esse fenômeno acontece na mesma pessoa jurídica, numa única pessoa jurídica, e por isso tem hierarquia e subordinação. A descentralização tem um ente (esse "NT") de entidades. Entidades são unidades de atuação que possuem a personalidade jurídica própria. Como esse fenômeno é um fenômeno externo, porque envolve pessoas diferentes, é um fenômeno sem hierarquia. Sempre que houver descentralização, não
haverá hierarquia. A descentralização pode ser uma descentralização política, e essa descentralização política quem faz é a Constituição Federal. Quando a constituição atribui competências aos Estados, ao Distrito Federal e também aos municípios, existe ainda a tal da descentralização administrativa. Essa descentralização aqui ainda se subdivide em duas grandes categorias. A primeira é a descentralização por serviços, que depende de lei para criar ou autorizar a criação da entidade, e a descentralização por delegação, também chamada de por colaboração, que precisa de um contrato, de um ato administrativo. A descentralização por serviços dá origem à nossa administração pública indireta, criando
entidades que serão titulares do serviço. Na delegação, você delega para um particular já existente, delegando apenas a execução do serviço. Lembrando que, entre a administração direta e a indireta, existe o que nós conhecemos como vinculação. Então, não tem hierarquia, mas tem vinculação. Sobre as entidades administrativas, nós temos as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. A autarquia, criada diretamente por lei, possui natureza jurídica de direito público, pode exercer as atividades típicas ou exclusivas de Estado, e o regime de responsabilidade civil é objetiva. Em regra, o regime de pessoal é estatutário. As fundações
públicas são de direito público, porque fundação pública pode ser de direito público ou de direito privado. A de direito público terá as mesmas características da fundação pública da autarquia, com as mesmas características da autarquia. Então, é tudo igual. Também pode exercer atividades típicas, responsabilidade objetiva e regime de pessoal, em regra, o estatutário. Existem também as fundações públicas de direito privado, que a gente já vai falar sobre elas. Mas o que eu quero destacar aqui é que recentemente o STF tomou uma decisão dizendo que não é mais obrigatório o regime jurídico único para a administração direta,
autárquica e fundacional. Então, essa história de estatutário, aqui, ainda que seja uma regra, tende a cair com o tempo, tá? Porque agora você não precisa mais adotar necessariamente o regime estatutário para essas entidades. Já a fundação pública de direito privado, a lei autoriza a criação, mas a efetiva criação depende do registro do ato constitutivo. Elas exercem atividade de interesse social e o regime de responsabilidade civil objetiva, né? Independe de dolo ou culpa dos seus agentes. O regime de pessoal é o regime de emprego público da CLT. As empresas estatais, que são as empresas públicas e
as sociedades de economia mista, têm a criação autorizada por lei, mas a efetiva criação vai acontecer por intermédio do registro do ato constitutivo. Vai lá no cartório, registra o ato da entidade. Elas possuem natureza jurídica de direito privado e podem ou explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica; a Caixa Econômica é uma empresa pública que também explora atividade econômica; os Correios são uma empresa pública que presta serviços públicos. Então, a gente tem várias variações possíveis. Se ela for exploradora de
atividade econômica, o regime de responsabilidade civil é subjetivo; se elas forem prestadoras de serviços públicos, a responsabilidade civil é do tipo objetiva. O regime de pessoal é regido pela CLT, o regime de emprego público. Lembrando que a demissão de empregados públicos precisa ser motivada, não precisa de contraditória, ampla defesa num processo disciplinar, não precisa enquadrar em justa causa, mas precisa de motivação. Tá, professor? E qual é a diferença? Quais são as diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista? São essencialmente duas diferenças. A primeira é a composição do capital: na empresa pública,
o capital é 100% público, quer dizer que só um ente da administração pública pode ter ações, pode ter capital de uma empresa pública. Já a sociedade de economia mista admite a mistura, por isso que ela é mista, porque você pode ter tanto capital público como capital privado. O exemplo que a gente coloca é que você consegue comprar ações do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista; você, como particular, consegue ter ações do Banco do Brasil. Mas na Caixa Econômica, que é empresa pública, você não consegue ter. Ações porque só o Estado, só
entidade do poder público, pode ter ações da Caixa. A empresa pública admite qualquer forma jurídica prevista em Direito; pode ser uma ASA, pode ser uma entidade limitada, entre outras. Ao passo que a sociedade de economia mista é uma sociedade, ou seja, ela sempre será uma SA. Essa última diferença aqui eu vou colocar em risco porque ela dificilmente aparece em prova. Essa última diferença só acontece quando nós comparamos entidades federais: empresa pública federal versus sociedade de economia mista também federal. Se for uma empresa estatal dos estados ou dos municípios, essa diferença não acontece. Uma empresa pública
federal tem foro na Justiça Federal, enquanto que uma sociedade de economia mista também federal tem foro lá na Justiça Estadual. Fica de olho nisso aqui porque tem aparecido com alguma frequência em prova. É o que a gente chama de autar das empresas estatais, que é estenderam à empresa estatal um regime jurídico semelhante ao das autarquias. Por exemplo, os Correios têm vários privilégios que, em tese, só uma autarquia deveria ter. Quais são essas características para uma entidade gozar desses benefícios? O STF coloca três requisitos essenciais: que a entidade seja prestadora de serviços públicos, que esse serviço
público seja prestado em um regime não concorrencial e que a entidade não faça distribuição de lucros aos seus acionistas. Essa última característica não aparece em todos os julgados, aí ela fica meio que implícita, mas essas duas primeiras aqui são fundamentais, tá? Por exemplo, o STF admite a delegação do poder de polícia para uma entidade administrativa de direito privado, desde que essa entidade seja prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial. A extensão do regime de precatórios para pagamento dos débitos das dívidas das empresas estatais, em regra, segue um regime comum, mas poderá se aplicar o
regime de precatório se ela atender a esses requisitos. A imunidade tributária recíproca, que quer dizer que um ente não pode cobrar impostos da atividade do outro, se aplica à empresa estatal se ela atender a esses três requisitos que nós vimos acima. Sobre as agências reguladoras: a agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Essa autarquia em regime especial tem uma autonomia, uma liberdade maior quando comparada com outras autarquias, e a sua principal característica é que os seus dirigentes exercem um mandato com prazo fixo. Logo, eles não são livremente exoneráveis. Considerando essa proteção que a legislação
concede a tais dirigentes, sobre os poderes administrativos nós temos o poder discricionário e o vinculado. O discricionário é quando existe uma margem de liberdade; aí a autoridade vai fazer o tal do juízo de mérito, possuindo mais do que uma solução possível para aquele caso, ao passo que o poder vinculado você terá uma única solução possível porque todos os elementos de formação do ato já estarão definidos em lei. O poder hierárquico trata da relação de coordenação e comando que nós possuímos aqui na atuação da administração pública, tá? Deixa eu ver se fica um pouquinho diferente isso
aqui... Hum... Ah, sim! A relação de coordenação de comando em que o superior tem um poder de mando e os subordinados devem cumprir, como regra, essas medidas. O superior pode emitir ordens que são de cumprimento obrigatório, salvo se manifestamente ilegais. Ele pode fiscalizar e revisar a atuação dos subordinados, tanto em relação à legalidade, como também em relação ao mérito. Então, você faz tanto controle de legalidade quanto de conveniência e oportunidade. Pode delegar atribuições, que é quando você atribui a um terceiro o exercício de suas competências; o avocar é atrair para si a competência de um
subordinado. O poder disciplinar trata da possibilidade de se apurar infrações e punir as pessoas sujeitas à sua disciplina interna. Quem é que está sujeito à disciplina interna? Os servidores públicos e os particulares que tenham algum vínculo especial com o Estado. Um exemplo de vínculo especial é a empresa que assina com o Estado um contrato administrativo. A aplicação das sanções dentro da relação contratual decorre do nosso poder disciplinar; se for a aplicação de sanções em geral, nós colocaríamos dentro do poder de polícia. O poder regulamentar é o normativo, editar normas, os tais atos gerais e abstratos,
os regulamentos. E lembrando que, no poder regulamentar, você não pode inovar na ordem jurídica; já no poder dos decretos autônomos, é possível fazer essa inovação, só que aí o decreto autônomo somente pode ser utilizado nas hipóteses definidas na Constituição. Tem autores que separam regulamentar de normativo; normalmente, isso não cai em prova, mas só para ficar claro: normativo seria um alcance amplo, qualquer competência normativa, e o regulamentar, só o chefe do executivo. Você só vai fazer essa diferença se a questão te pedir. O poder de polícia é o poder do Estado de contário restringir direitos em
prol da coletividade. Lembrando que existe uma diferença entre polícia judiciária, que se insere lá no âmbito penal e quem exerce são os órgãos policiais, e a polícia administrativa, que é uma atividade que vai incidir sobre bens e direitos limitando o exercício dessas atividades em prol da coletividade e que também é realizada por diversos órgãos, inclusive os órgãos policiais. Então, por exemplo, quando uma prefeitura emite um alvará de funcionamento, isso diz respeito ao poder de polícia; agora, quando a polícia civil investiga um crime, isso é a polícia judiciária. E aí nós temos o ciclo do poder
de polícia, que é a ordem, que acontece quando são estabelecidas a legislação; o consentimento, que é a anuência; o controle prévio, como os alvarás; a fiscalização, como a vistoria da vigilância sanitária; e sanção, que é a aplicação de penalidades. Quando a gente fala de delegação do poder de polícia, você pode delegar todas as fases para uma entidade de direito público, como uma autarquia, claro que com limites ali na ordem de polícia, porque a autarquia não vai legislar em sentido estrito. Pode delegar a uma entidade administrativa de direito privado, lembrando que eu não estou falando de
particulares. Quando eu falo "entidade administrativa de direito privado", eu estou falando, por exemplo, de uma empresa estatal, porque ela faz parte da administração pública. Nesse caso, o STF admite a delegação, desde que essa entidade, aqui, seja - desde que a delegação seja feita por meio de lei - a entidade seja integrante da administração pública, como empresa pública ou uma sociedade de economia mista, o capital seja majoritariamente público e a entidade preste exclusivamente serviço público em regime não concorrencial. Aqui, o STF vai admitir a delegação do consentimento, da fiscalização e da sanção. Só não será possível,
nesse caso, a delegação do poder de polícia na fase da ordem de polícia. E, aí, voltando ao slide, falando de abuso de poder: abuso de poder é uma ilegalidade que se subdivide em duas categorias: o excesso de poder e o desvio de poder. O excesso de poder trata de um vício quanto à competência, porque a pessoa agiu fora das suas competências legais, ou seja, poder demais. Nesse caso, o desvio de poder é um vício quanto à finalidade, por isso que ele também é chamado de desvio de finalidade, que é quando você pratica o ato com
a finalidade diferente do interesse público, diferente do que a lei prevê para aquele ato em específico. Sobre os atos administrativos, nós temos os elementos de formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência é o poder legal para você editar o ato, então você é o sujeito competente. Alguns autores, inclusive, chamam de sujeito a competência. A finalidade é atingir, alcançar o interesse público, então todo ato deve alcançar o interesse público. A forma é um meio de exteriorização; é como você apresenta o ato ao mundo externo, como que a gente vê que o ato foi editado.
A sua forma pode ser um decreto, pode ser um edital, pode ser uma resolução; a forma também pode envolver o contraditório e a ampla defesa. O motivo é a causa, enquanto que o objeto é o conteúdo desse ato administrativo. Por sinal, eu coloquei aqui em cores diferentes porque a competência, a finalidade e a forma sempre são vinculados; motivo e objeto podem ser vinculados ou discricionários, conforme o ato seja vinculado ou discricionário, respectivamente. Então, esses são os nossos elementos de formação. Outra coisa que você pode guardar dos elementos é o seguinte: quais são os dois que
são passíveis de convalidação? É o vício de competência e o vício de forma. Esses dois aqui você pode convalidar; todos os demais, se estiverem incorretos, se estiverem viciados, serão insanáveis. Ou seja, a finalidade, o motivo e o objeto são vícios insanáveis. Portanto, você pega essas características aqui para memorizar, tanto que é vinculado ou discricionário quanto que é sanável ou insanável. Os atributos: nós temos a PTE, que vem de presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. É a PTE, aquela mulher cheia de atributos, aquela mulher bonita. Essa é a nossa PTE, né? Só lembra
os atributos da parte. Lembrando que a presunção de legitimidade é uma presunção relativa, porque ela admite prova em contrário. Presunção de legitimidade é da cidade, tá? Eu presumo que o ato foi praticado conforme a lei, que os argumentos utilizados para editá-los são verdadeiros, mas dá para provar que isso está errado. A autoexecutoriedade é a capacidade do Estado de tomar uma decisão e executar essa decisão sem precisar de ordem ou de autorização judicial. Então, você executa sem precisar de ordem ou autorização judicial. Lembrando que alguns autores utilizam outros conceitos. O Bandeira de Melo, por exemplo, utiliza
a expressão "executoriedade e exigibilidade". Qual é a diferença dos dois? A executoriedade é a mesma coisa que autoexecutoriedade, tá? Que é a possibilidade de você fazer o uso de métodos diretos de coação, como o uso da força. Aqui, o Estado faz a medida. Você larga o carro no meio da rua, e o Estado remove se ele estiver em local proibido. Já a exigibilidade, o Estado se utiliza de métodos indiretos de coação; o Estado chega e fala para você: "Ou você tira esse carro daí ou eu vou aplicar uma multa." Você tira o carro? Isso é
uma exigibilidade. Tipicidade é a previsão em lei; todo ato administrativo deve estar previsto em lei. E a imperatividade é a possibilidade que o Estado tem de impor obrigações a terceiros, mesmo que eles não concordem. Eu não quero ser multado, mas se eu fizer algo de errado, eu serei multado mesmo assim. Sobre o desfazimento dos atos administrativos, nós temos a anulação. A anulação opera quando o ato é ilegal, ou seja, viciado, praticado em desconformidade com a lei. Os efeitos são ex tunc. Aí você lembra do tapa na testa: a cabeça vai para trás. Ó, tapa na
testa, a cabeça retroage. E quem pode fazer essa medida é o Poder Judiciário ou a administração pública, já que, como é um controle de legalidade, o Judiciário também pode fazer. Já a revogação é um juízo quanto à conveniência e à oportunidade; é um controle de mérito desse ato administrativo. Nesse caso, os efeitos são ex nunc. Ex nunc vem de "não retroage", é um efeito prospectivo para frente. É o tapa na nuca. Então, ó, tapa na testa, tapa na nuca. O macete é você olhar o seu concorrente, imaginar você fazendo isso na cabeça dele. Porque só
imagine, né? Porque se você bater de verdade, vai dar problema. O tapa na testa, a cabeça dele vai para trás, é retroativo. O tapa na nuca, a cabeça dele vai para frente, é prospectivo. E, como é um controle de mérito, somente a administração pública pode proceder; não pode o Poder Judiciário realizar esse tipo de controle. Eu coloquei aqui também outras formas de desfazimento, como a cassação. A cassação acontece quando você tem o beneficiário descumprindo. Os requisitos, tipo: o alvará de funcionamento foi emitido e, se você descumpre as regras do alvará, ele pode ser cassado. A
caducidade acontece quando vem uma nova lei e essa lei tem efeitos contrários ao ato. Tipo, uma autorização para determinado comércio e vem uma lei que proíbe esse comércio; a contraposição é um novo ato com efeitos contrários ao ato anterior. Você pode pegar esse "T" aqui, ó, e lembrar que é o "T" que contém ato. Na contraposição, você tem um ato subsequente com um efeito contrário ao ato anterior. Assim, eu não gosto desse exemplo, mas como tem autor que utiliza a nomeação e a exoneração: a exoneração se contrapõe à nomeação. A convalidação acontece quando você corrige
o vício do ato administrativo. Você pode convalidar os vícios sanáveis, que é o foco, porque você pode convalidar o vício de forma, desde que não seja essencial e de competência, desde que não seja exclusiva. E a decisão da convalidação também gera efeito retroativo, ex tunc, assim como a anulação, e não pode gerar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Falando agora de agentes públicos, nós temos o regime de cargo, de emprego e de função. Cargo público é uma mais simples indivisível unidade de atuação que é cometida a um servidor público. Então, no cargo público,
nós temos um regime estatutário, que é um regime legal previsto em lei, ao passo que, normalmente, esse tipo de regime nós vamos encontrar nas entidades de direito público. Eu digo "normalmente" porque agora não existe mais a obrigatoriedade de se adotar o regime jurídico único. Portanto, nas entidades de direito público, nós também poderemos ter emprego público. Só que cargo público você vai encontrar apenas nas entidades de direito público; nessas entidades, você também poderá encontrar o regime de emprego público. Esse ponto você tem que guardar. Já o emprego público, só para marcar aqui, é a mais simples
indivisível unidade de atuação que é cometida a um empregado público. O regime do empregado público é um regime da CLT, um regime seletista. Ele não adquire estabilidade, por exemplo, e normalmente nós encontramos esse regime nas entidades de direito privado, mas agora também poderemos encontrar nas entidades de direito público. Já a função pública é um conjunto de atribuições. Normalmente, nós vamos ter em todo cargo e emprego as suas funções, porque todo cargo e emprego tem atribuições. Só que existem algumas funções que são separadas dos cargos ou empregos; são as chamadas funções autônomas. Existem duas funções autônomas:
a função de confiança, que é aquela que só pode ser atribuída ao servidor efetivo; e a função temporária, que serve para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Falando de concurso público, segundo a Constituição Federal, o concurso público é obrigatório para o provimento em cargos e empregos públicos. Então, cargo público e emprego público têm que fazer concurso. O que não faz concurso é o provimento de cargo de provimento em comissão. É claro que existem também outros casos que não têm concurso, mas quando a gente fala assim de cargo público, efetivamente, a exceção é o
cargo de provimento em comissão. Quando nós fazemos concurso público, o concurso pode ter um prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Sobre a acumulação, a Constituição Federal, em regra, veda a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, só que ela traz exceções. Por exemplo, você pode ter acumulação de dois cargos de professor, de um de professor com técnico-científico ou ainda de dois profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Ao longo da Constituição Federal, você também vai encontrar uma série de outras hipóteses de acumulação. Por exemplo, o vereador pode acumular o
seu cargo público se houver compatibilidade de horários. O vereador, por sinal, é o único mandato eletivo que se admite a acumulação; os outros não, não dá para você acumular. Juízes e membros do Poder Judiciário, por exemplo, podem ter um cargo de professor, que é uma função de magistério. Membros do Ministério Público também podem ter um de professor. Tem ainda os policiais, que recentemente houve mudança na Constituição e passou a admitir que eles também fizessem acumulação, desde que se enquadrem nessas hipóteses aqui. E também o militar das Forças Armadas da área da saúde pode ter outro
da área da saúde. Como que a gente adquire a estabilidade? Estabilidade é uma garantia constitucional que protege o servidor público para o exercício das suas atribuições e que acontece quando se tratar de cargo de provimento efetivo, que é aquele que tem concurso público. Consequentemente, a gente já sabe que se não tem concurso público, não tem estabilidade. E se não for cargo público, também não tem estabilidade. Então, empregado público faz concurso e não tem estabilidade, enquanto cargo em comissão não faz concurso, logo não tem estabilidade. São 3 anos de efetivo exercício do cargo e aprovação em
avaliação especial de desempenho. Mesmo sendo estável, você poderá perder o cargo. A Constituição traz três hipóteses: por meio de decisão judicial transitada em julgado, processo administrativo em que se siga ampla defesa e avaliação periódica de desempenho, que deve ser regulamentada por uma lei complementar e também deve ter a concessão do contraditório e da ampla defesa. Na prática, você sempre terá o direito de se defender, seja no processo judicial, seja na via administrativa. Existe ainda o excesso de despesa com pessoal, que, numa hipótese bem restrita na Constituição, também pode ensejar a perda do cargo. Sobre improbidade
administrativa, a lei de improbidade sofreu mudanças significativas; agora nós passamos a ter que ter sempre dolo. Não existe mais ato de improbidade culposo, então tem que ter dolo, e o dolo é o tal do dolo específico, que é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto na lei de improbidade. Quem participa do ato de improbidade pode ter o agente... Público, que é aquele conceito que a lei de improbidade traz no sentido amplo, envolvendo o agente político, o servidor público ou qualquer pessoa que exerça função nas entidades protegidas pela lei de improbidade. Pode
ser até mesmo sem remuneração ou até mesmo de forma transitória. Existe também um outro conceito, que é o que a gente chama de particular equiparado, que é a pessoa física ou jurídica que firma a parceria com o Estado. Em razão dessa parceria, recebe recursos de origem pública. Esses aqui também se submetem à lei de improbidade. Existe o terceiro, que é aquele que não é agente público, mas induz ou concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade. Lembrando que esse terceiro aqui não responde sozinho; ele só vai responder na presença simultânea de um agente público.
Sozinho, ele não pode responder. O terceiro é o diabinho que fica ali no ombro da gente: "Vamos fazer isso, vamos fazer esse negócio errado". Tá, lembrando o seguinte: existe a responsabilidade da lei de improbidade e a responsabilidade da Lei Anticorrupção. Quando se trata de pessoa jurídica, a pessoa jurídica pode responder tanto com base na lei de improbidade quanto na lei anticorrupção. Agora, se a conduta estiver prevista nas duas normas, eu afasto a lei de improbidade e responsabilizo a pessoa jurídica apenas com base na lei anticorrupção. Então não pode acontecer uma dupla responsabilização simultaneamente pela lei
de improbidade e pela lei anticorrupção. As espécies de atos de improbidade são: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e os atos que atentam contra os princípios. Lembrando que, se é ato que atenta contra os princípios, o rol é taxativo; está lá no artigo 11, não pode inventar, enquanto que as hipóteses do artigo 9º e do artigo 10, que são o enriquecimento ilícito e a lesão ao erário, são meramente exemplificativas. Tá, isso é importante pra gente. Eu vou falar uma coisa aqui, mas não vai dar tempo de explicar pra vocês. Recentemente, o STJ adotou uma decisão que
ele chama de continuidade típico-normativa. O que isso quer dizer? Antes da reforma da lei de improbidade, você poderia responder com enquadramento genérico lá no caput do artigo 9, do artigo 10 e do artigo 11. Agora você não pode mais responder se a conduta estiver apenas no caput do artigo 11; tem que estar em um dos seus incisos, porque o rol é taxativo. É um dos incisos que você vai responsabilizar. Se antes da reforma a pessoa foi processada com base no caput do artigo 11 e, agora, depois da reforma, essa conduta que a pessoa estava respondendo
está em um dos seus incisos, a ação pode continuar. Isso acontece, por exemplo, com nepotismo e com a vedação à promoção pessoal. Nepotismo e vedação à promoção pessoal não eram atos de improbidade; agora são, e são atos de improbidade justamente do artigo 11. Então, o que você faz? Como agora dá pra enquadrar nesses dois incisos, continua a ação de improbidade. Isso é chamado de continuidade típico-normativa. Se você não faz ideia do que eu tô falando, só guarda essa expressão: continuidade típico-normativa. Se aparecer na tua prova, você já sabe o que marcar. Senão, não esquece o
que eu estou falando aqui agora, tá? Nepotismo e promoção pessoal são duas condutas novas que são atos que atentam contra os princípios. Prescrição na ação de improbidade: prazo de 8 anos a contar do fato. E existe a prescrição intercorrente que é 4 anos. Em cada instância do Judiciário, cada vez que você tiver uma decisão desfavorável, uma condenação, perder um recurso, se interrompe o prazo prescricional. E aí tem mais 4 anos. Se é condenação, interrompe; se você perde um recurso, interrompe de novo; se você perde um recurso no STJ, interrompe de novo; se você perde no
STF, interrompe de novo. É tal da prescrição intercorrente. A ação de improbidade pode ser proposta pelo Ministério Público, isso está expresso na lei de improbidade, ou pela pessoa jurídica interessada, que é aquela que sofreu o ato de improbidade administrativa. É necessário apresentar a sua declaração de bens, que é a declaração anual de Imposto de Renda, por ocasião da posse, exercício, e atualizar anualmente, atualizar na saída. Então, você apresenta na entrada anualmente e na saída do cargo, e se não apresentar ou apresentar a declaração falsa, você se submete à penalidade de demissão. Sobre as sanções por
improbidade administrativa, pessoal, a sanção é muito fácil de a gente pegar. Você começa pelos atos que atentam contra os princípios. O ato que atenta contra os princípios tem apenas duas penalidades. A primeira é a multa de até 24 vezes a remuneração. Eu falei de duas penalidades; você lembra dessas duas? Que também é o dois de 2 anos, tá? Porque 24 meses, 24 vezes a remuneração seria basicamente 2 anos de remuneração. E aí você pode pegar esse quatro daqui, ó, pode pegar esse quatro daqui e levar ele até lá ao ato da proibição de contratar e
de receber benefícios. Na proibição de contratar e de receber benefícios, o prazo também é de 4 anos. Então, na prática, você tem o nosso 24, que é até 24 vezes a remuneração, e 4 anos, e são duas penalidades. Pronto, ele faz essa associação. E aí, no enriquecimento ilícito e na lesão ao erário, as suas associações são: enriquecimento ilícito até 14, lesão ao erário até 12. Tá? Proibição de contratar e de receber benefícios no enriquecimento ilícito até 14 anos. Proibição de contratar e receber benefício na lesão ao erário, até 12. Suspensão dos direitos políticos: até 14
no enriquecimento, até 12 na lesão ao erário. A multa vai equivaler ao que você fez no enriquecimento ilícito, há um acréscimo patrimonial. Então, ela equivale ao acréscimo; na lesão ao erário há um... Dano, então, a multa equivale ao dano. Lembrando que as multas podem ser aplicadas até o dobro, conforme a condição econômica do réu; as duas admitem a perda da função pública e, no enriquecimento ilícito, haverá a perda dos bens acrescidos ilicitamente. Ah, eu ganhei esse mouse aqui de suborno; eu vou perder esse mouse. Eu não posso ter ganhado nada na lesão horária, mas se
eu contribuir para alguém ganhar, eu respondo com esse alguém pela perda dos bens. Então, se concorrer, você também vai ter que responder por essa situação sobre responsabilidade civil. A legislação, a Constituição Federal, prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos prejuízos que os seus agentes causarem a terceiros. Essa é a responsabilidade civil objetiva do Estado; quer dizer que o agente público não precisa agir com dolo ou culpa, ele pode fazer tudo correto e, ainda assim, o estado terá que arcar com o prejuízo. Então,
aqui, nós aplicamos a chamada Teoria do Risco Administrativo. Há um entendimento do STF que diz que essa regra se aplica tanto aos usuários quanto aos não usuários do serviço. Por exemplo, se o motorista de uma concessionária dirigiu o ônibus e freiou em seco, as pessoas que estavam dentro do ônibus caíram e se lesionaram; a concessionária terá que arcar com os prejuízos causados a esses usuários do serviço. Se ele freou em seco porque se distraiu e atropelou um ciclista, a concessionária também vai pagar; também vai indenizar o ciclista que não era o usuário do serviço naquele
momento. Quais são os requisitos para que haja responsabilidade civil? O dano, que é o prejuízo causado a terceiro; a conduta, que é a ação estatal, do agente público agindo na qualidade de agente público; e o nexo de causalidade, que é o que liga o dano à conduta. Esses são os requisitos de responsabilidade civil. Só que nós podemos ter as excludentes de responsabilidade civil, que são hipóteses que rompem o nexo causal, a relação de causa e efeito. Entre elas, estão o caso fortuito ou força maior, como um evento da natureza, um terremoto; a culpa exclusiva da
vítima, que ocorre quando a vítima não é vítima, ela é, na verdade, a culpada do incidente; e o ato de terceiros, como, por exemplo, uma manifestação. Esse tipo de ação ou ato exclusivo de terceiros também exclui a responsabilidade civil do Estado. Ok, até aqui eu estava falando da responsabilidade do Estado pelas ações. Quando se tratar de omissão, o Estado responde de forma subjetiva, ou seja, terá que existir uma omissão culposa, uma omissão ilícita do Estado; é a tal da teoria da culpa do serviço. Porém, existem outros casos que nós chamamos de dever específico de cuidado.
Quando houver um dever específico de cuidado, significa que a omissão é tão relevante que a legislação equipara a uma ação do Estado. Nesse caso, na omissão específica, nós voltamos a aplicar a Teoria do Risco Administrativo. Ou seja, a responsabilidade volta a ser objetiva, mas são admitidas as excludentes de responsabilidade civil. Exemplo: quanto ao preso, o Estado tem um dever específico de proteção do preso. Então, se o preso sofrer uma lesão, o Estado responde objetivamente, exceto se não houvesse como evitar; daí, nós teríamos uma excludente de responsabilidade civil. E o que é ação de regresso? A
ação de regresso acontece quando o agente público atua de forma dolosa ou culposa e o Estado, depois de ser condenado, move uma ação contra o agente público. Perceba que o agente público não pode responder diretamente; ele só responde de forma regressiva, jamais de forma direta, e ele só responde se houver dolo ou culpa, ou seja, responde de forma subjetiva. Então, o agente público responde de forma subjetiva e regressiva. Agora, eu queria trazer um pouco de jurisprudência sobre responsabilidade civil. Primeiro, relembrando a teoria da dupla garantia, que quer dizer que é o Estado quem responde diretamente
e o agente público responde somente na ação de regresso. É uma forma de proteger tanto o agente público quanto o terceiro que foi prejudicado, porque o agente público não será processado por qualquer coisa, e o terceiro prejudicado, quando mova ação contra o Estado, tem mais garantias de que vai receber a indenização. Segundo ponto: responsabilidade do Estado em relação a concurso público que foi anulado por fraude. Nesse caso, imagina que você tem um concurso público organizado por uma banca que, normalmente, é uma entidade privada, e dentro da banca, alguém agiu de forma fraudulenta. O Estado só
vai responder de forma subsidiária. O que isso quer dizer? Que a banca será responsável primária e, se a banca não tiver dinheiro para arcar com o prejuízo, aí você pode chamar o Estado. Então, o Estado só responde se a banca não tiver dinheiro; a responsabilidade do Estado é subsidiária. O ato dos notários e oficiais de registro — notário e oficial de registro são os cartórios. Entenda o cartório como se fosse um agente público. A mesma coisa, porque se você entender como agente público, você vai perceber que o Estado é quem tem a responsabilidade primária objetiva,
e o titular do cartório só responde na ação de regresso se houver dolo ou culpa. O agente público que deveria mover a ação de regresso, se não a mover, pode responder por improbidade administrativa. Morte ou lesão do preso: o Estado responde objetivamente em razão da ausência do dever específico de proteção, com base na Teoria do Risco Administrativo. Só que, assim, fique atento: se não houver como impedir a pessoa de morrer, o Estado não responde. Exemplo: a pessoa teve um infarto, mas foi aquele infarto fulminante; morreu na hora. Se ele estivesse em casa, vendo o jogo
de futebol no sofá... Ele também poderia morrer. Então, se o Estado não tinha como evitar a morte, aí ele não responde. Agora, se o Estado tivesse como evitar, ele responde objetivamente. Prejuízo causado por foragidos do sistema prisional: o cara fugiu da cadeia e causou um prejuízo a terceiro. O Estado vai responder? Como regra, não. O Estado só responde se houver um nexo causal da conduta com a fuga; ou seja, ele causa o prejuízo para fugir. Ele pula o muro de xadrez, furta uma moto e foge. O furto da moto foi para fugir, aí o Estado
responde. Depois que fugiu, ele matou alguém? O Estado não responde. Profissional de imprensa ferido por policiais durante cobertura jornalística: o Estado responde objetivamente, porém admite-se a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima, quando o jornalista violar áreas demarcadas como áreas de risco. Por exemplo, tinha lá uma faixa dizendo: "Ó, não passe por essa área." O jornalista passou por baixo, foi querer fazer uma tomada ali no meio do pau, cantando, e aí ele foi atingido. O Estado não vai responder porque ele violou a área demarcada. E, para finalizar, isso aqui é uma decisão recente
do STF que diz que o Estado, na esfera civil, é responsável por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, na forma da Teoria do Risco Administrativo. Cabe ao Estado demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil, e se houver uma perícia inconclusiva sobre a origem do disparo durante as operações, isso não será suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado. Em outras palavras, houve uma troca de tiros, um terceiro foi atingido, que não tinha nada a ver com o caso, veio a perícia e não concluiu de quem foi o disparo. O Estado
vai responder se a perícia mostrar que o disparo foi de um dos bandidos; aí, afasta-se a responsabilidade do Estado. Agora, se a perícia não comprovar que foi de um dos bandidos, o Estado terá que arcar com o prejuízo, porque a perícia inconclusiva não afastará a responsabilidade civil do Estado. Agora, em controle da administração pública, nós temos o controle administrativo, que é aquele controle mais abrangente, porque ele está sempre ali presente. É um controle fundamentado, em regra, na hierarquia e na autotutela. Hierarquia porque o superior controla o subordinado, e na autotutela porque a capacidade da administração
pública de revisar os seus próprios atos, tanto quanto à legalidade quanto em relação ao mérito. Lembrando o seguinte: nem sempre nós vamos ter hierarquia. Por exemplo, o controle da administração direta sobre a indireta é um controle administrativo, mas não tem hierarquia, porque daí seria um controle por vinculação. Outro ponto que a gente pode trazer é que esse controle administrativo envolve os processos administrativos em geral, envolve o direito de petição, onde a gente vê os recursos administrativos, como recurso hierárquico próprio, recurso hierárquico impróprio, envolve a fiscalização hierárquica, quando o superior controla os subordinados e assim sucessivamente.
O controle judicial é um controle quanto à legalidade; logo, o controle judicial não pode invadir o mérito do ato administrativo. Ele é um controle apenas de legalidade. O STF até admite que você faça um controle sobre políticas públicas, por exemplo, mas ainda assim será um controle, porque houve um abuso de direitos. Então, ainda será um controle focado no ordenamento jurídico e não no mérito das decisões. Esse controle tem que ser um controle provocado; ou seja, não pode ser de ofício e, em regra, é um controle posterior. Existem exceções nesse último caso, que é o mandado
de segurança preventivo, mas em regra é um controle posterior. E como que acontece o controle? O controle judicial pode acontecer pelos remédios constitucionais, como habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, entre outras medidas. Você pode ter também ele por intermédio de uma ação popular, uma ação civil pública; você poderia ter simplesmente uma ação ordinária, entre outros mecanismos judiciais, cujas decisões caberão aos juízes e tribunais do Poder Judiciário. Depois, nós temos o controle legislativo. O controle legislativo se subdivide em duas grandes categorias: o controle político, também chamado de parlamentar direto, que é aquele
que é realizado diretamente pelas casas do Poder Legislativo. Então, por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito: isso aqui é um controle legislativo. Quando o Poder Legislativo susta atos normativos que exorbitem dos limites do Poder regulamentar, ou quando o Parlamento faz outras medidas de controle, como convocação de autoridades, fiscalização de atos do poder público, ou quando julga as contas do chefe do Poder Executivo, tudo isso é controle político. Já o controle técnico ou financeiro é aquele controle técnico realizado pelos tribunais de contas, também chamado de parlamentar indireto. Aqui entrariam as competências dos tribunais de contas, julgar
as contas dos administradores, emitir parecer prévio, quando os tribunais de contas fazem o registro de atos de pessoal, registro de admissão e de concessão de aposentadoria. Tudo isso é o controle parlamentar indireto, cuja competência do Tribunal de Contas sobre processo administrativo. Lembre-se que não dá para delegar a cenoura. O que é cenoura? Competência exclusiva. Então, competência exclusiva você não pode delegar. Decisão de atos normativos você também não pode fazer a delegação, e a decisão de recursos administrativos, então a delegação, em regra, é possível. Você não pode fazer a delegação se for a competência exclusiva, atos
normativos e recursos administrativos. Sobre a decadência: segundo a Lei 9.784, decai em 5 anos a contar do fato a competência da administração pública para anular atos que geram efeitos favoráveis aos destinatários. Esse prazo de 5 anos não se aplica quando houver má-fé. Então, se a pessoa apresentou um documento falso, agiu de má-fé, você pode anular até mesmo depois do prazo de 5 anos. E, segundo o STF, essa competência, esse prazo de 5 anos, também não se aplica aos atos flagrantemente inconstitucionais, por exemplo, uma contratação sem concurso público, mesmo que já tenha decorrido o prazo de
5. Anos, você pode anular porque nós não vamos aplicar esse prazo de cadencial. Existe uma novidade na lei 9784, que é a tal da decisão coordenada. Decisão coordenada acontece quando houver uma matéria de competência de três ou mais setores, órgãos ou entidades da administração pública, e quando essa matéria for relevante e houver uma discordância que prejudique a celeridade. É possível adotar, então, a decisão coordenada. Eu sempre gosto de brincar, né? A família decidindo onde serão as férias. Se você tentar resolver isso por e-mail, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Reúne todo mundo no lugar só
e toma a decisão de uma vez só. Isso é o tal da decisão coordenada. Só que cuidado, tá? A decisão coordenada não exclui a responsabilidade de cada um dos órgãos envolvidos na tomada de decisão. Então, eles continuam com responsabilidade e essa medida não será aplicável quando se tratar de processo de licitação, poder sancionador e matéria de competência de poderes distintos. Nesse caso, você não pode adotar a decisão coordenada. Último ponto que eu quero trazer são as situações de impedimento e de suspeição da Lei 9784. O que você tem que ficar atento? O impedimento envolve causas
diretas e objetivas, e você tem que se acusar quando estiver impedido, sob pena de responder por uma falta grave. Então, se você está dentro de uma hipótese de impedimento e não informar, você vai responder por falta grave. Já a suspeição são causas mais subjetivas; por isso, a suspeição não exige que você diga que é suspeito, justamente porque há uma subjetividade aqui. Só que as partes podem arguir a sua suspeição, dizendo: "Ó, o fulano é suspeito." O indeferimento da suspeição é passível de recurso. “Ó, eu falei que ele era suspeito, o pedido foi indeferido, eu recorri.”
Você pode recorrer, só que esse recurso não terá efeito suspensivo. Então, é passivo de recurso, sem efeito suspensivo. E quais são as causas de suspeição? Amizade, inimizade notórias; as outras situações são para o impedimento. Então, amizade e inimizade notória vão na suspeição. O que é o impedimento? Você já ter atuado no processo, você ter interesse no processo, você estar litigando judicial ou administrativamente com alguma das partes do processo, certo? Essas são as hipóteses de impedimento e de suspensão. E com isso, rapaziada, nós terminamos a nossa revisão para o TJ. Espero que vocês tenham gostado, espero
que ajude vocês nessa jornada. Tenham uma boa revisão e arrebentem nessa prova. Valeu, pessoal! Opa! Olá, meus caros, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade e estou aqui na nossa revisão de véspera para tratar agora da matéria de Direito Constitucional. Então, venham comigo aqui, vamos acompanhar! Vou trazer para vocês aquelas dicas finais matadoras da matéria de Direito Constitucional. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui com a revisãozinha boa daquela parte de princípios fundamentais que você sabe que a sua banca gosta bastante, que vai tratar dos artigos primeiro a quarto do texto constitucional. Bom, primeiro
a gente tem que lembrar a forma de governo adotada no Brasil, que é a República. A república vai diferir, portanto, da monarquia e vale a pena a gente lembrar as três características básicas da república, que são: a eletividade do governante, a temporariedade do exercício do mandato e, além disso, a igualdade de todos perante a lei. Essas são as três características básicas do chamado princípio republicano. Além disso, a gente não pode confundir a república, que é a nossa forma de governo, com o presidencialismo, que é o nosso sistema de governo. O presidencialismo vai diferir do parlamentarismo,
ele vai se opor à ideia de parlamentarismo. E aí você lembra que, no presidencialismo, o Presidente da República é eleito pelo voto direto da população. E, além disso, ele acumula as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Então veja, não confunda forma de governo: é a república; sistema de governo: é o presidencialismo. Agora, uma coisa que realmente a sua banca gosta bastante diz respeito à forma de estado, à organização territorial do poder, que, no caso brasileiro, nós adotamos a forma federativa de estado, a federação, por oposição, portanto, ao chamado estado unitário. Então,
quer dizer, o Brasil não é um estado unitário; o Brasil é um estado territorialmente e politicamente descentralizado, que tem várias esferas de poder: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Portanto, o Brasil é uma federação e adota a forma federativa de estado. Isso é, inclusive, cláusula pétrea. Então, quer dizer, não pode nem ser abolido nem por emenda constitucional. Eu até destaquei aqui para você que isso já caiu. Ó, já caiu aqui em prova Consulplan, Câmara de Belo Horizonte, técnico 2024. E também tem outra questão aqui da Consulplan sobre essa matéria, ó, dizendo
que os entes federativos — quando a gente fala em entes federativos, é União, estados, Distrito Federal e municípios — são harmônicos e independentes entre si, sendo-lhes resguardada a autonomia e a soberania, bem como o direito de secessão. Não está completamente errado, ó! Nem os entes federativos têm soberania nem têm direito de secessão. Você lembra? Eu até coloquei aqui em outra oportunidade, ó: a República Federativa do Brasil — o todo, o conjunto é que tem soberania. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não têm soberania; eles têm autonomia política, que é um poder
de menor degrau. Então soberania só quem tem é o todo, o conjunto, o condomínio: a República Federativa do Brasil. União, estados, Distrito Federal e municípios — os entes federativos têm autonomia política, mas não chegam a ter soberania e, obviamente, não têm direito de secessão, direito de retirada. A própria constituição vai dizer, no artigo primeiro, logo no caput do artigo primeiro, que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, justamente pelo fato de a união ser... Indissolúvel é que não há direito de retirada, não há direito
de secessão. Voltando aqui para as dicas sobre princípios fundamentais, vale lembrar que o Brasil é um estado de direito, ou seja, um estado de poderes limitados que se opõe ao estado autocrático, ao estado ditatorial. E também nós adotamos como regime político a democracia semidireta, porque a própria Constituição vai dizer lá no parágrafo único do artigo primeiro que todo o poder emana, provém do povo, que o exerce ou por meio de representantes eleitos, que é a parcela indireta da democracia, ou diretamente, nos termos da Constituição, por meio, por exemplo, de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Como
o Brasil mistura essa democracia indireta com essa democracia direta, nós dizemos então que o nosso regime político é o da democracia semi ou mista. Vale lembrar sempre que é um tema bom: fundamentos da República, que são aquelas bases da República Federativa do Brasil, aquilo que o Brasil tem que ter agora. Para diferenciar, os objetivos fundamentais são metas. Objetivos fundamentais são aquilo que o Brasil um dia quer alcançar. Então, por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária é uma meta; promover o bem de todos, sem qualquer discriminação, é uma meta; promover e garantir o desenvolvimento
nacional é uma meta, é norte, é objetivo, é pro futuro. Agora, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e pluralismo político são aquilo que o Brasil tem que ter agora, são, portanto, fundamentos da República Federativa do Brasil. Não confunda, então, os fundamentos do artigo primeiro com os objetivos fundamentais do artigo terceiro. É sempre bom lembrar dos princípios que regem o Brasil nas suas relações com outros países, nas relações internacionais. Mas eu acho que o que mais tem probabilidade de cair aqui é a parte de separação de poderes. É
você lembrar que os poderes são independentes e harmônicos entre si; isso daqui, inclusive, é cláusula pétrea, né? E lembrando que os poderes: a gente tem o quê? O legislativo, o executivo e o judiciário. E aqui, fora da estrutura dos três poderes, nós temos o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, toma cuidado: o Ministério Público e a Defensoria Pública não são poderes, nem estão inseridos na esfera de nenhum poder. Tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público já integraram, no passado, o poder executivo, mas não mais. Então, são órgãos da União, diz a Constituição, independentes
e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário não podem tirar nada aqui dessa lista, nem incluir nada, porque o Ministério Público e a Defensoria Pública não são poderes; são funções essenciais à justiça que têm autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária, mas que não são, portanto, poderes. Beleza? Maravilha! Seguindo o jogo aqui, olha, pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre essa matéria de direitos fundamentais. Dentro da temática de direitos fundamentais, a gente tem que primeiro lembrar que a lista constitucional de direitos fundamentais é meramente exemplificativa, não é um rol fechado, taxativo. Por isso
mesmo, o artigo 5º, no seu parágrafo 2º, vai dizer que os direitos e garantias fundamentais expressos, explícitos, positivados na Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou decorrentes dos tratados internacionais de direitos humanos. Veja, portanto, o fato de um direito fundamental não estar expressamente previsto na Constituição não quer dizer que ele não seja um direito fundamental. Veja, por exemplo, o sigilo bancário, que não é expressamente citado na Constituição, mas é um direito fundamental. Então, esse rol não é taxativo, não é fechado, não é numerus clausus. Também sempre é bom a
gente dar uma lembrada na questão da hierarquia dos tratados internacionais. Cuidado com a questão na sua prova, né? Se a questão disser que é um tratado de direitos humanos e que foi aprovado pelo rito especial, ou seja, foi aprovado em ambas as casas do Congresso por dois turnos e 3/5 dos votos dos respectivos membros, esse tratado terá hierarquia constitucional; esse tratado terá força de emenda à Constituição. Se, porém, a questão falar de um tratado de direitos humanos, mas prever outro rito, não disser que foi dois turnos, não disser que foi 3/5, ele está um degrau
abaixo; ele tem hierarquia supralegal intermediária. Ele está aqui maior do que a lei, mas ele está aqui menor do que a Constituição; ele está intermediário: maior do que a lei, menor do que a Constituição. E, claro, se é um tratado que não é de direitos humanos, ele vai ter hierarquia legal, ele vai ter a mesma força de uma lei. Então, vale a pena a gente lembrar: olha só, de tratados de direitos humanos com rito especial, força de emenda; direitos humanos com rito comum, supralegal intermediário; não direitos humanos, lei ordinária, lei comum. E, era legal, também
é bom a gente ter cuidado com a diferença de direitos fundamentais que existem entre os brasileiros natos, os naturalizados e os estrangeiros. Por exemplo: os brasileiros natos têm algumas proteções que eles têm a mais, como, por exemplo, a extradição. Um brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil em hipótese alguma; o naturalizado já pode, se for crime comum cometido antes da naturalização ou tráfico de drogas. E também tem outra diferença marcante aqui dos brasileiros natos que são os cargos privativos de brasileiro nato. Tem alguns cargos que só o brasileiro nato pode ocupar, que são o
quê? Vamos relembrar: presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, os cargos todos, os 11 cargos de ministros do STF, o cargo de ministro da Defesa – que é o único cargo do Poder Executivo que é privativo de brasileiro nato – e os cargos de oficiais das Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica. Carreira diplomática: já o brasileiro naturalizado tem direitos que o estrangeiro não tem. Por exemplo, ele tem direito de votar e direito de ser votado, exceto para o cargo de presidente e vice-presidente da República, coisa que o
estrangeiro não vai ter. Então, toma cuidado com a questão da tua prova. Se a questão vier perguntando o seguinte: “o estrangeiro pode ter direitos fundamentais genericamente?” Pode. O estrangeiro pode ter os mesmos direitos fundamentais do brasileiro? Não! Aí não! O estrangeiro, por exemplo, é inalistável e inelegível. Ele não pode se alistar como eleitor, não pode votar para cargo algum e, por conseguinte, ele também é inelegível para todo e qualquer tipo de cargo eletivo. Aproveito aqui, nem estava na minha programação, mas alguma coisa me soprou aqui para eu falar: lembre das idades mínimas para ser eleito
a determinados cargos. A gente vai ter a idade mínima de 18 anos, 21 anos, 30 anos e 35 anos. Com 18 anos, é a idade mínima para ser candidato a vereador; com 30 você vai poder ser candidato a governador ou vice; com 35, a presidente, vice-presidente ou senador; e com 21 anos, é a idade para ser candidato aos outros cargos eletivos. Então, deputado, a idade é 21; qualquer deputado, prefeito, a idade mínima é 21; e também para o cargo de juiz de paz, que é eleito, exige a idade de 21 anos. Para a gente finalizar
essa primeira dica aqui de direitos fundamentais, vale lembrar os direitos sociais, que são direitos de segunda geração ou dimensão, direitos prestacionais, direitos de exigir do Estado que faça algo, que preste algo, que entregue algo: direito à saúde, educação, moradia, lazer, garantias trabalhistas, aposentadoria. E também o direito que toda pessoa em situação de vulnerabilidade social tem a uma renda mensal básica de cidadania. Isso já caiu em prova Consplan. Olha só aqui: com prova Consuplan para engenheiro do município de Iúna 2024, cidadão em situação de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder
público. Olha aqui o caráter prestacional desse direito em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Isso aqui está certo porque é o que se encontra no artigo 6.º, parágrafo único, da Constituição Federal. Beleza? E aí a gente segue aqui, gente, para uma temática que sempre é muito importante nas provas de concurso em geral e nas provas Consuplan, não seria diferente: a temática dos remédios constitucionais. Ó, remédios constitucionais! As duas coisas principais para você saber são quando você usa cada remédio e
quem pode ajuizar, mas principalmente o quando você utiliza. Olha só aqui, olha só: o habeas corpus, por exemplo, a gente sabe que ele protege a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, seja esse direito já violado, seja esse direito ameaçado de violação. Não precisa já ter acontecido a violação para ser impetrado o habeas corpus; ele pode ter caráter preventivo. Agora, ele tem a chamada legitimidade ativa universal: ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, mesmo sem ter advogado. É uma exceção à regra de que o advogado é essencial à administração da justiça. E, lembrando
também que aqui, como ele tutela a liberdade de locomoção, quem tem liberdade de locomoção é só a pessoa física. Então, isso é um direito; essa é uma garantia que só pode ser movida em benefício de uma pessoa física. Não confunda com habeas data. Data quer dizer informação, dados. Então, o habeas data tutela a liberdade de informação pessoal, a liberdade de informação sobre a própria pessoa do impetrante, lembrando, seja para conhecer informação, para ter acesso à informação, seja para retificar, corrigir a informação. Mas só o próprio titular da informação é que pode ajuizá-la, porque se trata
de uma ação personalíssima. Beleza? Lembrando também que é preciso provar a negativa na via administrativa, ou seja, o habeas data exige a demonstração de que você tentou obter ou tentou corrigir aquela informação sobre você mesmo na esfera administrativa, não conseguiu e, por isso, agora está batendo na porta do Poder Judiciário. O mandado de segurança, eu vou falar por último, você vai entender por quê. A gente vai ter aqui o mandado de injunção, gente; o mandado de injunção é o mais diferentão, porque ele cuida da falta, da omissão de uma norma regulamentadora de um direito fundamental.
Então, quando é que você vai marcar na sua prova que o caso é de mandado de injunção? Quando a prova deixar claro que você tem um direito fundamental e você não está conseguindo exercer, você está impedido, você está no estado de exercer aquele direito fundamental pela falta de norma regulamentadora. Falou falta de norma regulamentadora, tem que acender o sinal de alerta do mandado de injunção. Não se confunde também com a ação popular. A ação popular pode ser ajuizada pelo cidadão, ou seja, pelo brasileiro eleitor. Veja a pegadinha clássica de prova: é dizer que a ação
popular pode ser ajuizada por um indivíduo. Não! Por qualquer brasileiro, não! Qualquer pessoa do povo, não! Não é qualquer indivíduo, não é qualquer brasileiro, não é qualquer pessoa do povo; é qualquer cidadão. Tem que ser o brasileiro eleitor, o brasileiro com capacidade eleitoral, o brasileiro com cidadania, o brasileiro com título de eleitor. A ação popular não pode ser ajuizada pelo Ministério Público, tá, pessoal? O Ministério Público pode ajuizar outro tipo de ação: uma ação prima irmã da ação popular, que é a Ação Civil Pública, tá lá no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal. Então,
cidadão ajuíza ação popular, Ministério Público ajuíza ação civil pública, e a ação popular vai poder ser manejada em defesa do patrimônio público ou do patrimônio histórico e cultural ou do meio. Ambiente ou da moralidade administrativa. Agora, se você descartar o habeas corpus, descartar o abstenção de dados, descartar o mandado de injunção e descartar a ação popular, aí você vai ver se é caso de mandado de segurança, porque o mandado de segurança, ele vai ter por expressa definição constitucional. O mandado de segurança tem cabimento subsidiário; ou seja, o mandado de segurança exige que você tenha descartado
os outros remédios constitucionais, mas ter descartado não quer dizer que, obrigatoriamente, vai ser caso de mandado de segurança, porque você ainda tem que deixar claro que é um direito líquido e certo. Direito líquido e certo significa aquele direito que você comprova com provas exclusivamente documentais. Então, o mandado de segurança é ajuizado contra o poder público, baseado, lastreado, fundado exclusivamente em provas documentais. Se depende de testemunha ou de perícia, já não é caso de mandado de segurança. Então, beleza, remédios constitucionais estão revisados aqui. Vamos revisar mais um tema agora: a organização do Estado. A organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil. A gente já falou doentes, né? Então, a República Federativa do Brasil é soberana e abrange a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os municípios podem criar distritos; os estados podem criar regiões metropolitanas; e a União pode criar territórios federais. Territórios federais, regiões metropolitanas e distritos não são entes federativos. Regiões metropolitanas, territórios federais e distritos são entes de natureza meramente administrativa. Tá bom? Então, é uma gradação. A República Federativa do Brasil tem soberania: União, estados, DF e municípios têm autonomia, e as entidades administrativas têm a mera autonomia administrativa,
a mera autoadministração. Outra coisa importante dentro das competências: a gente tem que lembrar que tem competências que são só do município. Por exemplo: iluminação pública, saneamento básico, coleta de lixo, urbanização e divisão do território, transporte de passageiros urbano e questões funerárias são as principais dos municípios, que você vai encontrar lá no artigo 30. Os estados têm as competências residuais, as competências reservadas, as competências que sobram, as competências implícitas; elas sobram para os estados membros da Federação conforme o artigo 25, parágrafo primeiro do texto constitucional. Agora, a União, ela tem algumas competências privativas, que é bom
você dar uma olhada. Viu? As competências privativas da União estão lá no artigo 22. Aí você vai dizer: "Ai, professor, mas o artigo 22 é gigante!". Sim, mas eu tô aqui entregando mastigado para você as hipóteses que mais caem na prova. Então, vem comigo. Olha só: é competência só a lei federal poder tratar de Direito Civil, de Direito Penal, definição de crimes e penas, de direito. Não interessa qual tipo de direito processual, tá? Direito processual civil, processual penal, processual do trabalho. É tudo lei federal. Direito do trabalho, inclusive regulamentação de profissões, Direito Eleitoral e Direito
Comercial. Legislar sobre armas? Estado membro no Brasil adora: "Eu quero legislar sobre armas!". Me segura que eu vou legislar para dar porte de arma para o procurador do Estado! Supremo diz: "Pode não, meu filho, legislar sobre material bélico é competência privativa da União". Tá, assim como já falei: regulamentar profissões, diretrizes e bases da educação e normas gerais de licitação. Agora, existem algumas competências que são compartilhadas. Compartilhadas são o quê? As competências comuns que todos os entes federativos têm responsabilidade e também as competências concorrentes, em que a União faz as normas gerais e os estados detalham.
Por exemplo: meio ambiente não é só a União; todo mundo vai cuidar. Direito do consumidor, saúde, educação, pessoas com deficiência, tributação, Finanças Públicas: todo mundo vai cuidar. E cuidado com isso, ó: procedimentos em matéria processual é competência concorrente. Então, por favor, cor memorize: se perguntar na sua prova quem é que legisla sobre direito processual — as regras de ação, recursos, prazos, etc. — é só a União. Se a questão te perguntar, porém, sobre procedimentos em matéria processual, que é basicamente tempo e lugar dos atos processuais, aí a gente tá diante de uma competência concorrente. Tá
lá no artigo 24, inciso 11 da Constituição Federal, competência concorrente. Você lembra? Quer dizer que a União vai fazer as diretrizes, as normas gerais, mas os estados vão detalhar, esmiuçar, operacionalizar, detalhar. Beleza, show de bola. Ainda na parte de organização do Estado, a gente tem que lembrar da parte de administração pública. Essa parte de administração pública, que inclusive tem um custo-benefício bem legal, porque ela pode cair não só na prova de Direito Constitucional como pode cair também na prova de Direito Administrativo. A gente tem que lembrar sempre dos princípios expressos da administração pública, né? A
legalidade, o respeito à lei e à Constituição, por isso a gente fala inclusive em juridicidade. Não é só o respeito à lei e de Distrito, é o respeito ao ordenamento jurídico, a juridicidade. A impessoalidade, o fato de que o agente público deve visar ao bem público e não ao bem particular. A moralidade, agir conforme padrões éticos e de boa-fé. A publicidade, inclusive o dever de transparência ativa. E a eficiência, lembrando que esses quatro aqui — legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade — já estavam na redação original da Constituição Federal de 88, mas a eficiência não. A
eficiência foi incluída depois pela Emenda 19 de 1998. Sobre os cargos efetivos, a gente tem que lembrar que o acesso se dá exclusivamente mediante concurso público de provas ou provas de títulos. Os cargos públicos são acessíveis imediatamente aos brasileiros e são acessíveis aos estrangeiros nos casos em que a lei previr. Tá? Por isso que o artigo 37, inciso 1 da Constituição, diz que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como aos estrangeiros na forma da lei. Então, para os estrangeiros, é só quando isso vier
previsto em lei. Lembrando também que eu não posso, em regra, acumular cargo público, exceto nas seguintes situações: eu posso acumular dois cargos de professor. Eu posso acumular... Um cargo de professor pode ser acumulado com outro cargo técnico ou científico, e eu posso acumular dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde com profissão regulamentada. Ainda assim, há exceções. A Constituição estabelece que, a não ser nesses três casos, não é permitido acumular cargos públicos. Os dois casos permitidos são: um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, ou dois cargos ou empregos privativos de profissional
de saúde com profissão regulamentada. Também vale lembrar que isso se aplica a cargos efetivos, os quais têm acesso mediante concurso público e podem alcançar a estabilidade após três anos de efetivo exercício. Os cargos em comissão, por outro lado, são regidos pelo regime Geral de Previdência Social, pelo famoso INSS. Além disso, eles não têm limites de idade, pois são de livre nomeação e livre exoneração. Não se deve confundir o cargo em comissão com a função de confiança (AFC). A semelhança é que tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança são para funções de livre
nomeação e exoneração, e ambos são destinados a funções de direção, chefia e assessoramento. A diferença é que o cargo em comissão pode ser ocupado por pessoas sem vínculo efetivo com a administração pública, enquanto a função de confiança só pode ser ocupada por servidores públicos efetivos, ou seja, por quem já é concursado. Vale ressaltar a questão do teto constitucional, que você encontra no artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal. O artigo 37, inciso 11, estabelece que ninguém pode ganhar mais do que um Ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o próprio STF já afirmou que, em
caso de acumulação lícita de cargos públicos, o teto constitucional é verificado em relação a cada cargo. Assim, quem ganha o teto constitucional do funcionalismo em um cargo técnico-científico, por exemplo, pode fazer concurso para ser professor e ganhar mais do que o teto, pois, em caso de acumulação lícita de cargos públicos, o teto é analisado em relação a cada vínculo isoladamente. Mas, por que vemos notícias de pessoas ganhando mais do que o teto? Porque a própria Constituição determina que as verbas indenizatórias não entram no cálculo do teto do artigo 37, parágrafo 11. Recentemente, essa questão foi
alterada pela Emenda Constitucional 135, de 20 de dezembro de 2024. De qualquer forma, o teto constitucional se refere ao vencimento ou remuneração, excetuadas as verbas de natureza indenizatória. Agora, vamos falar sobre o Poder Judiciário e sobre as funções essenciais à justiça. Um ponto muito importante são as garantias dos juízes. Os juízes têm a garantia da vitaliciedade; lembre-se de que a vitaliciedade é mais do que a estabilidade. A estabilidade que eu e você temos (pessoas comuns, do povo) é diferente. Os membros do Judiciário e do Ministério Público têm a garantia de vitaliciedade, que assegura que só
podem perder o cargo por condenação em sentença judicial transitada em julgado. Para comparar: um servidor público estável pode perder o cargo em quatro hipóteses: por sentença judicial transitada em julgado, por processo administrativo disciplinar (PAD) com ampla defesa, por procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar (também com ampla defesa) e por excesso de despesas com pessoal. Já o juiz vitalício pode perder o cargo apenas em uma hipótese: por sentença judicial transitada em julgado. Lembrando que, enquanto a estabilidade depende de um estágio probatório de três anos, a vitaliciedade, para quem entra por concurso,
depende de um estágio probatório menor, que é de dois anos. Os juízes também possuem a garantia da inamovibilidade, que é a garantia de não serem removidos de ofício, ou, em outras palavras, contra a sua vontade, a não ser por decisão da maioria absoluta de um órgão colegiado ou do tribunal, ou por ação do CNJ. A remoção mediante permuta é permitida, mas é a pedido. Assim, a pessoa pode fazer permuta entre tribunais diversos, desde que seja no mesmo segmento de Justiça. Cuidado: essa regra foi alterada pela Emenda 130 de 2023, que é uma mudança relativamente recente.
Por exemplo, alguém que fez concurso para juiz do TJ Rondônia e deseja trocar de lugar pode permutar com alguém do TJ do Acre, pois ambos pertencem ao mesmo segmento de Justiça (justiça estadual). No entanto, não é permitido trocar de lugar com alguém vinculado ao TRF da Primeira Região, pois isso mudaria o segmento de Justiça de estadual para federal. A terceira garantia dos juízes é a irredutibilidade de subsídios. Portanto, não se esqueça: as garantias dos juízes são vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Contudo, assim como os juízes têm mais garantias que os servidores públicos em geral,
eles também têm mais vedações. Portanto, essas vedações dos magistrados são importantes para decorar, pois estarão em sua prova. Vou até deixar aqui o meu Instagram para que você possa me marcar lá, fazendo um story me agradecendo e dizendo que realmente o Professor João Trindade falou que ia cair e caiu. @JTrindadeProf. Beleza? Quais são as vedações? O que é vedado? "Proibido aos membros do Judiciário; aliás, proibido aos do Judiciário e do Ministério Público também. Então, é vedado exercer, ainda que esteja em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função pública, salvo uma de Magistério. Então, veja que aqui
não é uma proibição absoluta; é uma proibição relativa que tem exceção. É vedado ao juiz receber presentes ou valores, salvo nos casos previstos em lei. De novo, uma proibição que não é absoluta, uma proibição relativa. É proibido ao juiz receber porcentagens, custas, honorários ou participações em processos; essa não tem exceção. É vedado ao juiz exercer atividade político-partidária, por isso o juiz não pode ser filiado a partido político; logo, não pode ser candidato a mandato eletivo. Logo, não pode também ser dirigente partidário, e aqui, inclusive, não tem exceção. Tá? Se disser, se cair na sua prova
dizendo que é vedado aos juízes exercer atividade político-partidária, salvo nos casos previstos em lei, a questão tá errada. E também é vedado aos juízes exercer a advocacia no juízo ou tribunal em que atuavam antes de decorridos os 3 anos do afastamento, seja por aposentadoria, seja por exoneração. Moral da história: quando a pessoa integra o Judiciário, quando a pessoa é juiz da ativa, não pode advogar de forma alguma. Quando se aposenta ou é exonerada, passa a poder advogar, mas vai passar 3 anos com a restrição no exercício da advocacia. Vai passar 3 anos sem poder advogar
no juízo ou tribunal em que atuava. É a chamada quarentena de saída. Tenho certeza também que vai ter uma questão na sua prova sobre o CNJ. Tô esperando as marcações nos Stories quando isso cair na prova. Viu? O CNJ é formado por 15 conselheiros, sendo um deles membro nato. Lembre-se que membro nato não tem nada a ver com brasileiro nato; aqui, por coincidência, tem que ser um brasileiro nato. Tá? Mas membro nato quer dizer alguém que é membro automaticamente de um determinado órgão sem precisar ser designado, ser escolhido, ser eleito. Então, temos um membro nato
que é o presidente do STF, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que inclusive é o presidente do CNJ. Ele tem esses dois chapéus: tem o chapéu de presidente do Supremo e tem o chapéu de presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E vamos ter também 14 membros que são escolhidos para mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sempre com aprovação do Senado por maioria absoluta. Cuidado que quando a gente fala "aprovação do Senado" não é a aprovação do Congresso, né? Porque Congresso inclui a Câmara. Então, não é o Congresso Nacional, é o Senado; só
os 81 senadores. E aí o Supremo indica um desembargador de TJ e um juiz de direito; o STJ indica um ministro seu, um desembargador de TRF e um juiz federal; o TST indica um ministro seu, um desembargador de TRT e um juiz do trabalho. Acabaram aqui os membros do Poder Judiciário. Lembre-se que não tem membro da Justiça Eleitoral e não tem membro da Justiça Militar. Tá? Então, Justiça Eleitoral e Justiça Militar não têm representantes no CNJ. Além disso, a gente vai ter membros de fora do Poder Judiciário; a gente vai ter membros de fora do
Judiciário: dois advogados indicados pela OAB; dois membros do Ministério Público, sendo um do MPU e um de Ministério Público estadual, indicados pelo próprio Ministério Público; e o Senado e a Câmara vão indicar dois cidadãos, cada um indica um: um cidadão indicado pelo Senado e um cidadão indicado pela Câmara dos Deputados. Agora, eu acho que o que tem maior probabilidade de aparecer na sua prova são as atribuições. O que o CNJ faz? Ele, por exemplo, tem poder normativo de editar resoluções, ele fiscaliza o Poder Judiciário brasileiro, exceto o STF. Tome cuidado com isso, que aqui é
uma pegadinha master clássica de prova. Tá? Se disser que o CNJ fiscaliza o Poder Judiciário brasileiro, ponto, a questão está certa. O CNJ fiscaliza todo o Poder Judiciário brasileiro. A questão vai estar errada a não ser que ele use a palavra "todo". Ele tem que trazer a exceção. Então, se ele disser: "o CNJ fiscaliza todo o Poder Judiciário brasileiro, exceto o STF", aí tá lindo, aí tá bom, aí a questão tá correta. Lembrando que o CNJ é um órgão de controle interno do Judiciário. Tá? O CNJ é um órgão de controle interno do Poder Judiciário.
O próprio STF já disse que ele é um órgão de controle interno na ADI 3367 do Distrito Federal. Então, se disser que ele é um órgão de controle externo, a questão está errada. E lembre-se que o CNJ não possui jurisdição. O CNJ não tem jurisdição; ele é um órgão do Poder Judiciário, mas que não exerce atividade fim do Judiciário, não exerce função jurisdicional. Tá bom? Ele também vai ter atribuição correicional; ele pode instaurar, avocar e até rever processo administrativo disciplinar contra juízes. A revisão, ele rever o processo, é só se o processo tiver sido julgado
até um ano, tá? Até no máximo um ano. E o CNJ pode aplicar penalidades; ele tem poder disciplinar. A única penalidade que ele não pode aplicar é demissão de juiz vitalício. Tá? Por que o CNJ não aplica demissão de juiz vitalício? Porque para demitir juiz vitalício é só por sentença judicial transitada em julgado, e o CNJ não profere sentença judicial, já que ele não é dotado de jurisdição. Beleza? Show de bola? Maravilha! E agora vamos pro nosso último tema aqui: o tema das funções essenciais à justiça. Tá lá no seu edital também. Bom, a advocacia
privada tem o objetivo de defender os particulares; ela defende quem o contrata. Por isso que ela tem autonomia total; ela não integra a administração pública. Então, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, não integra a administração pública. É aqui uma função de natureza privada. Tá?" Advocacia pública e a Defensoria Pública, que integram a Defensoria Pública, tomam cuidado, pois ela tem o papel de defender dois objetivos. A Defensoria Pública tem a função de defender os necessitados, ou seja, aqueles que não têm condição de arcar com o próprio advogado, e também defende os direitos humanos, seja
na esfera judicial ou extrajudicial. A Defensoria Pública possui autonomia funcional para definir seu próprio funcionamento, autonomia administrativa para se autoadministrar, autonomia financeira para ordenar suas próprias despesas e autonomia orçamentária para elaborar sua própria proposta orçamentária nos limites da LDO. Quer dizer, a Defensoria Pública não integra mais — foco no adjetivo, não no advérbio — o Executivo. A Defensoria Pública já foi parte do Poder Executivo e hoje em dia não integra mais este poder. Inclusive, isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5296 do Distrito Federal. Ela tem uma estrutura que abrange a Defensoria
Pública da União, as defensorias públicas estaduais e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Veja que não há uma Defensoria Pública principal. A advocacia pública é bem importante, pois é a única função essencial à justiça que existe na esfera municipal, uma vez que o papel da advocacia pública é defender o poder público, defender o estado — o estado como poder estatal. Portanto, o Estado precisa de advogados para defendê-lo, que são os advogados públicos. Assim, o papel da advocacia pública é defender judicialmente o poder público, seja a União, o estado, o DF ou o município, e prestar
consultoria jurídica. Entretanto, atenção: a consultoria jurídica é prestada apenas ao poder a que ela pertence; ou seja, ela só presta consultoria jurídica ao Poder Executivo. Na esfera da União, temos a AGU; na esfera estadual, as procuradorias gerais dos estados; na esfera distrital, a Procuradoria Geral do Distrito Federal; e na esfera municipal, a PGM (Procuradoria Geral do Município). Lembrando que a Procuradoria Geral do Município é de criação facultativa, pois em um país como o Brasil, que tem 5.570 municípios, existem municípios onde pode valer a pena criar uma procuradoria estruturada e outros onde pode ser mais viável
contratar advogados ad hoc para cada caso específico. Agora, na sua prova, tenho certeza de que o que tem maior probabilidade de cair é sobre o Ministério Público. Então, vamos falar sobre ele. O Ministério Público, segundo a Constituição, tem o papel de defender o ordenamento jurídico, ou seja, atuar como custos legis, como fiscal da lei e como defensor do respeito à lei e à Constituição. O Ministério Público também tem o papel de defender o regime democrático e a democracia, além de defender os interesses, os direitos sociais, ou seja, os interesses da sociedade e os interesses individuais.
É importante ressaltar que ele pode defender direitos individuais e interesses individuais se forem indisponíveis, irrenunciáveis ou homogêneos. Assim, o Ministério Público pode defender direitos individuais em duas situações: quando se tratar de um direito individual indisponível e irrenunciável, como a vida ou a incolumidade física, ou quando se tratar de um direito individual homogêneo, que é aquele que pode ser protegido coletivamente, no atacado, de maneira homogênea ou coletiva. Um exemplo clássico é uma série de consumidores vítimas de uma propaganda enganosa; isso pode ser defendido pela ação individual de cada consumidor, mas, havendo interesse da sociedade, o Ministério
Público pode atuar em defesa de direitos individuais homogêneos. Lembrando que o Ministério Público terá a mesma autonomia da Defensoria Pública, ou seja, ele vai ter autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária. Em relação à estrutura, temos o Ministério Público da União, os Ministérios Públicos de cada estado e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Lembre-se de que o CNMP está para o Ministério Público assim como o CNJ está para o Poder Judiciário; é um órgão de controle interno do Ministério Público. O MPU, o Ministério Público da União, que é chefiado pelo Procurador-Geral da República, possui quatro
ramos: o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Lembrando que o Ministério Público é regido por alguns princípios institucionais que também se aplicam à Defensoria Pública, como o princípio da unidade, que estabelece que, mesmo quando se divide em ramos, é uma instituição unitária sob o comando de um só Procurador-Geral; o princípio da indivisibilidade, que determina que os membros podem se substituir uns aos outros durante o processo sem que isso cause nulidade; o princípio da independência funcional, segundo o qual cada membro
do Ministério Público atua de acordo com a lei e com a sua consciência, não recebendo ordens de quem quer que seja no exercício da atividade-fim; e um princípio implícito que é o princípio do promotor natural. Beleza! Então, pessoal, maravilha! Aqui temos uma boa passagem por toda a matéria de Direito Constitucional para você. Excelente preparação e revisão para você, e muito sucesso na sua prova! Um abraço e até lá! Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Vamos iniciar nossa revisão de véspera para o TJ Rondônia, focando na disciplina de Direito Civil. Lembrando que o programa desse concurso,
elaborado pela Consulplan, foi bastante econômico na escolha de assuntos, basicamente abrangendo a Lei de Introdução, a parte geral do Código Civil, focando tanto no livro das pessoas quanto nos bens e nos fatos jurídicos. Portanto, nosso foco será basicamente este: a Lei de Introdução e a parte geral do Código Civil. Analisando as questões de concursos anteriores, percebemos que a Consulplan... É uma banca que gosta de padronizar questões no sentido de cobrar do aluno letra de lei e conhecimentos doutrinários. Não vi muita questão jurisprudencial focalizando súmulas ou informativos, mas, sobretudo, lei e doutrina, que são os focos
principais da banca Consulplan. OK, então, sem mais delongas, vamos começar nossa revisão de véspera analisando questões da Lei de Introdução. Corta pra tela! Olha só: a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) traz regras quanto à vigência e eficácia das leis, conflitos de leis no tempo e no espaço, dentre outras. Quantas disposições da referida lei? Analise as afirmativas a seguir. O item um: as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Tá correta a proposição. Observe: da hora em que se faz algum tipo de correção ou mesmo alteração a um
texto de lei já em vigor, isso vai fazer com que surja uma nova lei, uma lei nova, como diz o artigo primeiro da Lei de Introdução. Correções a texto de lei já em vigor fazem com que surja uma lei nova. É como se, ao se modificar a lei, uma nova legislação surgisse a partir daquela modificação que foi introduzida. Tá correta a proposição um. O item dois: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, o que também está correto. É a temática da repristinação, que merece uma
análise à parte. Olha só: quando se fala em repristinação, está-se diante da possibilidade de fazer ressuscitar uma lei que já foi revogada, de ressuscitar uma lei que já foi expulsa do mundo jurídico. A título de exemplo, imaginemos que uma lei A venha a ser revogada por uma lei B. A lei B revoga a lei A. OK, aí no segundo momento surge uma lei C que revoga a lei B. A lei B havia revogado a A, e eis que surge a lei C revogando a lei B. Então, a grande questão que se coloca é saber se
a lei A irá ou não repristinar, irá ou não voltar ao mundo jurídico pelo fato de se revogar a lei B. A regra geral adotada por nossa Lei de Introdução, no artigo 2º, é a regra da não repristinação. O que significa regra da não repristinação? Que a lei revogada não se restaura; ela não repristina. A lei revogada não se restaura pelo fato de a lei revogadora perder a vigência. Eu sempre faço um paralelo com crime de homicídio. Imagina que João mata Maria (feminicídio). João matou Maria. Aí, venho eu e mato João. Se eu matar João,
pessoal, Maria ressuscita? Claro que não! Maria morreu; consequentemente, ela não volta mais. OK, então, a regra geral é essa: a não repristinação. Porém, se houver disposição contrária, ou seja, uma disposição constante da lei C determinando expressamente o retorno da lei A, a volta da lei A para o mundo jurídico, havendo disposição contrária na lei C, aí, nesse caso, a lei A reprista. Daí dizer: a Lei de Introdução, a não repristinação vale como regra salvo disposição contrária. Salvo disposição contrária, a lei A não reprista; a lei A não se restaura pelo fato de se revogar a
lei B, que é mais ou menos o sentido do item dois da questão. A questão fala disso: salvo disposição contrária, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, tá correta a proposição dois. O item três: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue, o que também procede, exceptuadas as leis temporárias, que são leis com prazo certo de vigência, a exemplo da lei do regime emergencial e transitório da pandemia, que foi feita para vigorar até o dia 30 de outubro de
2020. É uma lei temporária. Então, tirando esse tipo de lei, a tendência é que as leis permaneçam em vigor até que outras as modifiquem ou as revoguem. A tendência é essa: é a regra da vigência até que surja uma nova legislação que venha a revogar ou a modificar a lei anterior. Tá correta a proposição três. E o item quatro: a lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava anterior, que são os casos de revogação. A revogação pode ser expressa ou tácita. Temos
assim essas duas possibilidades: revogação expressa é quando a lei nova declara expressamente a revogação da anterior. A lei nova declara expressamente, portanto, a lei anterior é expressamente revogada. Já a revogação tácita acontece em duas situações. A primeira situação de revogação tácita é quando a lei nova é incompatível com a anterior, quando surge a chamada antinomia. O que é antinomia? A incompatibilidade de uma nova lei com a lei antiga. Logo, a lei antiga é tacitamente revogada. E um outro caso de revogação tácita é quando a lei nova regula toda a matéria da anterior, quer dizer, tudo
que a lei anterior regulava, a lei nova também está regulando. Então, se a lei nova regula tudo aquilo que a lei antiga regulava, então a lei antiga sofre revogação tácita. Beleza! Então, voltando lá pra questão: a lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, revogação expressa, quando seja com ela incompatível (a chamada antinomia, revogação tácita) ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, que também corresponde a um caso de revogação tácita. Tá correta a proposição quatro. Corretas todas as proposições, e a resposta é a letra A. Próxima questão: a emancipação produz
efeito de... O que seria emancipação? Veja bem, para entendermos melhor o significado da emancipação, é preciso que a gente atente para a temática da capacidade civil e suas respectivas espécies, ou seja, as espécies de capacidade civil que são reconhecidas pela legislação. Quando se fala em capacidade civil... Corta pra tela! Da chamada capacidade de direito. Ora, se está diante da capacidade de fato, vejam bem: a capacidade de direito é a capacidade de ser titular de direitos e deveres, capacidade de ser titular de direitos e deveres que vai permitir à pessoa titularizar direitos e deveres, e essa
capacidade todo mundo tem; todos possuem, é o que reza o artigo primeiro do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na vida civil, o que faz da capacidade de direito um atributo universal reconhecido sem exceções a cada um de nós. Ok, então, capacidade de direito todo mundo possui. Já a capacidade de fato é diferente. A capacidade de fato representa a capacidade, o atributo de exercer pessoalmente os direitos e deveres. Eu disse exercer pessoalmente os direitos e deveres. É aquela capacidade que, por exemplo, permite à pessoa assinar um contrato, viajar para o exterior,
ou seja, tocar sua vida, participar pessoalmente das relações da vida civil. E observem que nem todo mundo pode fazer isso. Uma criança de 5 anos não tem autonomia para assinar um contrato; ela não tem capacidade de fato. Então, capacidade de fato, voltando à tela, nem todos possuem. Para atingir a capacidade de fato, é necessário que a pessoa, pelo menos, conte com 18 anos de idade. 18 anos de idade é a idade em que a pessoa atinge o discernimento, a idade necessária para poder praticar pessoalmente os atos da vida civil. Ok, entretanto, quando se fala em
emancipação, está-se aventando a possibilidade de antecipar essa capacidade de fato. A emancipação antecipa a capacidade de fato; a emancipação permite que a pessoa pratique pessoalmente os atos da vida civil antes de completar 18 anos de idade. Então, essa seria a lógica da emancipação: antecipar a capacidade de fato, o que já permite que a gente responda à questão. Porque, observem, de acordo com a questão, a emancipação produz o efeito letra C, de antecipar ou antecipação da aquisição da capacidade de fato. A letra A diz início de maioridade civil; não, maioridade civil é com 18 anos. 18
anos é quando a pessoa se torna adulta, maior. Ok, a emancipação antecipa a capacidade de fato. A letra B fala início da personalidade jurídica; personalidade jurídica se adquire com o nascimento com vida. Quando a pessoa nasce com vida, aí sim ela adquire personalidade jurídica. Tá errada a proposição B. E a letra D fala suprir a autorização de representantes legais dos menores para casamento; não, se os pais não autorizam o casamento do filho menor, quem vai suprir essa autorização é o juiz. O juiz é quem supre a autorização dos pais para o casamento, caso os pais
não consintam que o filho menor possa se casar. Lembrando que no Brasil a capacidade para casamento é 16 anos; com 16 anos a pessoa alcança a idade núbil e pode se casar. Entretanto, para que esse casamento aconteça, os pais devem consentir; se os pais não consentem, se os pais não autorizam, aí esse casamento vai ter que ser objeto de um suprimento judicial. O juiz vai suprir a autorização dos pais. Tem nada a ver com emancipação; na verdade, o casamento é emancipatório. Ou seja, quando uma pessoa menor se casa, aí sim ela alcança a emancipação. Mas
quem supre a autorização dos pais para o casamento é o juiz. Beleza? Então, está falsa a proposição D. Já que estamos falando sobre emancipação, é interessante a gente aprofundar as hipóteses em que a emancipação pode se consumar. Corta pra tela. Nós temos basicamente três hipóteses de emancipação. A emancipação pode ser voluntária, judicial ou legal. O que seria emancipação voluntária? Emancipação voluntária é aquela que se obtém por concessão dos pais; os pais concedem a emancipação para o filho. E para que isso aconteça, é necessário que ocorra o consentimento de ambos os pais ou de um deles
na falta do outro. Se um deles morreu, o outro que estiver vivo pode emancipar. Ok? O consentimento de ambos os pais ou de um na falta do outro, de todo modo, o código exige na emancipação voluntária que o filho tenha 16 anos completos. Só se pode emancipar pela emancipação voluntária a partir dos 16 anos e, por último, o aperfeiçoamento do ato por escritura pública registrada em cartório; escritura pública registrada em cartório para processar essa emancipação. E aí temos os requisitos da emancipação voluntária. A segunda forma de emancipação, corta pra tela, é a chamada emancipação judicial.
Olha só, emancipação judicial acontece quando o menor não tem nem pai nem mãe, menor órfão, sem pai e sem mãe. Nesse caso, quem vai representar o menor é o tutor; é o tutor que assume a responsabilidade pelo menor órfão. Exemplo clássico: o Batman, que foi tutelado pelo mordomo Alfred, não é assim? Né, o Bruce e o mordomo Alfred? Aquela história de quem curte esse personagem. Pois bem, quando o menor é órfão, quando ele é colocado sob tutela, sua emancipação tem que ser judicial; implica dizer que ele se emancipa por sentença do juiz, ouvido o tutor.
Sentença do juiz, ouvido o tutor, e a idade mínima para ser emancipado é a mesma: 16 anos completos. Beleza? O que nos leva, por último, à emancipação legal. Emancipação legal ocorre automaticamente nos casos expressos em lei. Quando acontece uma hipótese prevista na lei, automaticamente o menor se emancipa. De que exemplo? O casamento. Casamento conduz à emancipação legal; os pais autorizam o casamento do filho, a partir de 16 anos, e o filho, casando-se, emancipa. Uma outra hipótese de emancipação legal seria o exercício de emprego público efetivo. Exercício de emprego público efetivo: a galera dos concursos aí
consegue também a emancipação legal. Ainda temos a colação de grau em curso superior; menor que colar grau em curso superior se emancipa. E, por fim, a abertura de estabelecimento ou vínculo empregatício com economia própria; menor que abre estabelecimento, menor que mantém vínculo empregatício com economia própria. Com independência financeira, ele consegue também obter a emancipação legal. Ok, pessoal, e passemos agora à próxima questão. Observe a definição a seguir sobre direitos da personalidade: são aqueles que têm por objeto atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais. A ideia de nortear a
disciplina dos direitos à personalidade é de uma esfera extrapatrimonial do indivíduo, em que o sujeito tem reconhecidamente tutelada pela ordem jurídica uma série indeterminada de valores não redutíveis pecuniariamente, como vida, integridade física, honra, dentre outros. E aí, vale ressaltar que a principal característica desses direitos é exatamente essa: a extra patrimonialidade. Os direitos da personalidade estariam fora da esfera patrimonial do sujeito, e aí lidamos com valores como vida, integridade física, nome, imagem, etc. Sequenciando conforme preceituado pelo Código Civil, a partir da análise de suas características, os direitos à personalidade são em regra, veja bem, a letra
A fala: vitalícios. Está correta a proposição, porque são vitalícios, pessoal! Porque esses direitos são protegidos enquanto a pessoa viver. Durante toda a vida da pessoa, ela será tutelada em seus direitos à personalidade; do nascimento com vida até a morte, seus direitos irão ser protegidos, havendo mesmo uma projeção dessa tutela, dessa proteção legal, para depois da morte. Um exemplo é a agressão à honra de uma pessoa falecida, em que uma eventual ação por danos morais pode ser proposta pelos herdeiros. A gente tem essa regra no Código Civil, lá no artigo 12, parágrafo único. Tratando-se de morto,
a legitimação para entrar com ações compete ao cônjuge sobrevivente, a qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Implica dizer que, mesmo após a morte, a proteção dos direitos da personalidade continua, ela prossegue em relação aos herdeiros de quem morreu. Então, está correta a proposição. A letra B diz: "São direitos relativos." Falso! Direitos da personalidade são direitos absolutos. O caráter absoluto desses direitos é fundamental para sua compreensão, e é importante que vocês não confundam direitos absolutos com direitos ilimitados, direitos sem limites. Não é bem assim, pessoal! Ser direito absoluto implica dizer ser
direito reconhecido erga omnes. Direitos absolutos são aqueles que têm reconhecimento erga omnes, ou seja, têm reconhecimento perante toda a sociedade. Essa é a expressão que a gente usa: erga omnes. Toda a sociedade deve reconhecer esses direitos: minha vida, minha integridade física, minha honra, minha imagem são protegidas contra todos. Não existe um sujeito passivo específico que deve respeitar os meus direitos da personalidade; não, todo mundo deve respeitá-los. Todos as pessoas têm direitos que se impõem a toda a coletividade, daí se dizer que são direitos erga omnes, direitos absolutos. E aqui a proposição B coloca que são
relativos. Está falsa a resposta, são absolutos. A letra C diz: "Prescritíveis." Falso! Direitos da personalidade são imprescritíveis. Minha vida, minha honra, minha integridade física vão ser protegidos enquanto eu estiver vivo. Errada a proposição! E a letra D diz: "São direitos renunciáveis." Olha só, de acordo com o artigo 11 do Código Civil, como regra geral, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Intransmissíveis e irrenunciáveis! A não ser que haja disposição de lei em contrário. Tranquilo? Então, a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade são características fundamentais dos direitos da personalidade. Eu não posso simplesmente chegar a um médico
e dizer: "Doutor, corta aqui meu braço." Ah, por quê? Porque eu quero. Não posso! Por que não posso? Porque o meu direito à integridade física não comporta renúncia, a menos que haja algum tipo de exceção legal. Um bom exemplo de exceção legal seria amputar um braço de um paciente para preservar a sua saúde. O paciente é diabético, está com uma gangrena no corpo e vai ter que amputar o braço para preservar a saúde dele. Aí, nesse caso, a lei abre a exceção, porque existe uma exigência de ordem médica que vai justificar a cirurgia. Tirando esse
caso, direitos da personalidade são direitos irrenunciáveis, são direitos intransmissíveis. Então, está errada a proposição D quando fala que são direitos, em regra, renunciáveis. Pasemos agora à próxima questão sobre direitos à personalidade. É correto afirmar, exceto... Bem, ser "exceto" é perigoso. Eles querem a resposta falsa. Ok. A letra A diz: "Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica." Está correta a proposição. Para submeter um paciente a tratamento médico de risco, o paciente tem que assinar um termo de consentimento, ele tem que consentir naquele tratamento médico. Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, o que requer, portanto, o consentimento inequívoco do paciente para que se possa submetê-lo a tratamento médico de risco. Ok? Recentemente, surgiu uma decisão do STF em matéria de religiões que proíbem que seus fiéis, que seus adeptos, possam ser forçados a receber transfusão sanguínea, e o Supremo deu uma decisão dizendo que esse tipo de recusa está dentro da legalidade, que não se pode forçar um paciente. E aí vamos dar nomes: Testemunho de Jeová. A submeter-se a transfusão de sangue contra a vontade dele. Para
forçar um paciente Testemunho de Jeová a se submeter a transfusão de sangue, ele deve consentir, o que se amolda à tese do consentimento informado. Está correta a proposição. A letra B diz: "Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos prenome e sobrenome." Prenome é o primeiro nome, sobrenome é o nome de família. Mário Godói: Mário é prenome, Godói é sobrenome. Está correta também a proposição. O item três: "Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial." Também está correto. Ok? Sem que a pessoa autorize, não se pode usar o nome dela para
fazer propaganda comercial. O que pode, segundo o STF, é uma decisão interessante do Supremo: escrever biografias não autorizadas. Biografias não autorizadas podem ser escritas, podem ser divulgadas ou mesmo vendidas pelo autor, ainda que a pessoa biografada não tenha autorizado. Essa ressalva foi objeto de uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal. Ressalva: Regra geral é que, sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Está correta a proposição C. Como a questão que é a falsa, né? Então, seria a letra D de dado. O pseudônimo, mesmo adotado para atividades lícitas, não goza
da proteção que se dá ao nome falso. Gente, de acordo com o Código Civil, pseudônimo... O que é pseudônimo? Apelido! O apelido usado para atividades lícitas recebe a mesma proteção que se dá ao nome. Eu dou como exemplo, até homenageando a pessoa, o nosso saudoso Silvio Santos, que na verdade não tinha esse nome. Silv Santos é pseudônimo, e o pseudônimo que ele utiliza para atividades, como artista que era, como apresentador de programas, recebe a mesma proteção que o nome dele, Senor Abravanel. Portanto, errada a proposição D. Como eles querem a resposta errada, seria o gabarito
da questão. Façamos a próxima: assinale a alternativa incorreta. O tema agora é domicílio. O domicílio do itinerante é o local onde for encontrado. Que seria esse tal de itinerante? Imagine uma pessoa que trabalha em circo: para onde o circo vai, essa pessoa o acompanha. É uma pessoa itinerante que não tem residência fixa, que não tem ponto central. E para esse tipo de pessoa, o domicílio é o local onde a pessoa for encontrada. Onde ela for encontrada, lá será o seu domicílio. Está correta a proposição A. A letra B tem domicílio necessário: o incapaz, o servidor
público, o militar, o marítimo e o preso também. Está correto! Olha só: domicílio necessário é aquele imposto por lei, que a lei impõe para certas categorias de pessoas. Uma delas é o incapaz. O incapaz é domiciliado legalmente no domicílio dos seus representantes ou assistentes. Onde os representantes ou assistentes forem domiciliados, lá também será o domicílio da pessoa incapaz. Servidor público, você que me assiste: muito em breve, o domicílio de servidor público é o local onde exerce permanentemente as suas funções. O militar... Toma cuidado com o militar. É bom abrir uma janela aqui: o militar, como
regra, o domicílio dele vai ser, em regra, o local onde servir. Onde ele servir será o seu domicílio. Lembra muito o itinerante: onde estiver servindo. Porém, tratando-se de militar da Marinha e da Aeronáutica, que servem respectivamente no mar ou no espaço aéreo, a regra é outra: o domicílio é a sede do seu comando. A sede do comando é que corresponde ao domicílio do militar da Marinha ou da Aeronáutica. Para o militar, como regra geral, é o local onde servir, mas para o militar da Marinha ou da Aeronáutica, aí prevalece a sede do seu comando. Aí
sequenciando: marítimo! Quem é marítimo? Marítimo seria o tripulante de embarcações civis. O domicílio do marítimo é o local onde o navio está matriculado, o local da matrícula do navio. E, por último, o preso: o domicílio do preso é o local onde cumpre sentença. Todas essas pessoas têm domicílio necessário. Está correta a proposição B. Letra C: domicílio de eleição é o local onde a pessoa escolhe para exercer seu direito de voto, normalmente coincidente com o local da residência da pessoa física. Cuidado, pessoal! Toma cuidado aqui: não confundir domicílio de eleição com domicílio eleitoral, ok? Domicílio de
eleição não é nada. Por isso, domicílio de eleição é o local escolhido pelos contratantes para fins de exercício e cumprimento dos direitos e obrigações contratuais. É o local escolhido pelos contratantes para fins de exercício e cumprimento dos direitos e obrigações contratuais, onde os direitos e as obrigações contratuais serão impostos, serão exigidos. É o que se passa, por exemplo, com o chamado foro de eleição, que normalmente as partes designam lá no contrato. É a última cláusula do contrato: em caso de litígio, as partes elegem como foro de eleição a Comarca de São Paulo. Ok? Então, o
caso específico aqui é o domicílio de eleição, que corresponde ao domicílio eleito, escolhido pelos contratantes para fins de exercício e cumprimento dos direitos e obrigações contratuais. A letra C, na verdade, está se reportando a domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral, aí sim, que seria o local onde a pessoa exerce direito de voto, direitos políticos. Tem nada a ver com domicílio de eleição. Está errada a proposição C. Como eles querem, a resposta incorreta seria este, seria este o gabarito da questão. E a letra D: o domicílio compõe-se de dois elementos: o elemento objetivo, que é o local onde
a pessoa se fixa, e o subjetivo, consistente na vontade de permanecer com ânimo definitivo. De fato, domicílio, de acordo com o artigo 70 do Código Civil, representa a junção da residência com o ânimo definitivo. Isso é domicílio: é a residência com ânimo definitivo. O local onde a pessoa reside, que seria onde ela se fixa, com a vontade de permanecer nesse local com ânimo definitivo. Então, juntando os dois elementos, a gente tem o conceito de domicílio. E aqui eu chamo atenção para que vocês nunca confundam domicílio com residência. Residência é apenas um dos elementos conceituais. É
o local onde a pessoa é radicada, onde ela se fixa, mas não basta isso. Tem que ter também o ânimo definitivo, a intenção de permanecer. Portanto, correta a A, pois conjuga residência com ânimo definitivo. Próxima questão: considerando as prescrições do Código Civil acerca das pessoas jurídicas, assinale a alternativa correta. Letra A: nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou caducidade da autorização para seu funcionamento, subsistirá para fins de liquidação pelo prazo de 2 anos. Veja bem, essa letra está tratando da temática da dissolução das pessoas jurídicas. Como é que se processa essa dissolução, essa extinção
dessa personalidade? Eu diria que a dissolução das pessoas jurídicas passa por três etapas fundamentais. Corta para a tela: a primeira etapa seria a verbação da dissolução. Ou seja, a verbar... Esta dissolução, junto ao registro, conferindo desse modo publicidade ao ato, nenhuma pessoa jurídica pode se dissolver nas ocas e escondidas. Não, isso tem que ser publicado, e essa publicação, que nós chamamos de averbação, é que vai fazer com que a dissolução da pessoa jurídica seja conhecida por toda a sociedade. Então, a ver-se a dissolução do registro, a etapa seguinte corta pra tela: liquidação. O que é
a liquidação? É a solução das questões patrimoniais pendentes. A solução das questões patrimoniais pendentes requer que se resolvam todas as questões patrimoniais que estão pendentes de solução, por exemplo: pagamento de débitos trabalhistas, citação de débitos fiscais, queima de estoque, encerramento de contas bancárias. Tudo isso é apurado dentro da etapa da liquidação de haveres, que é quando se resolvem as questões patrimoniais pendentes. E somente quando se conclui a liquidação, que não tem prazo para se concluir, somente quando ela se conclui, aí sim é que se cancela a inscrição. Etapa final: cancelamento, que é quando a pessoa
jurídica oficialmente deixa de existir. Então, são três etapas. E qual seria o erro da letra A? Foi falar aqui, ó, que essa liquidação subsiste por prazo de dois anos. Não, ela subsiste até que se conclua. Quando se concluir a liquidação, aí sim é que se cancela a inscrição da pessoa jurídica. Esse prazo aqui não existe; errada a proposição. A letra B decai em 2 anos o direito de anular decisões tomadas pela administração coletiva da pessoa jurídica quando violarem o estatuto ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. E aqui eu aponto uma característica muito
peculiar da banca Consulplan: toma cuidado com isso, pessoal. Essa banca adora prazos. É impressionante a recorrência de questões sobre prazos dentro da banca Consulplan. Então, pega teu Código Civil e sai marcando todos os artigos do conteúdo programático que contenham algum tipo de prazo. Veja bem: para anular decisões da administração da pessoa jurídica que contenham vícios de erro, dolo, fraude, decisões que violam a lei, que violam o estatuto, como diz aqui na letra B, o prazo não é de 2 anos; é de 3 anos. Decai em 3 anos, e não em 2, o direito de anular
decisões tomadas pela administração coletiva da pessoa jurídica quando violarem o estatuto ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Portanto, falsa a proposição. A letra C diz que são livres a criação, organização, estruturação interna e funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar reconhecimento e registro dos atos constitutivos. Essa é a resposta correta: princípio da liberdade religiosa. Para abrir a igreja no Brasil, o procedimento é livre; ninguém precisa de autorização do governo para poder abrir a sua igreja. Então, se tudo der errado na sua vida, abra uma igreja e fique rico, porque
no Brasil são livres a criação, organização, estruturação e funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado, sendo proibido ao poder público negar o seu reconhecimento ou seu registro. Correta a proposição C. E a letra D diz que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano em qualquer hipótese. Ó, quem manja um pouquinho de Direito Constitucional e Direito Administrativo já percebe que essa questão está falsa. A gente sabe que o Estado, a administração pública, de
modo geral, e as pessoas de direito público respondem objetivamente por atos dos seus agentes: responsabilidade objetiva, responsabilidade sem culpa. Porém, na ação de regresso, que é quando o Estado se volta regressivamente contra o agente público, aí, nesse caso, é necessário que se comprove atuação dolosa ou culposa. O dolo ou culpa vão ser exigidos na ação de regresso, né? Quando o Estado, regressivamente, se voltar contra o agente público, ok? Então, a regra é que, perante a vítima, o Estado responde de forma objetiva, sem dolo, sem culpa, mas quando se voltar em regresso contra o agente público,
o dolo ou a culpa deverão ser comprovados. Então, qual seria o erro da proposição D? Dizer que é ressalvado o direito de regresso em qualquer hipótese, não! Ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, em caso de dolo ou de culpa na ação de regresso, tem que provar dolo, tem que provar culpa do agente público. Tá errada a proposição D. Pasemos à próxima questão. À vista das disposições do Código Civil que regulamentam as Fundações, assinale a alternativa correta. Interessante que a questão fala de Fundações e as quatro proposições tratam de associações, né? Mas
enfim, letra A: os associados devem ter direitos iguais, mas o estatuto pode estabelecer categorias com vantagens especiais. Já é a resposta correta. Como regra geral, associados de uma mesma entidade devem ter os mesmos direitos, devem ter as mesmas prerrogativas. Porém, o estatuto pode instituir categorias com vantagens especiais; ele pode reconhecer vantagens para certas categorias de associados. Tá correta a proposição A; é a resposta da questão. Letra B: No silêncio do estatuto, a qualidade de associado é transmissível ao talante dos interessados no câmbio. Gostei dessa expressão final: ao talante. De acordo com a vontade. Talante é
a vontade dos interessados na troca, na transmissão. Gente, como regra, a qualidade de associado é intransmissível. Eu disse: como regra, a qualidade de associado é intransmissível; não se transmite a terceiros. Então, se eu sou associado junto a uma entidade, eu não posso simplesmente transmitir minha condição a uma terceira pessoa, salvo se o estatuto permitir. Então, a menos que o estatuto permita a transmissão, regra geral, a qualidade de associado é intransmissível. Então, tá errada a proposição B quando fala... É para fins não econômicos, para fins não lucrativos. Associações: elas não podem lucrar. Esse é um ponto.
O segundo erro é dizer que, forjando entre associados, direitos e obrigações recíprocos, de acordo com o Código Civil, não há entre associados direitos e obrigações recíprocos. Eu disse: não há entre associados direitos e obrigações recíprocos. Quer dizer, cada direito, cada obrigação do associado se exerce para com a associação. Então, eu, como associado, tenho direitos para com a associação; eu, como associado, tenho obrigações para com a associação. Não tenho direitos, não tenho obrigações nenhumas contra o outro associado, porque não há entre associados direitos e obrigações recíprocos. Portanto, errada também por esse motivo, a proposição C. E
a letra D é da competência privativa da Assembleia Geral: a destituição dos administradores da associação. Para destituir administradores, competência privativa de Assembleia. Está correto. Em caso de negativa da Diretoria de convocar a Assembleia Geral para debater e deliberar sobre a matéria, é garantido a um sexto dos associados o direito de promovê-la. Imagina que os associados queiram convocar a Assembleia; porém, a Diretoria não faz a convocação. Com o procedimento, juntar 1/5 dos associados, e com esse quórum de 1/5, a Assembleia Geral pode ser convocada. Vejam a pegadinha da proposição: eles colocaram como quórum 1/6, e na
verdade o quórum não é este; é de 1/5 dos associados. Mais uma vez reforçando que a Consulplan gosta de números. Eu falei de prazos em questões anteriores, mas números, de modo geral, são muito prestigiados pela banca Consulplan. Então, mais uma vez, reforçando: marque no seu Código Civil todos os artigos que tenham prazos, acrescentando agora também artigos numéricos, como esse aqui, que trata de fração. Um quórum dos associados pode convocar a Assembleia Geral para destituir um administrador. Errada, portanto, a proposição D quando fala 1/6. Próxima questão: os bens jurídicos podem ser definidos, na lição de Pablo
St. e Rodolfo Pamplona, como toda utilidade física ou ideal que seja objeto de um direito subjetivo, segundo o Código Civil. Tais bens podem ser classificados de diferentes maneiras. Acerca dessas classificações, assinale a alternativa correta: letra A. Os bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. Correto. Bens infungíveis são bens insubstituíveis, são bens únicos. Exemplo: uma obra de arte original. A obra de arte original classifica-se como um bem infungível porque não admite substituição. Até aqui, tudo certo. Sequenciando: desta forma, apenas os bens imóveis podem ser classificados como
bens infungíveis. Aí está falso. Nós temos também móveis infungíveis, como exemplo, que eu acabei de dar: a obra de arte. A obra de arte original é um bem infungível porque não admite substituição. E eu dou como exemplo sempre a Monalisa de Leonardo da Vinci, que está lá no Museu do Louvre, e é um bem infungível que não tem outro bem que seja igual àquele. Você pode até fazer uma réplica, mas não vai ser nunca o original. Errada a proposição A quando fala que o infungível tem que ser sempre imóvel. Apenas os imóveis podem ser infungíveis.
Falso. Letra B: os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade, que é o oposto do conceito anterior. Bens fungíveis podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade, a exemplo de uma maçã. Você vai no supermercado comprar uma maçã; ela pode ser trocada, ela pode ser substituída por outra maçã da mesma espécie, qualidade e quantidade. É um bem fungível. Correta até aqui a proposição. Aí, na sequência, desta forma pode-se afirmar que um automóvel não é fungível por se tratar de bem complexo e possuir número
de identificação, que é o chassi. Correto. Automóvel, pessoal, é classificado até pelo STJ, mesmo, como um bem infungível. Por quê? Porque o automóvel tem chassi; o automóvel tem identificação própria. Você consegue diferenciar o automóvel de qualquer outro. A título de exemplo: se eu empresto o meu carro para um amigo, ele vai ter que devolver o mesmo carro que eu emprestei, porque aquele carro tem identidade própria. Se eu coloco um carro no seguro, em caso de sinistro, em caso de colisão, a seguradora vai indenizar aquele carro específico e não nenhum outro que seja parecido com ele
ou que seja da mesma marca. Então, a identidade do carro, o seu chassi, vai infungibilidade, vai tornar aquele bem um patrimônio infungível. Está correta a proposição B; essa é a resposta da questão. Automóvel não é fungível; é bem infungível por se tratar de bem complexo que possui identificação. Próxima questão, aliás, próxima não, próxima alternativa: os bens imóveis são aqueles que não podem ser removidos ou transportados sem sua deterioração, destruição, e alteração da substância ou destinação econômico-social, que seria um celular. Um celular. Você pode transportar de um local para outro sem destruir, sem deteriorar, sem alterar
a sua destinação econômica. Social, celular é um bem móvel. OK, aí sequenciando desta forma, os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de bens móveis. Correto? Se você pega um saco de cimento e ainda não iniciou a obra, aquele material de construção que não foi entregue na obra conserva sua qualidade de bem móvel. Perfeito. E no final, só para concluirmos, uma vez empregados ao bem imóvel, em caso de demolição, não readquirem a qualidade de bens móveis. Aí fica falso, fica falso, porque aqui a questão está falando do entulho. O que
é o entulho? É aquilo que resulta da demolição de um prédio. Os entulhos resultantes da demolição voltam a ser bens móveis. Da última vez que eu demoli alguma coisa na minha casa, eu contratei, inclusive, um serviço de transporte, né? Um transportador para levar os entulhos pro lixão, que aqui em Recife é na Muribeca, lixão da Muribeca. Quando a gente coloca os entulhos de construções, então, de fato, esses entulhos, resultantes da demolição do prédio, que são até ensacados e removidos, vão ser considerados patrimônio móvel. Eles perdem a natureza imobiliária, então errada a proposição D, quando fala
que esses entulhos não readquirem a qualidade de bens móveis. Não, eles voltam a ser bens móveis. Errada a proposição D. Próxima questão sobre o tratamento que o Código Civil dá ao tema condição e termo: assinale a afirmativa incorreta. Eles querem a falsa. O termo inicial suspende a aquisição do direito. Primeiramente, o que seria o termo inicial? O termo inicial tem a ver com um acontecimento futuro e certo. Um acontecimento futuro e certo que vai acontecer, exemplo: o ingresso para se assistir a um show. Se eu compro um ingresso para assistir a um show, o show
tem data marcada, o show tem horário para começar. Consequentemente, a compra daquele ingresso vai me dar um direito a termo. A pergunta é: ao comprar o ingresso para o show, eu tenho direito adquirido de assistir? Eu já posso me considerar titular de direito adquirido de assistir ao show? Pessoal, sim, porque o termo ele não suspende a aquisição. A aquisição do direito se dá de forma imediata. Comprando o ingresso, eu me torno titular de um direito adquirido. Apenas o exercício desse direito é que vai depender do dia do show. Eu somente exercerei o direito quando o
dia chegar, que é quando eu vou entrar na arena, entrar no meu local e assistir ao evento. Mas até lá, o direito já é adquirido, apenas o exercício que fica em suspenso. Em resumo, o termo suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. O termo suspende o exercício. O exercício fica suspenso, mas não suspende a aquisição do direito, porque a ação do direito se processa de modo automático. Como eles querem a falsa resposta, letra A, quando fala que o termo suspende exercício e aquisição? Não, ele suspende o exercício, mas não a aquisição do direito.
Errada a proposição A, que seria o gabarito da questão, já que eles querem a resposta incorreta. Letra B: têm-se por inexistentes as condições impossíveis quanto resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Está correto. Condição é todo acontecimento futuro e incerto. Esse é o conceito: é todo acontecimento futuro e incerto que não se sabe se irá ou não acontecer. Pois bem, um dos casos de condição é a condição resolutiva. Condição resolutiva é quando o negócio opera efeitos de eficácia imediata, indo a perder esses efeitos com seu advento. Então, essa seria a lógica da condição resolutiva.
O negócio opera eficácia imediata, desde logo, desde já, vindo a perder esse efeito com advento da condição. Ah, ficou complicado? É muito simples, pessoal, é muito fácil de entender. Eu vou lhe dar um exemplo: imagina que um pai compra um carro e presenteia o seu filho. Filho, toma esse carro. Esse carro é seu. É meu, pai? É seu. Pode dirigir? Já pode sair por aí com o carro pelas ruas. Agora, se você for reprovado no vestibular final do ano, ou no Enem, eu vou tomar o carro de volta para mim. Eu tomarei o carro se
você for reprovado. Então, esse exemplo ilustra muito bem a chamada condição resolutiva. Por quê? Porque o negócio operou efeitos imediatos. O pai entregou o carro ao filho, desde logo, desde já, no mesmo dia em que ele fez a doação. Agora, se acontecer a condição resolutiva, que seria o filho ser reprovado no ENEM ou no vestibular, o pai tomará o carro de volta para ele. Eu tomarei o carro de volta se você for reprovado. Então, condição resolutiva. O que diz o Código Civil? Que, quando houver no negócio uma condição impossível, resolutiva, essa condição se considera como
se não fosse escrita. Tem-se por não escrita. Tem-se por inexistente a condição impossível como resolutiva. Imagina vocês: o pai dá o carro ao filho e diz: "Filho, o carro é teu, pode dirigir com ele por aí. Agora, se você, por exemplo, viajar para Júpiter, eu tomo de volta". Gente, se você viajar para Júpiter, eu tomo de volta. Esse filho não vai nunca conseguir viajar para Júpiter. Consequentemente, o pai nunca vai poder tomar o carro de volta, não é verdade? "Se você viajar para Júpiter, eu tomo de volta para mim." Isso não existe. Essa condição é
irracional; ela é considerada inexistente. Ok? Tem-se por inexistência as condições impossíveis quanto resolutivas e, na sequência, tem-se por inexistentes as condições de não fazer coisa impossível. Não fazer algo que é impossível que se faça, condição de não fazer coisa impossível também se tem por inexistente. Vou lhe dar um exemplo: eu dou o carro. Se você não for a Júpiter, se você não for a Júpiter, ganha um carro. É uma condição de não fazer algo que é impossível. Não fazer algo impossível, essa condição também é irracional e se considera inexistente, se considera não escrita. Então, são
inexistentes a condição impossível, quando resolutiva, e a condição de não fazer coisa impossível. Está correta a proposição B. A letra C já fala sobre condição suspensiva. O que é condição suspensiva? Condição suspensiva é aquela em que o negócio só gera efeitos com seu advento, só produz efeitos depois que a condição acontecer. Exemplo: a Estratégia promete ao aluno uma bolsa de 2 anos se ele for aprovado no concurso TJ Rondônia. É só um exemplo, tá, pessoal? Tô prometendo bolsa a ninguém, mas a título de exemplo, a Estratégia promete uma bolsa de 2 anos pro aluno que
for aprovado no concurso TJ Rondônia. A condição é suspensiva, ou seja, enquanto essa condição não acontecer, enquanto essa condição não se verificar, não se adquire o direito. O direito somente é adquirido depois que a condição é implementada, que é o que diz a letra C. A letra C fala disso, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico a uma condição suspensiva, que só vai operar efeitos quando do seu advento. Só quando o aluno passar no TJ Rondônia é que ele pode cobrar a bolsa da Estratégia. Enquanto a condição não se verificar, não se terá adquirido o direito
a que visa o negócio jurídico. Está correta a proposição C. E a letra D: se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente, esta fizer novas disposições, estas não terão valor. Realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Parece algo muito complicado, mas é muito simples. Vou dar um exemplo bem claro: você promete uma casa pra filha depois que ela se casar. Quando você se casar, ganha uma casa. Afinal, quem casa quer casa, não é isso? É o ditado popular que diz. Então, quando você se casar, ganhará uma casa. Mas casamento é condição
suspensiva; é um acontecimento futuro e incerto. E a filha só ganha a casa quando vier a se casar com seu marido. Vai que, daqui para lá, o pai, arrependido, venda a casa para outra pessoa. Vai que, daqui para lá, o pai faça uma nova disposição com relação àquele bem. De acordo com o Código Civil, se a condição suspensiva for pendente e for feita uma nova disposição pelo promitente, por aquele que a estipulou, então, o pai promete a casa pra filha e, no meio do tempo, ele vende essa casa para outra pessoa. Essa nova disposição não
terá valor, uma vez realizada a condição, porque a filha estava na frente do terceiro. A filha estava à frente da fila, literalmente. Por quê? Porque, quando o pai prometeu para ela, ela tinha a expectativa de que iria ganhar a casa após o matrimônio. Vem um pai e passa a perna na coitada, vende a casa para um terceiro. Essa nova disposição não terá valor se for incompatível com a condição. Então, se alguém dispuser de uma coisa, letra D, sob condição suspensiva — darei a casa quando você se casar — e, pendente esta, fizer novas disposições, vender
casa para terceiro, estas novas disposições não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Está correta, portanto, a proposição D. Ok, pessoal? Olha só, fizemos aqui uma revisão de véspera que, como toda a revisão, é um pouco rápida. A gente tentou ser o mais didático possível, mas sempre fica aquela dúvida, aquele questionamento, aquele pé atrás. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pessoal, não se acanhem. Vocês podem procurar pelas minhas redes. Eu vou colocar aqui meu Instagram, corta pra tela: Instagram do professor, é o Mário Godói, underline Godói, para dicas, sugestões e interatividade com os
alunos. Eu adoro responder pergunta de aluno, pessoal, não tenho nenhum problema quanto a isso. Entre em contato comigo, estamos juntos, e boa sorte no seu concurso. Foco na sua preparação. Valeu, pessoal! Até a próxima. Salve, moçada! Tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa revisão agora de processo civil para o cargo de técnico no TJRO. Eu sou Ricardo Torques, professor da casa. Vou deixar rapidamente o meu Instagram @prof_torc e vamos lá conversar sobre processo civil, né, galerinha? É isso aqui, ó, edital de vocês. Tal que parece ser pequeno, mas não é
tão pequeno assim. E aí a gente vai, na revisão de véspera, hoje conversar com vocês sobre alguns pontos importantes, tá? Aquilo que eu acredito possa ser cobrado. Eu brinco que a revisão de véspera é o momento em que o professor, ele basicamente tem, em alguma medida, aqui que tentar acertar as questões de prova. Eu sei que é muito difícil, porém, basicamente isso que a gente faz, é basicamente esse o nosso foco aqui, tá? Porque limitado a uma hora, no máximo, de assunto, naturalmente não tenho tempo suficiente para desenvolver todos os temas. E eu vou buscando
algumas apostas. Tá bom, vamos lá, olha só, sem delongas, eu vou direto para o primeiro ponto, né? Na verdade, aqui abrange vários pontos do edital de vocês. E eu começo falando sobre normas processuais e serviços fundamentais, tá? Galera, o seguinte: essa parte do código é relevante, e entre todas as normas processuais civis fundamentais ditas lá, as que estão no artigo 9 e 10 são as mais importantes, tá? É a ideia, pessoal, do princípio do contraditório. Então, você pode abrir o caderno de provas e a questão vir falando: “Olha, não se profere decisão contra uma das
partes”. Isso aqui é importante porque, se a decisão for favorável, talvez a parte não precise ser ouvida sem que ela seja previamente ouvida. Por exemplo, né? O juiz não pode sentenciar contra o réu sem primeiro ouvir o réu. Essa é basicamente a ideia, e essa oitiva deve ser, como regra, prévia, né? Que se fala, em princípio, do contraditório, né? Um contraditório que tem que ser prévio, tá? Eu tenho que ter a possibilidade de me informar do processo e de como ele tá sendo conduzido, para que eu possa reagir a isso, né? Que é o aspecto
de eu tentar convencer o juiz dos meus argumentos. Isso se chama ampla defesa, né? Isso se chama produzir prova para que o juiz decida conforme aquilo que eu acredito que ele deve decidir, convencendo-o da minha tese. As duas partes são colocadas, né? Num processo dialético, então elas vão vir argumentar: uma de um lado, outra do outro; uma de um lado, outra do outro. Basicamente é isso, tá bom? Beleza, aí você olha pro parágrafo único e ele vem falar assim: "Olha, essa regra não vai se aplicar a alguns casos." E aí, basicamente, nós teremos situações em
que o juiz poderá decidir primeiro para depois ouvir as partes. Naturalmente, é uma situação de exceção, e são situações bastante lógicas. Eu gosto muito de usar um exemplo para poder demonstrar isso para vocês. Pense, por exemplo, num caso em que se busca lá a penhora, né, de eventuais recursos que a parte devedora tenha numa conta bancária, certo? Ela depositou a grana lá, tá na conta, e ela é devedora e não paga, né? Se o juiz eventualmente determinar a ordem: "Olha, vamos lá a penhora da conta bancária do sujeito," como é uma decisão contrária a ele,
o juiz pensa: "Eu tenho que aplicar o artigo 9 aqui, então vou primeiro ouvir a parte devedora." Devedor, intime o devedor para que se manifeste no prazo de 5 dias a respeito da penhora que será decretada contra o numerário que consta da sua conta corrente. Se o devedor tem uma pretensão de esconder o patrimônio, eu basicamente dei a ele a oportunidade de que ele faça o quê? De que ele saque a grana, que ele suma com qualquer dinheiro de lá. Então, são situações que não fazem sentido, né? O juiz ouvir para depois decidir, ainda que
seja contra. Então, o juiz decide, oficia diretamente ao banco, o banco vai lá, faz a apreensão do recurso e depois a parte é intimada: "Olha, dada a situação de débito, devido ao fato de você não ter, até então, feito pagamento e haver recurso para que possa fazer, foi determinado, por intermédio do Banco Central, a penhora do seguinte numerário de sua conta. Manifeste-se." Aí ele pode argumentar que, na verdade, ele não tinha sido intimado para pagar, que eventualmente havia dúvida sobre o valor ou a quem deveria pagar. Aí podem surgir inúmeras razões para ele vir, ou
até mesmo nenhuma, certo? Mas o fato é que ele pode. E aí o CPC vem e ele fala assim: "Olha, isso não vai se aplicar a que situações? Quando se tratar de tutela provisória de urgência, tá?" O exemplo que eu te dei é uma das situações de tutela provisória de urgência. Nós temos duas: nós temos a tutela provisória de urgência antecipada, tá? E nós temos a tutela de urgência cautelar. O exemplo que eu dei é de uma cautelar: uma é conservativa, a outra já tem o objetivo de você buscar o resultado final e trazer para
o momento atual. Mais adiante, na revisão, eu falo a respeito, tá? Nós também temos a possibilidade de esse contraditório não ser respeitado na tutela de evidência, só que na tutela de evidência não são para todos os casos, como se dá na tutela de urgência, mas apenas para as hipóteses do inciso em que eu tenho prova documental com precedente obrigatório. Na hipótese do inciso 3, em que há um pedido reio persecutório, né, fundado num documento com determinação de mandado de busca e apreensão, e também na hipótese do 701, que é uma espécie bastante peculiar de tutela
provisória dentro da ação monitória. Então, assim, o contraditório é prévio, a não ser na tutela de urgência, quando o juiz assim entender, e na tutela de evidência, nas hipóteses 701, 3112, 3113, tá bom? Beleza, OK. E aí vai vir, inclusive, o artigo 10, nessa mesma esteira, para dizer basicamente que o juiz não pode tomar uma decisão, né, independentemente do juiz ou tribunal, né, com base em algum fato ao qual ele não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Então, se ele vai decidir pela prescrição, as partes têm que se manifestar previamente sobre a
possibilidade ou não dessa prescrição. Se ele vai decidir com base em uma jurisprudência, ele tem que antes dar a oportunidade às partes para se manifestarem sobre a aplicação ou não daquela jurisprudência no caso concreto. E veja que ele deve fazer isso, ainda que se trate de matéria que ele tem a prerrogativa de decidir de ofício, ou seja, temas que ele possa tomar a iniciativa para decidir sozinho, tá bom? Beleza, essa é a minha primeira dica. Eu avanço para falar agora sobre ação e jurisdição, e especialmente dos artigos 16 a 20 do CPC. Eu vou colocá-los
aqui em tela para vocês; são artigos extremamente relevantes. O 16 eu não vou nem ler, porque é o menos importante de todos, mas, no todo, assim, são artigos muito relevantes e bastante cobrados, tá? O primeiro ali diz que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Pessoal, aqui estamos dentro ou diante das condições da ação. Então, para que eu possa ajuizar uma ação, eu tenho que ter pelo menos interesse e pelo menos legitimidade. São as duas condições da ação, perfeito? OK, o artigo 18, por sua vez, é muito importante para a gente entender
uma coisa: que uma coisa é parte material e outra coisa é parte processual. Geralmente, as duas se confundem. Por quê? Porque você tem um problema de direito material e você é parte processual; você vai ser autor da ação, certo? Então, há... Uma coincidência: você está saindo com o seu carro, e alguém bate, né? Houve um dano ao seu bem ou violação ao seu direito material. Você esperava que a pessoa consertasse, mas ela fugiu. Você ajuizou uma ação contra ela. Você é parte processual, você é autor de uma ação. Naturalmente, você está ocupando essas duas situações:
parte material e parte processual. A situação, entretanto, em que isso não gera uma coincidência necessária. Vou te dar um exemplo: vem lá o Ministério Público. Vou dar um exemplo aqui envolvendo o MP. Vem lá o Ministério Público e ele propõe uma ação de medicamento contra um estado. Vamos pegar o estado aqui de Rondônia, TJRO, certo? Promover uma ação para obter um medicamento, mas ele propõe essa ação para obter medicamento em favor de uma criança. A criança carente lá, ela está acolhida e ela precisa desse medicamento. Pergunto a você: quem é a parte de direito processual
autora? É o Ministério Público. E a parte processual, quem é? É a parte de direito material. Veja, é a criança, porque ela que está com seu direito à saúde violado, e também o devedor aqui, né? O estado de Rondônia. Então, você consegue perceber que, quando isso acontecer, estaremos diante, pessoal, de uma hipótese que nós chamaremos de substituição processual, na medida em que o Ministério Público aqui está substituindo. A criança poderia propor a ação, poderia, mas aí, né, ela não tem esse conhecimento; os pais talvez não tenham feito. E a constituição, veja, o ordenamento jurídico, ele
vem autorizar que o Ministério Público assuma a parte processual em nome de uma parte material. Tanto é que o artigo 18 fala que ninguém pode pleitear em nome próprio direito a lei, ou seja, ninguém tem que ficar espinhando e tentando resolver o problema dos outros, a não ser quando o ordenamento jurídico autorizar, que é o caso do Ministério Público. Aqui de toda sorte, o parágrafo único vai dizer que esta criança pode vir a intervir no processo como assistente litisconsorcial. Tá bom? Então, é isso que nós temos aí. Para encerrar, nós temos uma explicação mais detalhada
nos artigos 19 e 20 sobre o que é interesse. O interesse é pessoal, basicamente a declaração de existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Eu posso ter interesse em simplesmente declarar a existência de uma relação ou que ela não existe, ou buscar firmar a autenticidade ou a falsidade de um documento, ou até mesmo uma declaração de existência de uma relação, ainda que eu tenha algum valor para cobrar. Eu posso optar por não cobrar o valor e o juiz estará a distrito vinculado àquilo que eu eventualmente postule e busque em juízo.
Tá? Eu preciso que vocês entendam isso. Que isso fique bem claro para você. Tá bom? Capacidades. Avançamos para nossa terceira dica aqui, que é a temática das capacidades. E note, pessoal, que eu trouxe capacidades no plural por uma razão muito simples. Nós temos três espécies: a capacidade de ser parte, ou seja, quem pode titularizar ações perante o judiciário. E aí é qualquer pessoa, pessoa natural, desde que tenha nascido com vida; pessoa jurídica, desde que tenha registrado seus atos constitutivos. Temos a de ir a juízo. A capacidade de ir a juízo diz respeito a quê? Diz
respeito à capacidade que a pessoa tem de ir sozinha a juízo. Então, a pessoa jurídica, uma vez que ela registrou seus atos constitutivos, ela obteve a um só tempo, né, tanto a capacidade de ser parte como a capacidade de vir a juízo. Agora, para as pessoas naturais, ela precisará atingir a maioridade, certo? Ela tem que ter a plena capacidade civil. Se ela for absolutamente incapaz aos 16 anos ou relativamente incapaz dos 16 aos 18, ela precisará, respectivamente, de um representante ou de um assistente. Tá, beleza? E também tem a capacidade postulatória. A capacidade postulatória diz
respeito à prática de alguns atos de postulação para os quais se exige uma habilitação específica, que é ser bacharel em Direito. São essas três, e é o que nós passamos a ver agora a partir dos dispositivos aqui retratados. Tá? 70, eu não vou ler, mas é a capacidade de ser parte. 71 vem dizer o seguinte: que o incapaz, ou seja, quem não tem a capacidade de ir a juízo sozinho, irá mediante um representante, ou um assistido, ou mediante assistência, e poderá ainda, eventualmente, um curador. Quando que nós teremos essa figura do curador? Quando se tratar
de um incapaz que não tenha representante, ou se eventualmente houver colisão de interesses, certo? Tem pai, não tem mãe, vai propor uma ação contra o pai ou contra a mãe. Perfeito? Em se tratando de réu preso, revel, veja, o réu está preso, foi citado e não se defendeu, é revel, bem como réu citado por edital ou por hora certa, que são as modalidades fictas, e, desde que não constitua advogado. Esses réus, esses dois tipos de réu, que são o réu preso revel ou o réu, se fictamente revel, se não tiverem advogados altos, terão um curador,
e esse curador será quem? A Defensoria Pública. Tá bom? Beleza! Ponto importante aqui para vocês. Um outro ponto importante, pessoal, diz respeito ao próximo artigo que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que é o 73. Esse dispositivo fala a respeito da proteção dos bens que são constituídos em razão de um matrimônio, de modo que, por exemplo, esta casa onde eu estou agora, que é onde eu faço minhas aulas, é a casa minha e de minha esposa. Ela foi construída em razão do nosso casamento, certo? E aí ela é minha, mas metade é minha e
a metade dela. Por conta disso, há esse artigo aqui a dizer que, se eventualmente eu for propor uma ação para discutir alguma coisa referente a essa casa, ela deve propor comigo ou me consentir para que... Eu o faça: se alguém nos processar para tentar eventualmente pegar essa casa, deverá processar a mim e a ela, certo? Então veja: o cônjuge necessitará de consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real e imobiliário. Isso somente não será necessário se eles estiverem casados em regime de separação absoluta de bens, porque aí cada bem é de cada
um; ou essa casa será apenas minha, ou essa casa será apenas de minha esposa. Tá bom? Agora o seguinte: se eles forem processados, eles devem ser necessariamente citados para ações que versam sobre direito real imobiliário, a não ser que estejam casados em regime de separação absoluta, resultante de ato ou fato que seja condizente a ambos, fundadas em dívida contraída a bem de família ou ainda que tenha por objeto reconhecimento à constituição ou à extinção de algum tipo de ônus sobre bens que são do casal. Tá bom? Beleza! Pessoal, veja aí: vamos supor que eu e
minha esposa estamos brigados. Eu quero propor uma ação, ela não consente. Se ela não tiver um argumento razoável para o consentimento, eu posso vir buscá-lo judicialmente. Posso buscar o suprimento judicial desse consentimento e aí o juiz vai avaliar se o consentimento dela foi válido ou não, se faz sentido ou não. Se o juiz entender que não faz sentido, o juiz diz: "Olha, pode propor a ação em nome dela." Ele declara o consentimento dela judicialmente; caso contrário, não. Tá bom? Terceira dica foi e eu avanço para a próxima, que já basicamente, a bem da verdade, é
a continuação do que nós temos ali no nosso CPC, tá? Continuação. Olha só, galera: deveres das partes e procuradores já está no artigo 77. Aqui, basicamente, quando nós falamos sobre deveres das partes e procuradores, o tema que nós vamos discutir é "litigância de má-fé versus ato atentatório à dignidade", e eu preciso que você vá para a prova de forma muito esclarecida em relação a quando é um e quando é o outro. Tá? Muito, muito importante isso aqui! Porque vamos lá, nos dois casos, nós temos uma violação aos deveres das partes. Nos dois casos, a diferença
é que, em um, você vai causar um prejuízo direto ao poder judiciário (ato atentatório); no outro, você vai causar um prejuízo mais intenso, indireto, à parte contrária (litigância de má-fé). O artigo 77 vem estabelecer os deveres todos; ele vem listando os deveres todos, certo? Ele vem colocando cada um deles, porém há dois deles que eu preciso chamar atenção: cumprir e não cumprir com exatidão. Veja: um dos deveres é cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final, ou seja, cumprir as decisões do juiz e não criar embaraços à efetivação das decisões. O outro,
pessoal, já está no inciso VI, que é não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Nesses dois incisos, caso isso seja violado, ou seja, se a parte praticar inovação ilegal, ou se a parte criar embaraços à efetivação do processo, ou se ela não cumprir as decisões judiciais, nós temos o que? Nós temos ato atentatório à dignidade da Justiça. Tá? Então, nos incisos aqui, nós teremos o ato atentatório à dignidade da Justiça e o ato atentatório à dignidade da Justiça, pessoal, basicamente vai resultar em quê? Vai resultar em uma multa de
até 20% sobre o valor da causa. Tá? Até 20% calculado sobre o valor da causa. Essa multa vai ser naturalmente revertida ao poder judiciário e, em se tratando de uma situação em que, até 20% do valor da causa e, aí, se tratando de algum valor da causa irrisório ou inestimável, pode ser até 10 salários mínimos. Você tem que cuidar para não confundir o ato atentatório à dignidade da Justiça com litigância de má-fé. Por quê, pessoal? Porque na litigância de má-fé nós temos o quê? Ela decorre de todas essas situações. Eu até vou deixar você anotar
aqui, eu quero que você leia com um pouco mais de atenção, tá? Então tá lá: eu vou buscar algo contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, você vai mentir nos autos, você vai tentar usar o processo para algum objetivo ilegal, você vai opor uma resistência de forma injustificada ao andamento do processo, você vai agir de modo temerário, que é: você não sabe, o cara é meio aloprado, do nada, ele inventa algumas coisas. Você vai provocar incidente infundado só para o processo ser, né, atrasado, digamos assim. Você vai propor recursos com intuito meramente protelatório para
evitar o desfecho do processo. Nessas situações, você também sofrerá uma multa; porém, a multa aqui é calculada de 1 a 10%, calculada sobre o valor da causa. É menor, mais ou menos. Por quê, pessoal? Porque, paralelamente à multa, a parte fica responsável por indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e arcar com os honorários advocatícios e também com as despesas. Então, se demonstrada aqui que trouxe prejuízo poderá levar uma relativamente grande. Lembrando que, da mesma forma como vimos lá, nós temos essa regra aqui dizendo o seguinte: que se o valor da causa for
irrisório, você vai usar a regra de até 10% do valor do salário mínimo. Tá? Então beleza, pessoal, fiquem atentos a isso. São pontos importantes aqui e essa é a nossa quarta dica. Eu avanço de forma bem dinâmica, tá? Pessoal, eu tenho aqui cerca de 40 slides. Já estamos com mais de 20 para 25 minutos aqui de aula com vocês e eu chego mais ou menos na metade. Então, estamos até um pouco adiantados, mas estamos bem. Só que eu preciso estar, em alguma medida, adiantado porque, daqui a pouco, eu vou falar de procedimento comum, tá? Em
relação ao procedimento comum, aí a gente já tem bastante coisa para falar. Quinta dica: o MP, tá? O edital deixa bem claro; ele fala do MP, ele fala da advocacia e ele fala da defensoria. Parte das regras que eu verei aqui serve para todos eles e, quando for, eu vou falar, tá? Mas o IP tem algumas coisas a mais que chamam atenção. Primeiro, pense no processo civil, tá? Eu tô falando aqui ó, no processo civil, o MP vai atuar como parte e ele atua como parte de acordo com a orientação constitucional, né? O artigo 129
da Constituição traz as suas atribuições institucionais ou ele atua como fiscal da ordem jurídica. E, como fiscal da ordem jurídica, nós temos, né, além de algumas outras situações esparsas, né, espalhadas pelo CPC, especialmente o artigo 178 dele, tá? Beleza! E você precisa saber do artigo 129; eu deixo para você estudar lá no Direito Constitucional, se é que caiu, tá? Eu não consigo dizer se não caiu em Direito Constitucional essa parte na prova; você não precisa se preocupar, mas o 178 você precisa se preocupar, sim. É um dos artigos mais importantes para serem estudados aqui, tá?
Então, essas são as duas formas de atuação do Ministério Público no processo civil. Tá? Aí você vai ver aqui que ele coloca isso no artigo 176, coloca isso no 177, e o 178 vem dizer que tipos de processo o MP atuará como fiscal da ordem jurídica. E aí nós temos interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Tem que lembrar, gente, não tem jeito; nesses processos ele não será parte, porém ele vai ser intimado depois das partes, para, no prazo de 30 dias, se manifestar. Para verificar
se os processos que estão sendo conduzidos pelos seus respectivos autores e réus estão sendo conduzidos de acordo com a lei. Então, ele precisa ser intimado, ele não precisará necessariamente manifestar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso intimá-lo. Tanto é que, se o Ministério Público não for intimado, gente, nós poderemos ter uma nulidade do processo. Aqui, o processo poderá ser anulado, e quem vai decidir se o processo deverá ser anulado não é o juiz. O juiz vai perceber que a caca foi feita lá pelo cartório; o cartório, por exemplo, deixou de intimar as partes e vai
dizer assim: "tá bom, então agora MP se manifeste, se você entender que a sua ausência de participação nesse processo poderia ter levado ele para outro caminho, eu vou anular o processo e você vai participar." Se você entender que, embora você não tenha sido intimado, o processo foi bem conduzido, nós seguimos. E é assim que vai funcionar. Só lembrando, isso é muito importante: o fato de a fazenda pública participar deste processo não vai configurar por si só interesse público ou social, porque você olha que há interesse público social, ou seja, se tiver o Estado, tem interesse
público, não necessariamente, tá? Interesse de incapaz, certo? E coletivos pela posse de terra rural ou urbana, beleza? Show de bola! Essas regras são específicas, tá? Porque isso aqui é só para o MP. Aí eu viro 180 aqui, pessoal, tá? Antes dele, o 179, mas o 180 vai valer para os dois. O que acontece? Ele se manifesta como fiscal da ordem jurídica depois das partes, ele é intimado de todos os atos, ele pode produzir prova, ele pode requerer medidas processuais, mas ele pode apresentar recursos. Essas são as possibilidades e atuação como fiscal da ordem jurídica. Vou
até numerar: a, b, c, d e e. Tem que lembrar, agora sim, as regras que vão ser aplicáveis a todos. O que nós temos? Por exemplo, prazo em dobro quando o prazo não for específico pro MP. O MP tem prazo em dobro. Então, recurso de embargos, em vez de 10, apelação, em vez de 15, é 30, tá? Isso vale para a advocacia, isso vale para a defensoria, tá bom? Beleza! Outro ponto importante que não está aqui, mas é bom você saber, tá? Na parte de atos processuais, eles serão intimados. Isso vale também para o MP,
isso vale também para a defensoria e isso vale também para a advocacia pública. A intimação, ela é pessoal, e a intimação pessoal se dá mediante carga. Então, eles precisam pegar os autos. Remessa, alguém leva os autos lá, ou de forma eletrônica, que é o meio mais utilizado hoje, tá? Então, nós temos essas três formas de intimação pessoal que se aplicam a esses entes, tá bom? Lembrando, por fim, que isso também vai se aplicar a todos que, se eventualmente o membro do Ministério Público fizer alguma caca, escorregar, pisar na bola e gerar algum prejuízo a alguém,
nós temos uma responsabilidade que é, claro, civil, porque a responsabilidade criminal não é aqui analisada. Essa responsabilidade civil é regressiva, tá? Só vou marcar o "regressiva", certo? Ou seja, primeiro se vai contra o Estado para depois buscar o Ministério Público, certo? Isso quando houver dolo ou fraude no exercício da função. Note que aqui você não vai ver a palavra "se", se ele foi negligente, se ele foi imprudente, se ele foi imperito. Ou seja, ao passo que o servidor responde por culpa, membro da MP, advogado público, defensor e o juiz não, tá? Beleza? Encerrar essa dica
para ir para a subsequente. Aqui na subsequente, pessoal, eu basicamente trouxe alguns pontos, tá? Não na forma de artigo, como eu vinha fazendo até então, mas trouxe alguns pontos para que a gente pudesse aqui conversar, tá? Atos processuais que são os pontos que me parecem ser os mais importantes. Primeiro, são praticados em dias úteis, tá? Que são considerados dias não úteis: sábado, domingo, feriado e dia sem expediente por alguma razão, o foró fechou, tá? Esses dias aqui são considerados dias não úteis. Os demais são... Dias úteis, beleza! OK, os atos são praticados das 6 às
20 horas. Pode ser prorrogado, sim, para evitar grave prejuízo ou até mesmo para você, né, prejuízo ou grave dano às partes. Aqui eu até coloquei, eu anotei, mas aqui embaixo eu tinha os dias não úteis. Lembrando que citação, intimação e a execução (H) podem ser realizadas fora do horário, então pode ser realizada, por exemplo, às 21 horas ou às 2 da manhã, certo? Inclusive em dias não úteis, ou seja, em sábado, domingo e feriados. O expediente forense precisa de autorização do juiz? Não! Então vou colocar aqui: não precisa de autorização. Tem que respeitar a idade
domiciliar, mas não precisa de autorização. Isso aqui é bem importante; cai pra caramba isso aqui em prova, tá? Beleza! Entre as formas de citação, pessoal, estão: correio, oficial de justiça, edital, retirada dos autos em cartório e comparecimento espontâneo. A mais importante de todas é a eletrônica, que é o meio preferencial atualmente utilizado. Em relação à citação eletrônica, embora hoje isso já não seja uma novidade, né, porque é uma alteração de 2021, ela é a realidade e ela é bastante cobrada. Cada vez mais, os tribunais estarão caminhando para o procedimento eletrônico citatório, pessoal. E não vai
ser diferente em Rondônia. Eu confesso que eu não conheço lá, mas muito provavelmente boa parte dos processos já estão digitalizados. Como que funciona a citação eletrônica? Mais ou menos vai funcionar da seguinte forma: apresenta a petição inicial, tem o registro e a distribuição. O juiz faz análise de admissibilidade para ver se não há vício processual, vício material, de modo a permitir a decisão de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar. Se não for o caso, ele marca a audiência e despacha para a citação. O réu é citado para tomar conhecimento de uma audiência que
ele deverá participar, que é uma audiência conciliatória. E aí, do outro lado, você tem uma série de prazos. Por exemplo, tem 45 dias para que seja feita, desde o momento que nós temos a propositura da ação, certo? Que é ali quando você tem a apresentação da petição inicial até o momento citatório. Deve ser feito tudo isso em 45 dias, uma vez que o juiz despachou aqui embaixo para citar. O servidor tem que encaminhar a citação eletrônica no prazo de dois dias. Uma vez encaminhado, a parte tem que confirmar o recebimento em três dias. Se ela
não confirmar, o juízo vai buscar Correios; depois, oficial, ele vai buscar outras formas de citação, nessa ordem, inclusive. Tá beleza? Mas se ele confirmar no quinto dia útil, a contar da confirmação, você vai ter a efetiva citação. E aí, no dia útil seguinte, começa a contagem do prazo. É uma tabela importante. Se você quiser dar o seu print, pode dar; o material tá na descrição do vídeo, como você sabe. Mas vale a pena, eventualmente, caso deseje, né, você printar isso. E aqui até trouxe um exemplo para vocês. Então vamos tentar entender aqui. Olha só: nós
tivemos ali um processo que chegou no Judiciário, e aí teve o disparo do e-mail, né? O disparo com a citação, aquela que você tem que o servidor tem que fazer em dois dias úteis. Tem três dias para confirmar. A confirmação veio no segundo, no meu exemplo, certo? Ok! Se a confirmação vem no segundo, você vai ter lá até o quinto dia útil subsequente. Lembra que sábado e domingo eu fui pulando? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então eu pulo os dois. Você vai ter o começo do prazo aqui e o primeiro dia do
prazo lá no dia 11, lá na quarta-feira. E aí você vai contando os dias naturalmente do prazo, pulando sábado e domingo. O mais interessante aqui, pessoal, nem é tanto isso, mas é você ficar atento: a situação de parte não confirmar, você vai buscar a citação pelos Correios. Se não der certo, correio é oficial, e na primeira oportunidade que a parte tiver para comparecer em juízo, ela tem que apresentar justa causa por não ter confirmado, dizer o porquê ela não confirmou. Se o juiz entender que ela teve uma boa razão, beleza. Senão, o juiz aplica uma
multa de até 5% sobre o valor da causa. Tá? Importante saber, sem sombra de dúvidas, muito importante ficar ligado. E aí, pessoal, veja só! Agora eu vou para a dica seguinte, dica que eu acho que é extremamente importante para a prova de vocês, extremamente importante para a prova de vocês, que é sobre tutela provisória. E a penúltima dica, depois a última, é a dica mais extensa de todas, tá? Por isso que eu vou reservar boa parte do nosso tempo para ela. Tá, galera? Sobre tutela provisória, o que você tem que saber? Basicamente, você vai construir
a sua análise na prova de uma forma muito simples. Eu gosto muito de pensar dessa forma: você vai construir a sua análise em dois passos. O primeiro passo: vamos lá! Primeiro, eu tenho que saber que é uma questão de tutela provisória. A questão vai dizer, vai dizer: "olha, diante de uma tutela provisória". Ela muitas vezes dizer, certo? Beleza! Se eu já souber que é tutela provisória, eu vou me perguntar: é urgente? Certo? E aí, pessoal, você vai buscar a resposta. Se a resposta for não, teu problema tá resolvido. Se a tua resposta for sim, você
tem que vir para o segundo passo. Porque se a tua resposta for não, é uma tutela de evidência. Tá? Ficou ruim aqui colocar de evidência. Colocar bem grandão para destacar, você resolveu. Você já sabe qual é a espécie. Ou seja, eu sei que a tutela provisória, porém não tem urgência, então é evidência. Tá? Agora, se eu chegar à... Conclusão de que é urgente. Aqui é uma pergunta: colocar é urgente? Sim, eu tenho que vir para o segundo passo. E aí, no segundo passo, tem que vir assim: o que se pretende ou o que pretende. Ou
seja, o que a parte que está requerendo essa tutela pretende? Ela pretende (vou colocar em branquinho aqui) o resultado final; ou seja, o que ela ganharia ao final do processo. Ou ela tem uma pretensão de proteger, preservar. Se, eventualmente, lá no exemplo da penhora que eu dei no início, ela tem simplesmente a pretensão de proteger o dinheiro, penhorar para que ela possa dar seguimento à execução. Fica depositado online, “é celar”. Tá bom? Se não for proteção, vai ser obter o resultado final, por exemplo, lá, garantir que o hospital me atenda pelo plano de saúde, é
antecipada. Tá bom? São os dois passos e não tem mais nada com o que você se preocupar. É isso. Porque vamos lá, as três espécies são provisórias. As três espécies são provisórias, né? Não há urgência na evidência. A diferença da antecipada para a cautelar é que uma é satisfação do direito, realizar a pretensão final agora; a outra é a proteção do direito, conservação. E é isso. Para eu poder encerrar, aí eu vou sair de tela e eu preciso que você, claro, conheça as hipóteses em que cabe essa tutela da evidência. Tá? Veja primeiro que ela
é independentemente da demonstração de perigo, de dano ou risco ao resultado útil do processo; ou seja, ela é independentemente de urgência, certo? E quando que ela cabe? Quando ficar caracterizado abuso do direito, abuso do direito de defesa, ou manifesto propósito protelatório da parte. Quando você tiver os fatos comprovados apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de recursos, casos repetíveis ou súmula vinculante. Quando se tratar de pedido repetitório ou quando você tiver ali uma prova documental e a parte contrária não trouxer uma prova capaz de gerar uma dúvida razoável. Certo? São essas hipóteses. Lembrando que,
nesta hipótese aqui, e nesta hipótese aqui, que são os incisos dois e três, o juiz pode decidir liminarmente. Tá bom? Beleza, show de bola, galera! Para eu poder encerrar aqui com vocês agora, procedimento comum. Tá? Veja, eu tentei e é revisão de véspera, né? Eu sei que você está ansioso, você quer o máximo de conteúdo. Eu, como professor, quero trazer para vocês a nata da nata da nata. Aquilo que, se eu fosse fazer a prova, eu colocaria para o concurso objeto para ban em questão, né? Consulplan aqui. E aí é um negócio que a gente
fica até um pouco apreensivo, né? Mas é assim, tá? É assim. E aí, se você for ver o digital de vocês, quando eu comecei, ele parecia sucinto, mas ele basicamente fala procedimento comum. E, cara, procedimento comum é tudo do processo. Depois, ele vem em detalhe, ele fala de recursos, ele acha que ele fala, não sei se ele fala de recursos já lá. Eu sei que eu não trouxe recursos para a revisão, mas se eu não… Não lembro agora, mas eu já confirmo aqui para vocês. É, não, ele não fala. É bem isso, ele não fala
de recurso, mas ele fala o procedimento comum, cumprimento de sentença, execução. Ele explica bem as tutelas de urgência, evidência, então ele cobra isso, né? Não, ele coloca recurso, assim, espécies, conceitos, requisitos e prazos. Então, cobra todo o processo civil, basicamente. Tá? Mas, beleza, olhando para cá, pessoal, para o procedimento comum, que eu quero fazer agora com vocês, eu quero desenhar a linha do tempo tradicional deste procedimento comum para que você tenha uma visão do todo. E aí, eu vou deixar uma tela depois que você vai colocar, vai dar um print, ou se você não já
pegou no material, você já deve ter visto que é um dos últimos slides que eu deixei ali, que é basicamente o coração do procedimento comum, com uma série de detalhezinhos que você vai tentar lembrar para a prova de amanhã. Tá? Mas vamos lá, como que funciona, gente? Olha só: procedimento comum basicamente vai iniciar com o quê? Ele vai iniciar lá com a petição inicial. Você vai ter a petição inicial, certo? Uma vez apresentada a petição inicial, nós temos o registro e a distribuição, que é a documentação e a outorga para um juízo competente. Tá? Feito
isso, pessoal, nós temos a fase da admissibilidade. E essa fase da admissibilidade se abre para permitir o indeferimento da petição inicial, que é aquela decisão em que o juiz extingue o processo sem resolução do mérito por vício formal. Antes, ele precisa dar a oportunidade à parte para complementar ou emendar a petição inicial, se ele perceber esse vício. São vícios formais ou improcedência liminar do pedido, quando você pede algo que contraria um precedente. Obrigado. Está prescrito, decaído. Tá? Que é um vício material, aqui não precisa nem dar prazo para emenda. Ou ele vai determinar que seja
feito o quê? O despacho de citação. É isso, isso é feito na admissibilidade. Tá? Se você considerar que nós teremos a ação admitida, porque nos dois casos aqui, pessoal, nós temos uma sentença. Né? O que que haverá? Nós vamos seguir com o quê? Com a citação da parte ré para que compareça a uma audiência de conciliação e mediação, certo? Essa audiência aqui só não acontecerá se a parte autora, lá na petição inicial, disser que não quer fazer acordo e a parte ré, 10 dias antes da audiência, depois de citada, disser que também não quer fazer
o acordo. Essa audiência pode resultar num acordo ou não, você pode ter um acordo ou não. Se você não tiver um acordo, o que que nós temos? Nós temos o processo rumando, né? Sua sequência ali, colocar um três pontinhos aqui, continuo lá, rumando. Para quê? Para que agora nós tenhamos a contestação, podendo a parte apresentar a sua reconvenção, que ela tem que ser conexa com a ação ou com o pedido principal. Ela é ofertada junto, né, da contestação; é um contra-ataque. Pode ser feita com terceiro, em consórcio com um terceiro, contra o autor ou contra
o autor e um terceiro, tá bom? E é autônoma. Depois de apresentada a reconvenção, o que nós temos? Nós temos réplica e podemos ter tréplica. E, na sequência, o juiz começa a tratar das questões preliminares. Decididas as questões preliminares, o juiz vai avaliar o julgamento antecipado de mérito. Neste julgamento antecipado de mérito, o que pode acontecer? Pode ser que o juiz entenda que não é possível e vai seguir certo, não tem julgamento antecipado em mérito. Por quê? Porque eu preciso produzir prova. Pode entender que esse julgamento de mérito parcial, de mérito, ele vai ser parcial.
O julgamento antecipado de mérito vai ser parcial; tem dois pedidos: um pedido é incontroverso, o outro ele vai marcar audiência, ou pode, ainda, nesse caso, uma decisão interlocutória da qual cabe recurso. Ou ainda ele pode perceber que se trata de julgamento de mérito total, em que ele já consegue decidir o processo por um todo e, portanto, preferir dar uma sentença sem que haja audiência. Perfeito! Fato é que, se nós tivermos aqui um caso de não ter julgamento antecipado de mérito ou ele for parcial, o juiz vai para a decisão saneadora e, da decisão saneadora, para
a audiência de instrução e julgamento. Na decisão saneadora, são fixados os fatos controvertidos, indicadas as provas, né, as teses jurídicas. O juiz pode até fazer inversão, marcar audiência, assim vai. Beleza! A audiência de instrução probatória é feita, se produz prova e, depois, o julgamento. Julgamento pode se dar em audiência ou depois; essa sentença pode vir em gabinete. Vindo a sentença, nós temos os recursos; depois dos recursos, nós temos aqui o encerramento da fase de conhecimento e começamos com a fase de cumprimento de sentença. Depois de cumprida, gerará a extinção do processo. Então, basicamente, o que
eu fiz, pessoal? Eu coloquei aqui em três linhas a estrutura do procedimento comum, que eu demonstro por isso aqui. Se você estava anotando, fica tranquilo, isso aí já tá à disposição de vocês. Dá um print, coloca tela cheia, tenta baixar numa boa resolução ou pega o material na descrição do vídeo, tem todas essas etapas aqui melhor descritas, tá? E é isso que você tem que ficar atento, né? É o que dá para você olhar agora antes da prova. Beleza, galera? É isso! Tá, de forma bem objetiva, né, em termos de revisão de véspera. Esses são
os pontos principais que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Tentei ser abrangente; pode ver que nós falamos de normas processuais, ação e jurisdição, capacidades, deveres das partes, Ministério Público, atos processuais, tutela provisória e procedimento comum. Foram oito temas. Tudo der certo, desses oito temas, embarcamos aí umas três ou quatro questões; eu fico feliz da vida demais se isso vier acontecer. Tá, deixa eu até confirmar aqui, pessoal, na nossa agenda. Você vai seguir aí agora com o restante da sua revisão, mas não temos, tá? Vocês não sairão com o gabarito em mãos, com o
caderno em mãos. Portanto, nós não teremos, naturalmente, nós não teremos aí nosso gabarito extraoficial, tá? Vamos esperar o caderno de prova de vocês no início da semana, avaliamos se há alguma questão da qual pode vir caber recurso e, aí, a gente volta a se falar, tá bom? @prof torx, qualquer dúvida, sugestão ou crítica, vocês me encontram lá no Instagram. Valeu, moçada! Uma excelente prova a todos e a gente se vê até mais. Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem animados. Eu sou Priscila Silveira e nós estaremos juntos nesta revisão de
véspera para o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia na matéria de Direito Penal. Eu quero aqui dizer para vocês que o edital é assim, aquela coisa enorme, mas nós vamos priorizar. Eu tenho feito isso nas revisões de véspera, né? Priorizando a parte geral. E eu digo priorizando, mas não só falando dela, tá? Aqui a gente tem algumas dicas. Eu vou falar de aplicação da lei, princípios; aliás, vou trabalhar com vocês aqui algumas outras dicas, né? Concurso de pessoas. Vou falar um pouquinho de intercrimes, do conceito analítico de crime, mas nós também vamos trabalhar a
parte especial em alguns crimes, aqueles que eu acho que mais caem. Por quê? Porque cai crime contra o patrimônio, pessoa, para vocês, né? E vou falar de fé pública e administração pública para a gente encerrar essa nossa revisão. Tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o direito penal, para que ele possa ser aplicado, ele é regido por algumas garantias, em especial, constitucionais. Então, essas garantias, o que vai acontecer para a gente aplicar? Você não pode esquecer do princípio da legalidade, até porque ele vem aqui dentro da própria aplicação da lei
penal. Então, nós temos legalidade, anterioridade e reserva legal. Esses princípios se relacionam com a própria existência do direito penal. Por quê? Porque eu não posso falar de crime e nem de pena se não estiver na lei. Só que nós vamos ter que lembrar que o Estado vai regular qual seria o momento em que essa lei passa a vigorar para que nós possamos aplicá-la. Por quê? Porque, para que o sujeito possa ser punido, ele tem que cometer esse crime antes da lei estar em vigência. Esta é a regra. Por quê? Porque o tempo vai reger o
ato aqui no Direito Penal. Então, você precisa se lembrar do seguinte: em especial, não basta simplesmente... "Esteja na lei, tem que estar na lei. Professora, tem que estar na lei por si só. Não esqueça disso, porque vai trazer um conflito; não vai garantir que essa lei seja aplicada. Sabe por quê? Porque é possível. Vamos lembrar que o fato seja cometido hoje e venha uma lei que sucede ou sucederá no tempo, e essa lei piora a situação do agente. Vejam, se piorar a situação do agente, nós não vamos poder aplicar, por quê? Porque a regra aqui
no direito penal é que o tempo rege o ato, e, por ele reger o ato, é que nós vamos aplicar a lei quando ele comete o crime. Só que ainda preciso falar sobre algumas outras coisas, por quê? Cometeu o fato hoje, nada mudou dentro de uma sucessão de leis penais no tempo. Você deve se lembrar: eu aplico quando ele cometeu. Presta atenção, cometeu o fato no dia 26 de janeiro, ele vai ser processado e o juiz precisa aplicar a pena lá em outubro. Nada mudou entre janeiro e outubro. Professora, qual vai ser a lei que
vai ser aplicada? A de janeiro. Por quê? Porque o tempo rege o ato, certo? Lembrou disso? Agora, a sua banca sabe o que ela gosta de perguntar: o fato foi praticado e veio uma lei que piorou ou melhorou, que sucede no tempo, qual eu aplico em outubro? E aí você deve se lembrar do Artigo 5º, inciso 40, que a gente tem. Aqui, ó, dando suporte, professora: qual é esse artigo? 540. A lei penal não retroagirá, salvo se beneficiar o sujeito. Então, nós temos aí a retroatividade de normas que sucedem no tempo e que pioram, e
nós temos a contrário senso a retroatividade de normas que melhoram. Você deve se lembrar disso: quando estivermos diante de um abolitio criminis ou de uma nova legis in mosc, nós estaremos diante de normas que melhoram e, em razão de melhorarem, elas vão alcançar fatos anteriores. É como se a norma que melhora tivesse sido promulgada aqui, ok? A sua banca gosta de sair disso aqui. Ela gosta muito de perguntar duas coisas: a primeira delas, olha, a norma melhorou, e só que o sujeito já cumpriu a pena, essa pena que foi dada para ele quando a norma
vigorava, transitou em julgado. Na sequência, vem uma norma tirando, em especial, esse crime do nosso ordenamento. E aí a banca te pergunta: aplica para ele? E você vai responder: sim, professora, como assim? Toda vez que uma norma favorece o acusado, e a gente tem tanto para cá quanto para cá, toda vez que uma norma favorecer o acusado, ainda que tenha transitado em julgado, nós vamos aplicar a ele. Sabe por quê? Porque é uma causa, principalmente a abolição criminosa, que é uma causa extintiva da punibilidade, e causa extintiva da punibilidade afasta os efeitos penais. Eu sempre
digo que um dos efeitos penais é a tal da reincidência. Ok, professora, e esse é o único conflito que nós vamos ter aqui, não? Anote a súmula; a sua banca venera a súmula 711 do STF. O que ela fala? Cuidado, porque às vezes o sujeito está praticando um crime permanente ou um crime em continuidade delitiva. Então, enquanto ele não parar, o último crime, quando ele estiver cometendo vários crimes dentro de uma sequência, onde os outros são considerados a continuidade dos antecedentes, ou no caso de crimes cuja ação e a consumação se protrai com o tempo,
o que vai acontecer? Professora, enquanto ele não cessar a permanência ou a continuidade delitiva, se sobrevier uma norma que sucede entre o dia que ele começou e o dia que ele terminou, e ele fizer nesse interim, ele vai responder pela lei mais grave. Deu para entender isso? A gente tira isso aqui. Professora, vou te dar um exemplo aqui rapidinho para a gente seguir: cometeu uma extorsão mediante sequestro. Durou 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Aí, no quarto dia, a lei muda. Só que veja, é uma coisa só: a permanência delitiva, por exemplo. Então, a
súmula 711 do STF determina que, então, se aplique a esta lei que piora, porque ele não terminou a atividade delitiva. Ok, profe, outra coisa: a súmula 611 do STF. As bancas têm cobrado muito preceitos sumulados e também jurisprudências. Então, o que fala a súmula 611? Se uma norma favorecer o sujeito, o juiz da execução penal vai ser aquele que deve perceber que essa lei melhora e aplicar a lei a eles, tá bom? Uma outra coisa: presta atenção que aqui também é importante. A gente já sai disso: às vezes, temos um fato criminoso que foi retirado
de um lugar e foi colocado em outro. Cuidado, isso não é abolitio criminis. Isso vamos tratar para resolver este conflito. Não é esse problema com o princípio da continuidade normativa típica. O que é esse princípio, professora? O fato deixa de ser colocado em um lugar e vai para outro, então ele não deixou de ser crime. Cuidado, porque ele pode piorar ou melhorar. Você vai precisar ficar atento se ele melhorou ou se ele piorou, porque ele não deixou de ser crime. Aquele exemplo clássico: a lei de drogas estava em uma lei e passou a estar em
outra. Então, perceba que não deixou de ser crime, ok? Isso é importante. E a última coisa: você deve se lembrar das leis intermitentes. As leis intermitentes, aquelas que estão colocadas lá no artigo 3º do Código Penal, o que acontece com elas? Elas não são normas penais genéricas; elas são diferentes. Por quê? Porque se eu..." Coloco um crime no Código Penal, eu só posso tirar este crime com uma outra lei. Então, só uma outra lei, até pelo princípio da reserva legal. Compete à União legislar a respeito de crimes e penas, conforme autoriza e determina o artigo
539 da nossa Constituição e também o artigo primeiro. Só que as leis intermitentes e as leis excepcionais, essa regra não se aplica. Por quê? Porque elas já têm um prazo pré-determinado, elas já têm o seu prazo de duração e elas vão vigorar numa excepcionalidade. Então, neste caso, tomem cuidado, por quê? Porque elas são autorrevogáveis e elas têm ultratividade. Se o sujeito praticou o crime durante a vigência dela, vou aplicar a lei para o sujeito, conforme determina o artigo terceiro. Ok. Foi o que deu para falar. Primeira dica aí: check. Opa, deixa eu voltar. Segunda dica:
a segunda dica, ainda dentro da aplicação da lei penal, deixa eu ver aqui uma co... Ah, eu repeti, não tem problema. Primeiro, eu vou usar esse aqui. Repeti, mas coloquei outra coisa ali. Presta atenção: se o crime aconteceu totalmente dentro do nosso território, nós vamos aplicar a lei penal, certo? Então, a gente adota o princípio da territorialidade. Isso tá lá no artigo 5º. Então, professora, eu preciso saber se o crime aconteceu aqui dentro, só que você não pode se esquecer disso aqui: o artigo 4º. Ele quer saber sobre a aplicação da lei penal no tempo,
assim como o artigo segundo e o artigo terceiro. Então, ele quer saber quando o crime foi praticado; ele não quer saber onde. Não é lei penal no espaço. Então, se ele quer saber quando o crime foi praticado, nós vamos considerar praticado o crime no momento em que ele pratica a ação ou omissão, independentemente do resultado, porque nós adotamos a teoria da atividade, certo? Professor, adotamos a teoria da atividade com relação ao tempo do crime. Põe aí ao tempo quando. Ok. Então, ele praticou, ele deu um tiro em uma pessoa na cidade X, certo? Dentro do
nosso território, eu vou aplicar a lei brasileira para ele. Vou, só que você toma cuidado, porque nós mitigamos essa nossa soberania. Por que nós mitigamos, professora? A territorialidade é mitigada, ela é temperada, porque nós não somos ou não vamos exercer de forma absoluta a nossa soberania, porque nós partilhamos a nossa soberania, porque somos signatários da convenção, por exemplo, né, de Viena. Então, a gente fala assim: ah, foi um diplomata que cometeu um crime aqui. Foi? Ah, então nós não vamos aplicar a lei. Não! Ok. Então nós temos lá no artigo 5º: vamos aplicar a lei
brasileira aos crimes cometidos no território nacional, salvo ressalvadas as hipóteses em que nós formos signatários de convenções, regras e tratados de direito internacional. Certo? Tudo bem, profe? Sim, territorialidade aí mitigada. Agora, aqui ele quer saber onde. Se o crime foi praticado totalmente dentro do nosso território, não tem problema algum. O problema, às vezes, acontece que a conduta é praticada dentro do nosso território e o resultado é alcançado em outro lugar ou o resultado acontece em outro lugar, ou vice-versa; a conduta é praticada em outro país e o resultado acontece no nosso território. Nestes casos, nós
teremos que utilizar a teoria da ubiquidade. Por quê? A ubiquidade vai ser considerada o lugar do crime, tanto a conduta quanto a omissão, não é? Ou também onde produziu ou onde deveria ter acontecido o resultado, que aqui a gente utiliza para os crimes à distância. Ok? Então, aqui, gente, não é manté a distância, tá? Não, não é distância de tamanho. Ok? Criminação à distância quer dizer que uma coisa aconteceu em um lugar e outra aconteceu em outro, tá bom? Antes que vocês venham me corrigir, porque outro dia eu tava dando essa aula, alguém falou: ah,
não sei que, professora, eu não tenho crase! Tem crase, estude um pouquinho mais. Então, tem crase. Por quê? Porque ele se refere àquele crime que não acontece no mesmo lugar e não em quantidade, ok? De distância, perfeito! Vai que confunde vocês aí, né, na prova de português. Então, profe, os crimes à distância são aqueles em que a conduta acontece em um território e o resultado acontece em outro, certo, professora? Certo! Mas e se tudo acontecer lá fora? Se tudo acontecer lá fora, nós vamos ter a extraterritorialidade. Só que, cuidado! Não vai esquecer: a gente tem
a extraterritorialidade incondicionada, eu já vou sair disso, e nós temos a condicionada e a hipercondicionada, onde você deve se lembrar que a incondicionada não vai esquecer que, a depender contra quem o crime, para lá fora, ou contra o que ou onde, nós vamos ter a aplicação da lei penal de maneira incondicionada. Quais são essas situações, professora? Lá no inciso primeiro, a gente tem a incondicionada: vida, liberdade do Presidente da República, crime de genocídio. E ele, o sujeito, é brasileiro ou ele é domiciliado no Brasil. Certo? É um crime contra quem presta serviço para a administração
pública ou contra a fé pública e o patrimônio da administração pública. Então, nesse caso, não se esqueça: eu não vou precisar de nenhuma condição, nenhuma condição! Eu vou aplicar a lei penal sem que precise de condição alguma, certo? Ainda que ele seja, neste caso aqui, absolvido ou condenado no estrangeiro. Certo? Agora, se é um crime que o Brasil se obrigou a reprimir, a pessoa é brasileira, não é? São algumas hipóteses colocadas no inciso segundo, onde nós temos a forma condicionada. Por quê? Nós temos a forma condicionada, professora? Porque vai precisar juntar todas essas condições. Ok.
Juntando todas essas condições, eu vou poder aplicar, então, a lei brasileira. Veja, faltou uma condição, por exemplo: ah, ele foi absolvido lá no estrangeiro, não posso mais aplicar a lei brasileira, ok? E aí, hipercondicionada: gravem! A vítima é brasileira. Nós temos que ter aí: não ser pedida ou... Negada a extradição, e tem que ter pedido do ministro, a requisição do Ministro da Justiça. Tá bom, professora? Ele foi punido no Paraguai e vai ser punido no Brasil. Ele vai cumprir as duas penas. Não, não se esqueça da SIDA. Quem é a SIDA? Professor, o que é?
Se for pela prática do mesmo crime, cuidado, ok? Por se elas forem idênticas, computa ou computam; e se elas forem diversas, eu vou atenuar. Então, por exemplo, se pegou 15 anos no Paraguai e 10 no Brasil, cumpriu 15 lá, acabou. Concorda? Se for o inverso, aí eu abato. Se forem iguais também, ó: se pegou 10 lá, cumpriu, não vai cumprir aqui. Quem homologa? STJ. O artigo 9º fala disso, depois da Emenda 45 de 2004. Quem homologa? STJ. Pegou 10 lá e 15 no Brasil, são diferentes. Então, atenuação: cumpriu 10 lá, só vai cumprir cinco aqui,
ok? Lembrando que o prazo penal a gente conta o dia do início e despreza o dia do fim, um pouco diferente do que acontece nos prazos processuais. OK? Pra gente fechar essa parte de dicas, dessa parte zona geral mesmo, e entrar na teoria do crime, que eu acho que também é de extrema relevância, não é? Tudo é relevante aqui. A gente vai pegando o que a gente acha que vai cair. ISO aqui é um tema que tem sido cobrado com bastante frequência, que é o conflito aparente de normas. Presta atenção: conflito aparente de normas é
diferente do conflito intertemporal. O conflito temporal tem a ver com quando praticou o fato. Hoje vou aplicar a lei; amanhã veio uma lei no meio. Então, eu tenho conflito entre o momento que ele pratica e o momento de dar a norma, certo? Isso é conflito intertemporal. Agora, esse aqui, ó, é conflito aparente. Conflito aparente, presta atenção: eu tenho um único fato, então é unidade de fato. Eu tenho mais de uma norma que venha e possa ser aplicada ao caso, só que eu só posso aplicar uma delas. Por quê, professor? Porque nós temos aqui o "nemo
tenetur se detegere", que é um princípio importante para o Direito Penal, certo? Então, como que nós vamos resolver esse princípio? Ó: se ele quis praticar um crime fim e, para isso, ele pratica um crime no meio, nós vamos absorver esse crime do meio. Professora, dá um exemplo. Vou pegar aqui o crime patrimonial, já que cai pra vocês. Ele quer furtar uma casa, e para furtar uma casa, ele viola esse domicílio. Então, violando o domicílio, ele não vai responder por furto, mas sim por violação de domicílio, certo? Por que não, professora? Porque, para furtar, ele precisou
passar pela violação. Então, quando muito, ele vai poder responder, se o caso, por furto qualificado, mas por dois crimes, não. OK? Vou dar um exemplo mais clássico que vem através de súmula: a súmula 17 do STJ. O que ela fala? Olha, se ele quis praticar estelionato e, para empregar a fraude, ele falsifica um documento, o crime de falsificação vai ser afastado. Por quê? Porque o crime de falsificação foi um meio para a fraude, e a fraude já está no tipo penal. Ok? Que mais temos aqui? Alternatividade, quando um crime tem mais de um verbo e
ele pratica mais de um verbo para a mesma finalidade, eu só respondo por um crime. Exemplo: receptação. Ele guardou e adquiriu. Um crime só. Ô, professora, mas ele praticou mais de um verbo. Um crime só, ok? E nós temos crimes que são iguais. O Direito Penal é "soldado de reserva". O Direito Penal é "soldado de reserva" porque ele atua em última ratio, não é? Ele atua em última ratio porque é subsidiário. Então, quando os outros ramos do direito não puderem agir, o Direito Penal vai agir. Tem crimes que são iguais, tem crimes que só existem
desde que outros mais graves não sejam praticados, porque, se outros mais graves forem praticados, o menos grave sai de cena e se aplica o mais grave. Aquele exemplo clássico das nossas aulas que você tem que levar pra sua prova: o artigo 132 é um exemplo. Se você olhar neste artigo, que é um crime de periclitação da saúde e da vida de outrem, você vai observar que ele diz assim: "Vai ser periclitação da saúde e da vida de outrem, desde que não seja uma conduta mais grave." Porque, se ele puser a pessoa a perigo e redundar
numa conduta mais grave, vai ser aplicada a mais grave. E a última aí é a especialidade, que é um dos mais assim fáceis, digamos assim, de reconhecer. Por quê? Porque, às vezes, nós temos o mesmo verbo que não vai ser aplicado para tudo. Quer ver? Ele cometeu um homicídio culposo, artigo 121, parágrafo terceiro, matar alguém culposamente, artigo 121, parágrafo terceiro. Então, se uma mãe dorme em cima de um filho e esse filho morre porque ela não observa o dever de cuidar, tá muito frio, ela quis dormir para ficar com ele e ele morre, nós vamos
ter, então, a possibilidade de aplicar a essa mãe o artigo 121, parágrafo terceiro, inclusive sendo possível dar o perdão judicial, não é? No parágrafo quinto, já que é um homicídio culposo. Porém, se uma pessoa mata alguém na direção de veículo automotor de forma culposa, aí você tome cuidado, porque nós temos um outro crime. Embora seja matar culposamente, eu estou especificando a conduta. Então, nós temos a possibilidade de aplicar a regra do artigo 302 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que fala matar alguém culposamente na direção de veículo automotor. Então, a resolução é pelo princípio da
especialidade, certo? Então, mais uma dica: check! Nós vamos falar aqui da teoria do crime. Vou falar principalmente disso aqui porque está lá expressamente no seu edital, ok? Excludentes, crime tentado, concurso de pessoas. A gente já fecha com relação a alguns crimes que eu coloquei para vocês, tá bom? O que eu quero falar não vou... eu não vou dar aula na revisão de véspera de teoria do crime, ok? Mas eu vou te dizer aqui: não se esqueça da teoria finalista da ação. Então, aqui eu coloquei já os Elementos do Crime para vocês, ok? Então, quando a
gente fala de conduta, a gente tem a ação, omissão voluntária, e consciente, dolosa e culposa, certo? Então, o dolo e a culpa estão hoje na conduta. Por que estão na conduta, professora? Porque antes nós tínhamos a possibilidade de colocar o dolo e a culpa na culpabilidade; hoje, elas foram deslocadas, como a teoria que a gente adota, que é a normativa, deslocando, então, para a conduta o dolo e a culpa, ok? Por que, professora? Porque a teoria normativa pura fala que, para dar juízo de reprovação, nós vamos ter esses elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, e
exigibilidade de conduta diversa. Então, eu tiro o dolo e coloco na conduta. Teoria finalista: tomem cuidado! A omissão vai ser relevante. Então, pode ser que a sua banca pergunte da omissão, em especial a imprópria. Cuidado com a omissão imprópria! Por quê, professora? A pessoa responde pelo resultado causado por essa omissão. Por quê? Porque ela não é qualquer pessoa; ela deveria fazer algo, mas não faz. Então, você não se esqueça: quem tem dever legal, se é garantidor, colocou a pessoa numa situação anterior, tem que tirar. Se não tirar, podendo fazê-lo, seja cruzou os braços... só tomem
cuidado, porque aí eu vou analisar se ela vai responder por título de dolo ou por título de culpa, certo? Outra coisa importante que a banca pode te cobrar é a questão da voluntariedade. Por quê, professora? Porque a voluntariedade tem várias causas que afastariam. Uma delas é a coação. Eu não vou ter como pôr ali a coação: coação física irresistível. A coação física irresistível afasta a voluntariedade, mas a coação moral irresistível afasta a exigibilidade. Então, coação moral... as bancas adoram aqui, viu? A coação moral irresistível afasta a exigibilidade de conduta diversa; já a coação moral afasta
a voluntariedade, certo? Beleza? Uma outra coisa: o erro de tipo. Pra gente fechar isso aqui, o erro de tipo está aqui no dolo e na culpa. O erro de tipo essencial inevitável: ele não age com dolo e nem tinha como prever a culpa, então eu afasto o dolo, afasto a conduta, afasto o próprio fato típico. Cuidado! Agora, se o erro de tipo é essencial evitável, eu afasto o dolo, mas vou punir a título de culpa se previsível, certo? Então, o erro de tipo está aqui, e o erro de proibição está aqui. O erro de proibição
inevitável, nós vamos ver aí na sequência, ele afasta a culpabilidade. Por quê? Porque a pessoa, de forma inevitável, não tem como interpretar erroneamente o caráter ilícito do que ela faz, embora ninguém possa falar que desconhece a lei, ok? Então, erro de proibição inevitável isenta de pena, já que, se ele não preenche os elementos da culpabilidade, a culpabilidade aqui é juízo de valor; então, tem a ver com a pena, ok? Já no erro de tipo, afasta o fato típico, afasta a conduta. Lembrando, por fim, não menos importante, que eu só posso imputar um fato para se
alguém deu causa. Prof, o que é causa? É a conduta sem a qual não vai ter aquele resultado. Exemplo de relação de causalidade: A atirou em B; ele morreu em razão do tiro. O tiro foi a causa, então foi ele que praticou. Só tomem cuidado com as interferências, porque às vezes a conduta tem interferência. Então, você precisa analisar essa interferência: se a pessoa sozinha praticou e causou o resultado, ou se houve interferência da conduta para produzir esse resultado. E ainda, se muito embora tenha juntado a conduta com a interferência, se o resultado foi praticado de
forma imprevisível. Porque daí, segundo a regra do Artigo 13, parágrafo primeiro, eu vou adequar o resultado causado, tá bom? E não se esqueça: agiu com insignificância, com adequação social, vai afastar a tipicidade material dessa conduta, tá bom? Lembrem-se que todo fato típico é antijurídico; vai ser crime, só que nós temos normas, como são aqui, essas aqui, as genéricas, no artigo 23. Nós temos as normas permissivas, normas justificantes. Lembre-se: nós temos requisitos; se ele exceder este requisito, ele vai responder pelo excesso, a título de dolo, a título de culpa, conforme determina o artigo 23, parágrafo único,
tá bom? Só aqui com relação à culpabilidade, como eu falei para vocês, né? Mais pra gente gravar: porque está lá culpabilidade e suas teorias. Então, em razão disso, acho que é importante a gente falar: essa teoria aqui, normativo pura, coloca os elementos da culpabilidade, mas nós tínhamos outras teorias, ok? Por exemplo, a teoria psicológica, psicológica normativa, onde o dolo e a culpa eram colocados na conduta. Aí, a gente tira e vai adotar a normativa pura, ok? Aí você só para não esquecer, porque está escrito expressamente lá: culpabilidade. Não é? Então, cuidado! Por que a gente
tem aqui uma excludente? Isso aqui é norma exculpante. O que é norma? São normas que isentam de pena: isentam de pena por ausência de imputabilidade, isentam de pena por ausência de potencial consciência da ilicitude, e isentam de pena por ausência de exigibilidade de conduta diversa, certo? Então, só não vai esquecer: é qualquer embriaguez? Não, a acidental. Se ele se embriagou de forma habitual e consciente, né? Ou ele se embriagou culposamente; a embriaguez culposa e ou voluntária, elas não afastam a imputabilidade. Ok? Outra coisa que você vai lembrar: para a embriaguez e para a doença mental,
nós adotamos a teoria. Biopsicológica, prof, por que a teoria biopsicológica não basta? Que haja doença mental e/ou desenvolvimento mental incompleto, ou ele precisa ter essa doença mental influenciando o caráter ilícito que ele faz e o comportamento de acordo com ele? Não é simplesmente ter a doença mental. Marque isso: ele precisa fazer com que influencie na hora dele interpretar. Ok? O que é diferente para a menoridade, porque aí aqui a gente tem a teoria bi, basta ele ser ou ter menos de 18 anos. Ok, já falamos aqui que se for inevitável ou escusável vai exentar, e
se for evitável, diminuir a pena. Perfeito? Tranquilo. Então vamos agora para mais esse tópico na nossa revisão, que também é de extrema relevância. Qual o tópico, professora? Tentativa. Vou falar aqui duas coisinhas, ok? Nós vamos punir pelo que ele pretendia quando ele começa a execução ou os atos executórios. Tudo bem, cuidado: o que cogitou, deliberou, não tem punição. Mas cuidado com isso aqui: o ato preparatório não é punível, porque ele não iniciou aquilo que ele pretendia. Já que ele tem que querer chegar até aqui, tanto ele tem que querer chegar até aqui que a gente
não vai punir a forma culposa pela tentativa, né? A culpa própria, como que eu vou parar? Alguém parou a conduta por circunstâncias alheias, mas ele não queria? Não tem como. Eu não queria continuar, e você parou. Não tem como, porque para punir a tentativa, para punir pelos conatos, né? Quebrar conatos, ele precisa querer chegar até o intento final. Razão pela qual o crime culposo é um daqueles que não vão ser punidos pela tentativa, tá bom? Profe, outra coisa. Olha só, ele não vai ser punível pelo que ele queria, mas cuidado que às vezes, para praticar
o que ele queria, muito embora ele não tenha iniciado, ele vai praticar uma conduta autônoma. Então você tome cuidado. Por quê? Um exemplo: ele comprou uma faca porque ele queria matar. Ou, pô, uma corda, comprou uma corda para se enforcar. Certo? Tudo bem, aí ele está indo. Ele está indo para o lugar para utilizar essa corda e matar a pessoa, a polícia chega. A polícia pode prender essa pessoa por tentativa de homicídio? Não, professor, e ele pode ser punido por estar com essa corda. Não entende por quê? Porque não começou os atos executórios. Não vai
esquecer disso. Agora, se por acaso ele for comprar uma arma para poder matar, ainda que ele não tenha desferido algum tiro em direção ao bem jurídico, porque é necessário, não existe ofensividade, diz que eu tenho que ter ameaça ou lesão a esse bem jurídico tutelado. Então eu preciso direcionar a conduta objetivando esse fim. Se ele não tirou, se ele não foi atrás da vítima, estava no meio do caminho, a polícia não pode prendê-lo por tentativa de homicídio, mesmo que ela saiba que ele queria matar. Mas ela vai poder prender, eventualmente, por porte ilegal, se esse
porte for ilegal. Entende? Então, de forma autônoma, às vezes a conduta pode ser punida, como é o caso, por exemplo, de petrechos para falsificação. Às vezes a pessoa comprou maquinário, concorda? Ela não começou a falsificar, mas vai poder ser punida conforme você observa no artigo, por exemplo, 294 do Código Penal. Tá bom, professora? Começou os atos executórios. Como que eu vou punir a tentativa? Ele quer prosseguir, mas não pode. Então eu pego o crime que ele queria e diminuo de um a 23, certo? Essa é a regra. Por que a regra? Porque disposição encontrada. A
gente vai punir assim. Mas cuidado que a gente tem os crimes de atentado ou os crimes de empreendimento. Crimes de atentado ou crimes de empreendimento, nós temos a punição pela tentativa de igual forma ao crime consumado, como é o caso do preso evadir. Se ele evadiu ou ele tentou evadir-se, a pena será a mesma, porque estamos diante da excepcionalidade colocada na 14. Ok, ainda dentro aqui, porque nós vamos falar de... deixa eu ver aqui, concurso de pessoas, e já vamos para os crimes para a gente encerrar. Passou voando. Não, olha só, cuidado, porque é possível
que o sujeito comece a conduta e ele pare porque ele quis. Então, é diferente: na tentativa, ele quer continuar, mas ele não pode, porque circunstâncias que não partem da vontade dele interrompem a execução. Cachorro latiu, vizinha chegou, arma, enfim, várias situações. Agora, na tentativa abandonada, ele vai responder só pelo que ele fez. Sabe por quê? Porque ele parou. Então nós temos a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz tá aqui: ele usou tudo que estava ao seu alcance, e aí o crime não se consumou, porque ele não quis. Ele dá todos os tiros
na arma e leva para hospital, e a vítima sobrevive. Ele dá um tiro, podendo ter mais, e a vítima sobrevive. Aí nós estamos diante da desistência voluntária. Não importa se é desistência ou se é arrependimento eficaz, o resultado é o mesmo. Esqueço o que ele queria, e ele responde só pelo que ele fez. Exemplo: atirou para matar, levou a vítima para hospital. Ele vai responder por tentativa de homicídio? Não, ele vai responder por lesão. Tudo bem? Cuidado com o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, a consumação aconteceu, mas antes do... então tem lapso: ó, antes do
recebimento da denúncia o crime não tem violência, não tem grave ameaça. O danado vai lá e repara o dano. Se ele reparou o dano, nós vamos ter a diminuição de um a 2/3, certo? Diminuído de 1 a 2/3, arrependimento posterior. Lembrando que se o crime de peculato culposo... vai que isso, né? Se o crime de peculato culposo, esse arrependimento é diferente lá no artigo 312, parágrafo terceiro. Hein? Se o funcionário público repara o dano antes do trânsito em julgado, extinção da punibilidade. E se for depois... Pena cai pela metade, certo? Beleza, então fechou. Vamos para
a frente. A última dica aqui da parte geral, zona, para a gente dar dicas finais de crimes contra a fé pública e administração pública. Ok, professora? As bancas gostam disso aqui, veneram. Então, quem são essas pessoas? Nós temos o autor, o coautor e o partícipe. Autor e coautor, dentro da teoria objetiva formal ou teoria restritiva do autor, realizam o verbo, o núcleo do tipo, certo? E o partícipe, professora? Ele auxilia. Professora, como que eu vou punir esse? Eu só posso punir esse partícipe. Não vai esquecer, pela teoria da acessoriedade limitada, se o autor cometer um
fato típico e antijurídico, OK? Aí eu posso punir este que auxilia, moral e materialmente. O que isso quer dizer? Que ele não realiza o núcleo do tipo. Só que, presta atenção: todos estes aqui deverão, como regra e diante da teoria monista, ser punidos pelo mesmo crime. Todo aquele, não importa se é autor, não importa se é coautor, não importa se é partícipe; todo aquele que concorre para o crime responderá por ele na medida da sua culpabilidade, certo professora? E se a participação for de menor importância? Se ela for de menor importância, diminui a pena. E
se a pessoa—eles se uniram para a prática delitiva—vai lá e um comete um crime mais grave sem que eles tenham combinado? Aí, neste caso, nós temos a cooperação dolosamente distinta. Então, ele, este que quis o menos grave, vai responder por ele. Ah, professora, mas e se for previsível? O mais grave, previsível o mais grave, mesmo ele não querendo, a pena aumenta de metade. Pego o menos grave e aumento metade, certo? Presta atenção: eles não se uniram aqui, autor com autor e partícipe, cuidado. Nós adotamos como complemento para punir aqui autores a teoria do domínio do
fato. Por que que ela pune, professora? Porque a gente tem um mentor, o autor intelectual. Cuidado porque ele não realiza o núcleo do tipo e ele é autor porque ele tem o domínio sobre o fato. Ok, cuidado com isso: autor intelectual. Outra coisa, eles se juntaram? Cuidado com condições e circunstâncias de caráter pessoal porque elas não se comunicam. O que é meu é meu, o que é do coleguinha é do coleguinha, salvo se elementares para o crime. Aquele exemplo clássico, não é? Você lembra do funcionário público? Se ele é funcionário público e sabe que a
pessoa—quer dizer, tem uma pessoa que não é funcionária pública. Ela vai se apropriar de um bem, sabendo que o coleguinha é funcionário público. Eles dois vão responder por exemplo, peculato, porque ser funcionário público é elementar do tipo de peculado. Agora presta atenção: o partícipe deu uma faca. Ele sabia que a pessoa queria matar alguém, ele empresta uma faca. Só que a pessoa nem inicia os atos executórios. O partícipe vai poder ser punido? Não, porque o artigo 31 fala que eu só posso punir a instigação ou auxílio se ao menos a conduta for tentada, ok? Isso
tá lá no artigo 31. Então, no 31 ele fala que eu só posso punir essas pessoas se ao menos o crime iniciar, se iniciar os atos executórios. Certo? Agora, cuidado: tem que querer o mesmo crime. A conduta tem que ter relevância, porque às vezes ele empresta a arma e a pessoa mata enforcada. Tem que conhecer o que se quer. Ele tem que querer o mesmo crime. Tem que ter pluralidade de pessoas e condutas, e não precisa ser a mesma conduta, ok? Todos com arma? Não, não precisa. Ele aderiu, conheceu que estava armado, pode estar um
com arma e outro sem arma, enfim. Ok, vamos então para as nossas dicas finais. Dica, aquela dicazinha básica de crime contra a fé pública, né? Crimes materiais. Então, o crime de falsidade de documento público e particular. Eu tenho falsidade, o quê? Material? O documento, o documento é falsificado. Então, ó, o documento é falsificado. Na falsidade ideológica, o que que acontece? O que tá dentro—porque é inserir, né? É facilitar a inserção. Então, o conteúdo não procede. Por quê? Porque ou porque ele deixou de colocar o que precisava ou ele colocou aquilo que não condizia, só que
é para criar uma obrigação, tirar um direito, tem finalidade específica na falsidade ideológica, certo professora? Quem cometeu o crime de falsidade de documento público foi o funcionário público, aumenta a pena de 1/6. Tudo bem? E são equiparados a documento público os livros mercantis, as ações de sociedade comercial, o testamento particular, o título ao portador transmissível por endosso e os emanados de entidade paraestatal. Ok, já como que é documento particular? Todos aqueles que não são emanados por órgãos públicos. Então, é subsidiário tudo aquilo que não é público; é particular. Contrato de compra e venda é um
documento particular. Agora, cartão de crédito e débito são equiparados a documento particular, certo? Duas coisinhas: o cara usar documento é diferente de falsidade ideológica. Aqui, ele apresenta o documento, não é com fim também de ar alguma obrigação, dele se furtar alguma obrigação. Então, não é simplesmente apresentar, né? De alguma forma, a mesma coisa aqui, ó. A falsidade: falsa identidade. Ele não apresenta um documento, ele fala: "Eu sou o João." Claro que é para causar algum tipo de prejuízo, porque simplesmente vou falar que for João não ofende a fé pública, certo? Então, no uso, põe aqui,
ó: uso. Ele vai apresentar alguns dos documentos que estão nesses artigos, né? Então, ele apresentou um atestado falso, ele apresentou um documento público falso. Quem usa vai ter a mesma pena de quem falsificou. Ok? E a falsa identidade, lembrem-se: ele não apresenta documento, professora. Ele pode falsamente, na hora que a polícia para ele, ele pode falar... Que é o João para fazer uso de um direito à não autoincriminação? A súmula 522 do STJ veda. Ok, tranquilo. Então vamos aí para as dicas finais. Vamos falar um pouquinho de crimes funcionais e crimes contra a administração pública,
e a gente encerra essa nossa revisão. Ok? Coisas rápidas: ó, profe, apropriou, recusou devolução. H. Quero ter a coisa para ele, só que é do Estado. É peculato apropriação. Essas nomenclaturas aqui são doutrinárias. Ok? Para o crime de peculato, o que eu quero que você tome cuidado: ó, se ele desviou para ele ou para terceiro, é lato desvio. Se ele desviou rendas ou verbas públicas, 315. Se ele desviou o que recebeu indevidamente, nós temos aquela figura colocada no parágrafo segundo do artigo 316. Certo? No furto, ele não tem a posse. No peculato, furto, ele não
tem a posse do bem, mas ser funcionário público facilita com que ele inverta essa posse. Tudo bem? Então, se facilitou, é peculato-furto. Professor, e se ele é funcionário público? Mas pouco importou aqui para subtrair. Ele vai responder por furto. Ok? Lembrando que furto e roubo, nós temos a súmula 582 do STJ: inverteu a posse, teoria da M, teoria da presença, inverteu a posse. Nós temos a consumação desses dois crimes. Tá bom? Não observou o dever de cuidado e alguém pegou. Lembrou que aqui, né? Se ele reparar o dano antes do trânsito, vai ter extinção da
punibilidade. Agora, pode ser que ele se aproprie de algo que chegou para ele por erro e aí ele não devolve. Aí nós temos o peculato estelionato. No peculato eletrônico, ele insere dados no sistema, insere ou deixa, né, de colocar esses dados no sistema. E no peculato hacker, ele muda o próprio sistema. Certo? Pra gente fechar, ó, cuidado aqui na corrupção passiva. Presta atenção no que eu vou falar. Ok? Princípios aqui da especialidade: ele vai solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida. Claro que, se ele aceitou ou recebeu, foi porque alguém ofereceu e esse alguém vai responder.
Excepcionalmente, põe aí, vamos só voltar aqui rapidinho. Nós temos a teoria monista, mas excepcionalmente nós adotamos a pluralista. Certo? Anote aí. Este é um exemplo da adoção excepcional da teoria pluralista. Por quê? Muito embora seja o mesmo fato, um responde por um crime, o outro por outro. Ok? Professora, se em razão dele receber, ele praticar, deixar de praticar ou retardar um ato, nós vamos ter aqui a possibilidade de aumentar um terço da pena. Tá bom? Só que toma cuidado, porque se ele praticou, deixou de praticar ou retardou porque ele tá atendendo um pedido de alguém,
aí nós temos a corrupção passiva privilegiada. Ok? E aqui a gente tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Professora, ele praticou, deixou de praticar ou retardou um ato atendendo o interesse ou sentimento pessoal? Aí nós temos a prevaricação. E se ele deixou de punir o seu subordinado ou aquela pessoa que tá vendo o colega praticar uma infração e não leva ao subordinado? Aí nós temos a condescendência criminosa. Tá bom? Por fim, não menos importante, cuidado com o tráfico de influência. O tráfico de influência, ele recebe vantagem a pretexto de
influenciar. Nós temos o que chamamos de "vendi-fumaça": ele vende de fumaça, a pessoa vai pedir dinheiro a pretexto de influenciar no exercício de um ato praticado por funcionário público. Em geral, se ele falar que esse dinheiro também vai para o funcionário, aumenta metade. Já na exploração de prestígio, é um crime contra a administração da justiça. Então, ele fala também que vai influenciar na atividade do analista, na atividade do técnico judiciário, no oficial de justiça, né? Funcionários da justiça, no magistrado, no Ministério Público, que no perito. São pessoas que têm a ver com a justiça. Então,
ele fala que vai influenciar nesses atos. Se ele também falar que o dinheiro vai para o funcionário, aumenta 1/3, tá bom? E se ele procurar a delegacia, tá? O Ministério Público, o magistrado, o órgão administrativo, o Ministério Público aqui, ó, colocando inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, imputando um fato que ele sabe que a pessoa é inocente, imputando um crime, um ato de improbidade, uma infração ético-disciplinar sabendo que a pessoa é inocente, nós temos o crime de denunciação caluniosa, que é diferente de calúnia. Calúnia eu falo para um terceiro qualquer. Aqui, não! Aqui eu
vou atrapalhar. É um crime contra a administração da justiça. Então, eu atrapalho a investigação imputando para alguém, certo? Ok. Usei de anonimato, aumenta de 1/6. Aqui, se ele imputar contravenção, a pena cai pela metade. Ok? É diferente, professora, de falsa comunicação de crime e autoacusação falsa. Na falsa comunicação de crime, o fato não existiu, né? O crime não existe. Então, ele fala: "Olha, fui furtado", mas ele não põe alguém certo e definido. Não é porque o fato não existiu. E na autoacusação falsa, ele se acusa de um crime praticado por outra pessoa ou que não
existiu. Perfeito? Ufa! Agora sim, então fechamos essa nossa revisão. Eu tenho, né? Espero que caiam questões dessa nossa revisão, mas eu sei que você tá mais do que preparado. Inevitavelmente, vou deixar aí os meus contatos para vocês nas redes sociais: @prof.priscilas.silveira. Ó, nós vamos juntos até a sua aprovação. Ok? Uma excelente semana. Claro, depois a gente vai ter aí o gabarito e eu espero encontrá-los com boas notícias. Tá bom? Fiquem firmes porque já deu certo. Boa prova! Arrebentem! Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau tchau. Olá, meus amigos, aqui quem fala é Renan Araújo,
professor de Penal e processo penal do Estratégia Concursos. Prazer imenso estar aqui hoje com vocês para nossa revisão para o concurso do TJ de Rondônia para o cargo de... Técnico judiciário, a minha parte aqui hoje é processo penal e eu vou passear por alguns pontos importantes do edital com vocês, tá? A banca Consulplan, vocês já devem saber, é uma banca pequena, não elabora tantos concursos e a maioria dos concursos que ela elabora nem cobra, né, nossa matéria, que é processo penal. Então, a gente não tem um número grande de questões, tá? Separei algumas questões da
banca Consulplan pra gente trabalhar aqui e, com base nelas, desenvolver alguns temas importantes. E eu também separei, ao final, algumas apostas finais para falar com vocês de temas que eu acho que têm boas chances de cair na prova. Tudo bem? Vamos então para a tela. Vou deixar aqui, como eu sempre faço, o meu Instagram e meu canal no Telegram, que é Prof. Renan Araújo, nos dois. Então segue lá no Instagram, se inscreve também no canal do Telegram, que tem muita coisa bacana. Maravilha, vamos lá. A primeira questão sobre inquérito policial: quanto ao inquérito policial, assinale
a correta. Letra A: nos crimes em que a ação pública depender de representação, o inquérito não poderá ser iniciado sem ela. Tá certo, meus amigos! O inquérito policial pode ser iniciado de ofício pelo delegado, ou seja, sem provocação, mas só nos crimes de ação penal pública incondicionada. Em se tratando de crime de ação penal pública condicionada à representação, o delegado só vai poder instaurar inquérito policial se houver a representação da vítima (artigo 5º, parágrafo 4º do nosso CPP). Se por acaso for crime de ação penal privada, o delegado só pode instaurar inquérito se houver requerimento
de quem tem qualidade para futuramente ajuizar queixa-crime. Então, a instauração do inquérito policial ex officio, sem provocação, pelo Delegado de Polícia, só é cabível nos crimes de ação penal pública incondicionada. Maravilha! Letra B: nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito por requisição do MP ou a requerimento de quem tem a qualidade para propor a ação penal. Falsa, né? Porque aí ele vai depender sempre de requerimento de quem tem a qualidade para futuramente ajuizar queixa-crime (artigo 5º, parágrafo 5º do CPP). Letra C: se o delegado de polícia, ao concluir
as investigações, não reunir prova da existência do crime ou de indícios suficientes de autoria, deverá, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa, promover o arquivamento do inquérito. Falsa, né, pessoal? Porque o delegado não pode, em hipótese nenhuma, mandar arquivar os autos do inquérito policial, independentemente da história que a banca possa contar. Às vezes, alguns dizem que o delegado pode arquivar, mas regra geral, ele não pode. Porém, se o fato tiver prescrito, pode. Aí, você acha: "tá prescrito?" Não, não pode. Não importa a historinha bonita ou triste que a banca vai te contar; o delegado
não pode mandar arquivar os autos do inquérito policial. Nunca, jamais. Cuidado, tá bom? Outro ponto: para deflagrar a instauração do inquérito policial, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá comunicá-la à autoridade policial. Certo? Desde que o faça por escrito. Errado! Pode ser verbalmente ou por escrito, né? (artigo 5º, parágrafo 3º). Então, muito cuidado com o artigo 5º do CPP que fala sobre a instauração do inquérito policial. Muito cuidado também com o artigo 17, que fala do arquivamento do inquérito policial, e o artigo 18 do
CPP, que fala da possibilidade de desarquivamento dos autos do inquérito policial, caso haja notícia da existência de prova nova. Uma vez arquivado o inquérito policial por falta de provas ou por falta de base para denúncia, é possível a retomada futura das investigações, desde que haja notícia da existência de prova nova. Artigo 18, isso é importante também. Artigo 5º, artigo 17, artigo 18 são talvez os mais importantes quando falamos em inquérito policial. Atenção a eles. O artigo 14 também é importante, que fala que o ofendido ou seu representante legal, bem como o indiciado, poderão, no curso
do inquérito, requerer à autoridade policial a realização de qualquer diligência que será realizada ou não a critério da autoridade policial, até pela discricionariedade com que a autoridade policial conduz o inquérito policial. Tudo bem? Então, a letra A é o gabarito da questão. Mais uma sobre ação penal privada: os institutos que levam à extinção da punibilidade. Assinale a afirmativa correta. Letra A: a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime se estenderá a todos. Tá certo, pessoal! Por quê? Artigo 49, né? Na ação penal de iniciativa privada, nós temos
o princípio da indivisibilidade. Embora a vítima não seja obrigada a ajuizar a queixa-crime, né, o princípio da oportunidade ou conveniência, caso ela resolva ajuizar a queixa-crime processando, portanto, o infrator, ela deve fazer isso contra todos os infratores. Não pode escolher processar só um ou alguns deles. É o princípio da indivisibilidade. O artigo 48 vai dizer que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Esse princípio da indivisibilidade é talvez o mais importante para fins de prova quando falamos em ação penal privada. Esse
princípio da indivisibilidade vai respingar também em institutos como a renúncia ao direito de queixa e o perdão do ofendido. Ora, se a vítima não pode ajuizar queixa-crime só contra alguns dos infratores, tem que ser contra todos; ela também não pode renunciar só em favor de um ou de alguns, tem que ser em favor de todos. Então, a renúncia em favor de um deles se estende aos outros. Da mesma forma, o perdão concedido a um dos querelados, a um dos réus. Lembrando que o perdão é quando já tem queixa-crime ajuizada, né? O perdão concedido a um
dos querelados a todos se estende, sem que produza efeitos, porém, em relação àquele que recusar o perdão, porque a renúncia não depende de aceitação, mas o perdão depende. O perdão não é um ato bilateral; para que produza efeitos, ele tem que ser aceito pelo querelado, aceito pelo réu. O perdão do ofendido, concedido aos querelados, aproveitará a todos, certo, mesmo em relação àquele que recusar. Errado, né? Porque ele não produz efeitos em relação àquele que recusa o perdão, já que ele depende de aceitação para produzir efeitos. É a previsão do artigo 51 do CPP. C) A
queixa contra qualquer autor do crime obrigará o Ministério Público; não cabendo ao MP velar pela sua indivisibilidade, por se tratar de ação penal privada. Errado, né? Cabe ao MP velar pela indivisibilidade da ação penal privada, conforme o artigo 48 do CPP. Já que o MP atua mesmo na ação penal privada, só que na ação penal privada ele não é o acusador; ele atua somente como fiscal da lei, como custos legis. Inclusive, ele pode, na forma do artigo 45, aditar a queixa-crime para fazer alguma retificação, alguma complementação em relação a aspectos não essenciais. Né? A vítima
errou, por exemplo, a data do crime, e ele vai lá e corrige; a vítima se esqueceu de mencionar uma majorante, né? Ele vai lá e informa ao juiz, adita a queixa-crime para incluir essa majorante. Então, ele pode, sim, aditar a queixa-crime, mesmo em relação a crimes de ação penal privada. Portanto, cuidado com isso. Letra D) Tendo a queixa-crime sido apresentada no prazo, não considerar-se-á a perempção na ação penal privada quando o querelante deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais. Errado, tá? Vai ser perempta, sim. Por quê? A perempção é uma espécie de punição
ao querelante. Aquele que ajuizou a queixa-crime, quando ele é negligente na condução da causa, então, se ele deixar de dar andamento ao processo por 30 dias seguidos, é uma hipótese de perempção. Né? É uma hipótese de perempção quando ele não comparecer de forma injustificada à qualquer ato do processo, ao qual deve estar presente também. É perempção. Enfim, tem várias hipóteses no artigo 60; uma delas é quando o querelante deixa de reiterar nas alegações finais o pedido de condenação, porque o querelante, quando ajuizou a queixa-crime, ele já pediu ao juiz a condenação do réu, né, pelo
crime de ação penal privada praticado. E nas alegações finais, que é uma manifestação da parte ao final da instrução do processo e antes da sentença, o querelante tem que reiterar esse pedido de condenação. Se ele não faz isso, há a perempção na ação penal privada, segundo o artigo 60, inciso III. Então, tá errado, vai ser perempta, sim, a ação penal, caso ele não formule nas alegações finais pedido de condenação. Portanto, errada a assertiva. Mais uma, agora sobre a ação penal privada subsidiária. Nós sabemos que a ação penal pública é aquela em que cabe ao MP
processar o infrator; ele é o titular da ação. Já na ação penal privada, a legitimidade é conferida à vítima. Cabe à vítima processar o infrator; a vítima ou seu representante legal ou, em caso de morte, seus sucessores, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nessa ordem. Só que é possível que a vítima ajuíze uma ação penal privada em um caso que é crime de ação penal pública. Quando? Quando há inércia por parte do Ministério Público. Quando o promotor recebe lá os autos do inquérito policial devidamente concluído e ele deixa transcorrer o prazo que ele tem para
ajuizar a denúncia, sem adotar nenhuma providência válida. Ele não denuncia o infrator, ele também não promove pelo arquivamento, não se manifesta pelo arquivamento, não requisita ao delegado diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Ou seja, o promotor deixa transcorrer o prazo sem fazer nada e aí há a inércia por parte do MP, de forma que surge para a vítima o direito de ajuizar uma ação penal privada subsidiária. Tá? A letra A diz que arquivado o inquérito, é cabível a ação penal privada subsidiária. Errado, né? Porque aí não há omissão, não há inércia por parte do promotor.
B) Não será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Errado. Cabe, sim. É a exata hipótese da ação penal privada subsidiária do artigo 29. C) O não exercício no prazo de 6 meses em seg gera a decadência do direito de queixa com a extinção da punibilidade. Errado, por quê? Ah, vamos lá. Na ação penal privada exclusiva, né? Aquela em que é um crime de ação penal privada, né? E aí a lei confere à vítima a legitimidade para ajuizar a queixa-crime, a vítima é o titular da
ação penal. A vítima tem o prazo decadencial de 6 meses para oferecer a queixa-crime, seis meses a contar da ciência da autoria delitiva. Maravilha! Se ela não oferece nesse prazo, se ela perde esse prazo, há a decadência. Isso gera extinção da punibilidade, já que ela perdeu o direito de ajuizar a queixa-crime. Ninguém mais poderá processar o infrator; tá extinta a punibilidade. Na ação penal privada subsidiária, é um pouco diferente. Primeiro, que o prazo decadencial de 6 meses para ela oferecer a queixa-crime não é contado da data da ciência da autoria delitiva, e sim da data
em que se esgota o prazo para o MP. Ou seja, houve a inércia do MP, se esgotou o prazo para ele. Aí surge para a vítima o direito de ajuizar a queixa-crime subsidiária. Portanto, aí começa a correr o prazo de 6 meses. Só que tem um outro detalhe: se a vítima perder esse prazo de 6 meses, ela decai do direito; ela não vai mais poder ajuizar a queixa-crime subsidiária, mas isso não vai... Gerar extinção da punibilidade porque o MP continua podendo ajuizar a ação penal pública, por isso que é o que se chama aqui de
decadência imprópria. A decadência, a vítima perde o direito de ajuizar a queixa-crime, mas isso não vai gerar extinção da punibilidade. Então, cuidado com isso, tá? Com a decadência imprópria, aqui do artigo da situação, no artigo 29, né? Então, cuidado! Letra D: cabe ao MP aditar a queixa-crime, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, em caso de negligência por parte do querelante, retomar a ação como parte principal. Perfeito! É a exata previsão do artigo 29 do CPP, né, que trata da atuação
do MP na ação penal privada subsidiária, como uma espécie de assistente litigo consorcial, né, e não apenas como custos legis. Portanto, letra D é o gabarito da nossa questão. Agora, sobre um tema importante que é o NPP: se eu pudesse chutar um tema para cair, eu acho que a NPP tem boas chances, né? Um tema que tá aí dentro do bloco da ação penal, tá no artigo 28-A do nosso CPP. O ANPP, pessoal, ele é um acordo, uma solução negociada em processo penal. É um acordo de natureza pré-processual, firmado entre o MP e o suposto
infrator, para que não haja a denúncia. Ele somente é cabível nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e com pena mínima menor que 4 anos, né? Aí o promotor fala: “Meu filho, seguinte, negocinho bom para tu aqui, tu se compromete a reparar o dano, presta serviços à comunidade por um certo período, né? Mais alguma outra obrigação aqui e tal, e em troca disso eu não te denuncio. É jogo para tu.” O cara pensa: “Se vai, né? É jogo.” Aí ele aceita lá o acordo, ele e seu defensor, né? E aí esse acordo
vai para o juiz para homologação; o juiz homologa bonitinho. O cara agora vai ter que cumprir as condições fixadas. Uma vez que ele cumpre as condições a contento, tá extinta a punibilidade, ou seja, ele fez o acordo, cumpre as condições, tá extinta a punibilidade. Ele não pode mais ser punido. Se ele descumpriu o acordo, aí tá rescindido o acordo e pau no réu. O MP agora vai denunciar. O acordo era de cumprir as condições para não ser denunciado. Ele descumpriu as condições, não cumpriu, vai ser denunciado. Em linhas gerais, é isso, né? Diz aqui: “Ó,
cujo cumprimento a lei anticrime, né, instituiu no CPP, o ANPP, o acordo de não persecução penal, cujo cumprimento integral traduz-se em causa de extinção da punibilidade.” Perfeito! Todavia, o marco legal do ANPP veda a aplicação do acordo nos crimes de violência doméstica e nos crimes de racismo. Tá errado por quê? De fato, há uma vedação em relação à violência doméstica, artigo 28-A, parágrafo 2º, inciso IV; não cabe, no caso de crime de racismo. A lei não veda; o STF e o STJ até entendem sim que não cabe a NPP nos casos de crime de racismo,
mas isso não tá previsto expressamente na lei. Então tem um erro aqui, tá? O que se encontra respaldo em controverso na doutrina de jurisprudência. É preciso lembrar também que não deve ser oferecido o acordo se, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso não confessar circunstancialmente o fato. Tá errado. Por quê, pessoal? De fato, a confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal é uma das condições para a celebração do NPP. Só que o fato de o indiciado ter permanecido calado, ter exercido o direito constitucional ao silêncio na fase de
investigação, não é um obstáculo para que o Ministério Público faça a proposta. Depp! O cara foi preso em flagrante, ficou em silêncio, né? Foi interrogado em sede policial, ficou em silêncio, não quis falar. Beleza, acabou o inquérito. O promotor olhou e falou: “Bom, o crime que ele praticou tem pena mínima menor que 4 anos e é um crime sem violência grave à pessoa. Esse cara não é reincidente; enfim, cabe o benefício.” Aí não vou propor porque ele ficou em silêncio? Não propõe. Faz a proposta! Se ele aceitar a proposta e falar que quer fazer o
acordo, aí você chama o cara e fala: “Vem cá, já que você quer fazer o acordo, né? Você aceitou a proposta, você vai ter que sentar o bumbum aqui na cadeira e confessar formal e circunstanciadamente a prática da infração.” Então, a confissão formal e circunstanciada é um requisito para a celebração do NPP, mas não para o oferecimento de proposta. Mesmo que ele tenha ficado em silêncio na fase de investigação, isso não impede a proposta de acordo de não persecução penal. E o outro erro é dizer que não cabe a NPP para fatos ocorridos antes da
entrada em vigor da Lei 13.964. Tá errado. Por quê? STF e STJ recentemente firmaram o entendimento no sentido de que as normas relativas ao NPP possuem natureza mista ou híbrida e têm aspectos processuais, mas também têm aspectos penais, já que afetam a punibilidade do Estado. O cumprimento do NPP gera extinção da punibilidade, né? Então, por ser norma de caráter misto ou híbrido, você aplica essa norma às regras da lei penal no tempo. Então, por ser uma norma benéfica, ela vai retroagir, sendo aplicável aos fatos praticados antes da sua entrada em vigor, desde que o pedido
para que o MP faça a proposta de NPP tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da condenação. Se já houve o trânsito em julgado, aí não. Tudo bem. Então, cuidado com isso, tá? Errada a assertiva. Agora, sobre competência, pessoal, algumas... alguns pontos importantes sobre competência, né? Pede aqui para marcar incorreta. Tá? Letra A: o concurso entre crime comum e militar constitui... Causa de separação obrigatória dos processos. Tá certo, artigo 79, inciso primeiro do CPP. Tá, vamos lá. Conexão e continência são situações que podem gerar modificação de competência. Tá, como assim, professor? Vamos imaginar a
seguinte hipótese: imagine que o José praticou um homicídio doloso consumado numa comarca X e praticou uma lesão corporal grave na comarca Y. Só que são ações conexas; há um vínculo entre elas. Digamos que a lesão corporal foi praticada para assegurar a ocultação desse homicídio, por exemplo. Enfim, há uma conexão entre as infrações. Em regra, há a reunião dos processos para julgamento conjunto, para evitar decisões conflitantes, né? Então, você vai reunir esses dois processos para julgamento perante um dos juízos, e, nesse caso, o foro prevalente é o tribunal do júri da comarca X, onde ocorreu aquele
homicídio. O tribunal do júri da comarca X vai julgar os dois crimes: tanto o homicídio quanto a lesão corporal, porque são infrações conexas. Perfeito? Maravilha! Ah, só que em alguns casos, né, haverá a separação dos processos; não haverá essa reunião dos processos quando? Aí, têm algumas situações. As principais são: no caso de crime comum e crime militar, separação obrigatória dos processos, artigo 79, primeiro. Então, se tem um crime comum e um crime militar, eles são conexos, mas não vai ter reunião dos processos para julgamento conjunto. Vai haver a separação dos processos: o crime comum julgado
na justiça comum e o crime militar julgado na justiça militar. Outra situação de separação obrigatória: juízo comum e juízo de menores, né? Então, tem um crime e um ato infracional análogo a crime praticado pelo adolescente. Separação: o crime vai ser julgado na justiça comum e o ato infracional análogo a crime vai ser julgado no Juizado da Vara da Infância e da Juventude. Tudo bem? Cuidado com isso! Há também situações de separação facultativa. Por exemplo, quando as infrações foram praticadas em circunstâncias de tempo ou lugar diferentes, o juiz pode separar os processos. Ah, quando há um
número excessivo de acusados, o juiz pode separar o processo também para evitar um prolongamento excessivo do processo, né? O que pode gerar, inclusive, um prazo exacerbado para finalizar a instrução e pode acabar prolongando desnecessariamente prisões cautelares, por exemplo, né? Então, são casos de separação facultativa. Tá, mas lembre-se: conexão e continência, em regra, importam reunião dos processos para julgamento conjunto. Mas nem sempre existem hipóteses de separação facultativa e de separação obrigatória. B. Para a definição da competência territorial, nosso ordenamento jurídico adotou a teoria da atividade? Errado, pessoal! Para definir competência territorial, ou seja, qual é o
foro territorialmente competente? Perdão, essa aqui tá errada. O nosso Código de Processo Penal adota a teoria do resultado, artigo 70 do CPP, que diz: é competente, como regra geral, o foro do lugar em que se consumar a infração penal. Não é o do lugar em que foi praticada a infração. Como regra geral, é competente o foro do lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, o foro do lugar em que for praticado o último ato executório. Professor, e se não for conhecido o lugar da infração? Você não sabe onde ocorreu a
infração, né? Se for desconhecido o local da infração, será competente o foro do domicílio ou residência do réu, artigo 72 do nosso CPP. C. A conexão instrumental ocorre quando a prova de uma infração influi na prova de outra e recomenda a reunião dos processos. Tá certo, né? É o artigo 76, inciso terceiro do CPP. Por exemplo, né? Um cara praticou um furto, furtou um celular, vendeu esse celular para outra pessoa que sabia que era um produto de furto, né? Então, temos um furto do celular e a receptação. A pessoa que comprou aquele celular sabendo que
era produto de furto... Veja, nesse caso, há uma conexão instrumental entre as duas infrações penais. Por que que há essa conexão? Porque a prova da existência do furto influencia na caracterização ou não da receptação. Tem uma relação entre as duas infrações, aí. Então, aqui podemos dizer que há uma conexão instrumental probatória entre as infrações. Então, a princípio, se recomenda a reunião dos processos para julgamento conjunto, né? Um mesmo juízo julgando tanto aquele furto quanto a receptação do celular furtado, tá? D. Será prorrogada a competência do juiz presidente do tribunal do júri em caso de desclassificação
em plenário para crime não doloso contra a vida? Meus amigos, tá certo isso! Está previsto no artigo 492, parágrafo primeiro do CPP. O artigo 492, parágrafo 1º vai dizer exatamente isso. O que vai dizer? Se houver desclassificação da infração para outra que seja de competência da vara comum do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença. Ou seja, digamos que o José foi denunciado por homicídio doloso consumado. Só que os jurados, ao responderem aos quesitos, falaram o seguinte: "Olha, nós entendemos que não houve um homicídio doloso consumado". Né? A defesa alegou ali
que houve uma lesão corporal seguida de morte, né? Que ele queria só bater e a vítima acabou morrendo. Então, nós, jurados, concordamos com a defesa: sim, houve uma lesão corporal seguida de morte. Neste caso da desclassificação por um crime que não é doloso contra a vida, cabe ao próprio juiz presidente do júri agora proferir sentença, né? Não vai pegar: "Ah, então eu vou mandar isso aqui para vara criminal comum." Não! Ele, próprio juiz presidente do júri, é que vai sentenciar. Tudo bem? Muito cuidado, porque isso aqui é o que acontece se a desclassificação se dá
em plenário do júri. Por quê? Se a desclassificação ocorre não em plenário do júri, mas ao final da primeira fase, ou seja, se ela se dá pelo próprio juiz, né? Que é o juiz presidente do júri, né? Mas ao final da primeira fase, não em plenário, né? Não na segunda fase. Do rito do Júlio, nesse caso, muito cuidado com isso: ele vai encaminhar ao juízo competente, tudo bem? Aí ele vai encaminhar ao juízo competente. Isso você tem que ter em mente, porque, nesse caso, o processo está numa fase bastante embrionária ainda, né? Está bem no
comecinho, então, o juiz presidente do Júri, o juiz ali que está tocando a instrução preliminar, verificou que não é o caso, né, de ser um crime doloso contra a vida, e sim um crime que não é doloso contra a vida: uma lesão corporal de morte, um latrocínio, um homicídio culposo. Então, ao desclassificar, ele já manda para o juízo competente, que é o juízo singular, né, da vara criminal comum. Agora, se a classificação acontece em plenário do Júri, pelos jurados responder aos quesitos, aí, artigo 492, parágrafo primeiro, o próprio juiz presidente vai julgar, porque já teve
o processo todo, né? Toda a fase instrutória, todo o processo desenvolveu, então agora julga logo você mesmo, juiz presidente, né? Tem por que mandar para um outro juízo, né, que é o juízo singular, a vara criminal comum? Para retomar, refazer todo o processo de novo, né? Seria uma perda de tempo muito grande. Portanto, nesse caso, o próprio juiz presidente é quem vai julgar. Com relação à citação do processo penal, a assertiva é incorreta. Letra A: a citação do militar fará-se por intermédio do respectivo chefe de serviço. Tá certo, artigo 358, né, do nosso CPP, perfeito
isso aqui. Letra B: segundo o STF, é constitucional a citação por hora certa, do artigo 362. Tá certo, né? O réu pode ser citado pessoalmente, né? Tem a citação por mandado, a por carta precatória, por carta rogatória, ou pode ser citado fictamente, a citação ficta ou presumida, pode ser por hora certa ou por edital. A citação por hora certa acontece quando o réu tem endereço conhecido; você sabe onde ele mora, mas o réu está se ocultando para não ser citado. É diferente da citação por edital, que acontece quando o réu está em local desconhecido; você
não tem o paradeiro dele. Aí, ação por edital, artigo 361. O STF já se manifestou há muito tempo atrás sobre a constitucionalidade da citação por hora certa, tá? Dizendo que é compatível, sim, com o processo penal. Então, ela é constitucional, tá? Letra C: citado por edital nos termos do artigo 361, terá o prazo de 15 dias para apresentar resposta à acusação, contados da publicação do edital. Errado, tá? Essa aqui é errada, por quê? O réu, no caso de citação por edital, primeiro que o prazo não é de 15 dias. O prazo da resposta à acusação
é de 10 dias e esse prazo para a resposta à acusação, no caso de réu citado por edital, ele começa a correr a partir do comparecimento do réu. Por quê? Se o réu é citado por edital e não comparece nem constitui advogado, o que acontece? Ficam suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, artigo 366 do CPP. Então, se o réu é citado por edital, o prazo para a resposta à acusação só vai começar a correr quando ele comparecer em juízo pessoalmente ou por intermédio do seu advogado constituído. Porque se ele não comparecer nem
constituir advogado, ficam suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, artigo 366. Lembra desse artigo? Esse artigo é muito importante, tá? Artigo 366. Letra D: quando o réu reside em local certo e sabido, mas diverso do local deprecado, o juiz responsável poderá encaminhar a carta à comarca correta, oficiando ao juiz deprecante sobre o fato. Esta modalidade de carta precatória é denominada itinerante. Meus amigos, só um minutinho, deu um problema no áudio, coisa rapidinho. Tá dando um chiadinho, vou resolver rapidinho, é um minutinho, um segundinho. Pessoal, acho que agora resolveu, né? Vamos lá, desculpem aí,
mas foi... Ah, tá errada? Tá certa, né, pessoal? Por quê? É o artigo 355, parágrafo primeiro, é o caráter itinerante da carta precatória. Quando o réu reside no Brasil, mas em local não sujeito à jurisdição do juízo processante, deve ser deprecada a sua citação. Então, digamos que o processo tramita em Porto Velho, Rondônia, mas o réu agora está morando em Teresina, no Piauí. O juiz de Porto Velho, que é o juiz do deprecante, vai expedir uma carta precatória lá para Teresina, pedindo que o juiz de Teresina proceda à citação do réu lá. Só que, digamos
que o juiz de Teresina fala: "Ó, cumpra essa precatória." E o oficial de justiça, ao ir à casa do réu lá em Teresina, verifica que o réu não está morando mais em Teresina; os vizinhos, familiares falam que ele se mudou, agora está morando em Juiz de Fora, Minas Gerais. Né? Nesse caso, o juiz lá de Teresina, ao invés de devolver a carta precatória lá para Porto Velho, ele próprio já vai encaminhar essa precatória para Juiz de Fora, falou: "Ó, o cara estaria morando aqui em Teresina, mas verificou-se que ele não está morando aqui e sim
em Juiz de Fora." Então, tem que: é o caráter itinerante da carta precatória, tá? Artigo 355, parágrafo primeiro, também é relevante, cuidado com ele. Letra E: portanto, é a falsa. Fulano de tal foi condenado a 10 anos de reclusão pelo crime de peculato, foi intimado da sentença condenatória por carta precatória e, resignado, o acusado deseja interpor recurso. Seu prazo começa a fluir a partir da intimação. Bom, sobre prazos processuais, né, eh, para se manifestar, meus amigos, esse prazo aqui vai ser contado a partir da intimação pelo oficial de justiça, por quê? Súmula 710 do STF:
no processo penal, contam-se os prazos a partir da intimação ou da citação, né? A partir da comunicação processual e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem cumprida. É diferente lá do processo civil. Né? Lá no processo civil, o prazo para se manifestar, para contestar, para recorrer, enfim, ele é contado a partir da juntada aos autos do mandado. Aqui no processo penal, não. Se o cara foi intimado no dia 10 de junho, uma quarta-feira, o prazo para ele recorrer, no caso, aqui, recorrer da sentença, né, vai ser contado levando
em consideração a tese de junho, quarta-feira, a intimação dele, e vai ser contado a partir do dia útil seguinte, né, 11 de junho, quinta-feira. Ah, mas o mandado de intimação só foi juntado aos autos uma semana depois? Não interessa, tá? O que importa é a data em que ele foi intimado. Súmula 710 do STF, tá? Cuidado com isso, é bastante relevante. Ainda sobre citações, o pedido de incorreta citação do militar fará por intermédio do respectivo chefe de serviço. Outra vez, o artigo 358 sendo cobrado, cuidado, tá? Correta, né? O processo terá completada a sua formação
quando realizada a citação do acusado, tá certo, né? Aí está formada plenamente a relação jurídico-processual com o acusador, com o acusado e com o juiz. Artigo 363: verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e realizará a citação por hora certa, sim, na forma do CPC. Perfeito, porque o artigo 362 do CPP fala exatamente isso. Olha, ele vai realizar a citação por hora certa na forma como está regulamentado lá no CPC, tá? Por quê? O CPP prevê o cabimento da citação por hora certa, mas ele não
regulamenta como ela vai se dar; isso tá no CPC. D) Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficará suspenso o processo, correndo o prazo prescricional. Errado, né? Isso aqui é muito importante, pessoal. Artigo 366: se o réu citado por edital não comparecer nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos, podendo o juiz, durante o período de suspensão do processo, determinar, se for o caso, a produção antecipada de provas urgentes, bem como, se for o caso, mediante os requisitos, decretar a prisão preventiva do acusado, se necessário, claro,
tá? Então, suspensão do processo e do curto prazo prescricional no caso de réu citado por edital que não comparece nem constitui advogado. O artigo 366 é muito relevante, tem um grande histórico de cobrança sempre, tá? Então, fiquem atentos a ele, é meu destaque para vocês. Aqui, agora, pessoal, eu trouxe aqui, passados mais de 30 minutos, mais da metade da aula de revisão, algumas apostas finais, tá? Eu falei que a banca com suplan não tem um grande histórico de questões, e às vezes você pega lá uma questão só porque ela é uma questão da banca. Eu
vou trabalhar a questão aqui na revisão, não necessariamente pode não ser uma questão que vai ajudar tanto assim na revisão, né? Então, separei aqui, mais ou menos, metade da aula pra gente falar um pouquinho aqui dessas apostas finais pra prova de vocês. Vamos lá, primeiro ponto: retratação da representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. O artigo 25 do CPP diz que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, ou seja, uma vez que o Ministério Público já pegou aquela representação e já ofereceu a denúncia, não cabe mais retratação. Cuidado, porque várias
vezes as bancas colocam assim: a representação será irretratável depois de recebida a denúncia. Errado! É depois de oferecida! Até o oferecimento cabe retratação, não é até o recebimento da denúncia. O oferecimento é o ato pelo qual o MP leva a denúncia ao Judiciário; o recebimento é um outro ato, por meio do qual o Judiciário olha para a cara daquela denúncia e fala: bonita, hein? Certinho aqui, tal, receba a denúncia, né? Não é até o recebimento, é até o oferecimento. Isso sempre cai. Transmissibilidade do direito de queixa e de representação: o direito de queixa na ação
penal privada e o de representação na ação penal pública condicionada à representação pertencem a quem? À vítima, né? Ao ofendido ou ao seu representante legal. Mas, e no caso de morte ou declaração judicial de ausência do ofendido? Esse direito passa aos sucessores. Bom, em caso de morte do ofendido ou de declaração judicial de ausência, esse direito de queixa passa ao cônjuge, ao ascendente, ao descendente, ao irmão, nessa miserável ordem. É o que você vai encontrar nos artigos 31 e 36 do Código de Processo Penal. Então, o direito de queixa passa aos sucessores: cônjuge, ascendente, descendente
ou irmão nessa ordem. Obviamente que o direito de queixa só passa aos sucessores se o ofendido, quando morreu, ainda tinha esse direito, né? Digamos que a vítima sofreu um crime de ação penal privada em janeiro de um ano, certo? Ano qualquer. E ela descobriu em janeiro mesmo quem era o suposto infrator, só que ela não ajuizou queixa crime. E aí, em novembro, ela morreu. Ela vai passar para os sucessores o direito de queixa? Claro que não, porque ela já havia decaído desse direito. Ela já havia perdido esse direito. Ela tinha o prazo de seis meses
para oferecer queixa crime e não fez no prazo. Decaiu. Então, quando ela morreu, ela já não tinha mais direito de queixa para passar aos sucessores. Você só dá de herança para alguém aquilo que você tem, fiote! Pelo amor de Deus, né? Vamos lá: princípio da indivisibilidade na ação penal privada. Já falei com vocês lá atrás, né? Mas eu vou ressaltar aqui. Na ação penal privada, embora a vítima não seja obrigada a ajuizar a queixa crime, né, o princípio da oportunidade ou conveniência. Caso resolva ajuizar a queixa crime, tem que fazer isso contra todos os infratores,
não pode fazer isso só contra um ou contra alguns. Portanto, o princípio da indivisibilidade, artigo 48, que é muito importante quando a gente fala em princípios, né, na ação penal pública e privada, o princípio da indivisibilidade. Da ação penal privada, é seguramente o mais cobrado atenção a ele. Outro ponto importante, que é o ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), já falei sobre ele com vocês quando vimos uma questão, mas quero ressaltar que o cabimento do ANPP, meus amigos, tem que ser crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e com pena mínima menor que 4
anos. O camarada não pode ser reincidente, salvo insignificantes as infrações penais pretéritas. E tem que confessar formal e circunstanciadamente a prática da infração penal. Quanto às vedações, quero ficar com as vedações legais aqui para vocês. Não cabe o ANPP se for cabível a transação penal. Então, se é cabível a transação penal lá do JEC (Juizados Especiais Criminais), não cabe o ANPP. O cara praticou uma infração de menor potencial ofensivo e, se cabe a transação penal para ele, não vai caber o ANPP. Não cabe também nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, ou
então contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, crime de gênero, em favor do agressor. Não cabe o ANPP também, isso é muito importante. O artigo 28-A, parágrafo 2º, inciso terceiro do CPP (Código de Processo Penal) estabelece que não cabe o ANPP se o agente já foi beneficiado, nos últimos 5 anos, com o próprio ANPP em outro caso, ou com transação penal, ou com suspensão condicional do processo. Então, se o camarada, se o indiciado, nos últimos 5 anos, já foi agraciado com um ANPP em outro caso, ou com uma transação penal, ou com
uma suspensão condicional do processo, ele não poderá agora receber um ANPP. Essa é a mais importante, na minha opinião, para a prova, cai muito, então fiquem atentos a isso. É um ponto relevante aqui do nosso estudo. A homologação e a recusa de homologação do ANPP pelo juiz. Uma vez que é feito o acordo entre o MP, o suposto infrator e o defensor, esse acordo vai para o juiz que tem que homologar para que ele produza efeitos. Uma vez homologado, o ANPP é hora de o investigado ser agora beneficiado pelo ANPP, com as condições do acordo,
maravilha! Se ele cumprir tudo certinho, tá? Distinta a punibilidade. Se ele não cumprir, é rescindido do acordo e o réu vai ter denúncia. Só que pode ser que o juiz recuse a homologação do ANPP porque ele entendeu, por exemplo, que o ANPP é ilegal naquelas circunstâncias, né? Porque não há uma hipótese de cabimento ou há uma vedação expressa ao ANPP naquela casa. Enfim, ele pode recusar a homologação. O juiz também pode recusar a homologação quando entende que as condições fixadas são insuficientes, inadequadas ou abusivas. Aí ele retorna os autos ao MP; ele devolve os autos
ao MP para que o MP faça ajustes. “Ô, promotor, essas condições que você fixou são muito abusivas, cara. É muito pesado, abranda isso aí!” Ou então: “Essas condições são muito fraquinhas, pô, insuficientes. Vamos pegar pesado!” Ele devolve ao MP para os ajustes. Se o MP não fizer os ajustes, o juiz pode recusar a homologação. Então, cuidado com isso! Homologação e recurso de homologação são temas importantes também. Competência territorial nos crimes de estelionato praticados mediante emissão de cheque sem fundo, depósito bancário ou transferência bancária. Meus amigos, como eu falei com vocês, a competência territorial, como regra,
é definida pelo foro do lugar em que se consumar a infração, né? Só que, especificamente, a se tratar do crime de estelionato, quando praticado por algum desses meios aqui — ou seja, estelionato praticado mediante emissão de cheque sem fundo, depósito bancário ou transferência bancária — a competência territorial não será do local da consumação, e sim do foro, domicílio ou residência da vítima. Então, estelionato, quando praticado mediante emissão de cheque sem fundo, depósito bancário ou diferença de valores, a competência é do foro, domicílio ou residência da vítima (artigo 70, parágrafo 4). O domicílio do réu como
critério para fixação de competência territorial está nos artigos 72 e 73 do CPP e também é bastante importante. O artigo 72 do CPP vai dizer o seguinte: "Não sendo conhecido o lugar da infração, será definido o foro, então, pelo domicílio do réu." Não sendo conhecido o lugar da infração, será competente o foro do domicílio ou residência do réu. O artigo 73 vai além, dizendo o seguinte: "Olha, se for crime de exclusiva ação privada, a vítima, ao ajuizar a queixa-crime, pode preferir, se ela quiser, ajuizar a queixa-crime no foro do domicílio do réu, mesmo que seja
conhecido o lugar da infração." Cuidado! No caso de exclusiva ação privada, a vítima pode escolher ajuizar a queixa-crime no foro, domicílio ou residência do réu, mesmo que seja conhecido o lugar da infração. É o artigo 73 do CPP, e isso aqui é bastante relevante. Artigo 72 e 73 têm bom histórico. Conexão e continência. Já falei com vocês lá atrás que, em caso de conexão e continência, nós temos, como regra geral, a reunião dos processos para julgamento conjunto, né? Para evitar decisões conflitantes. Afinal de contas, estamos falando aí de processos que têm alguma relação. Enfim, então,
para evitar decisões conflitantes, reunião dos processos para julgamento conjunto. Só que eu vou reunir esses processos onde? Perante qual juízo? Você tem que estabelecer, portanto, qual é o foro prevalente. E aí eu vou remeter vocês para o artigo 78 do CPP, que vai dizer o seguinte: "Olha, se for um concurso entre a competência do júri e a competência da jurisdição comum, prevalece o júri." Então, por exemplo, imagine que você tem lá um estupro e um homicídio doloso e eles são conexos. Há uma conexão entre eles! Reunião dos processos para julgamento conjunto: o estupro é da
vara criminal comum. Doloso é do Júri. Nesse caso, a reunião dos processos vai se dar no JRI, que é o foro prevalente. Também há definição de foro prevalente no caso de jurisdições de categorias diversas. Né? Imagine, por exemplo, que há, hipoteticamente, uma conexão entre duas infrações; uma é para ser julgada pelo STJ e a outra por um juízo criminal comum de primeira instância. E vão ser julgados conjuntamente. Vai ser no STJ, que é de maior graduação. Outra situação é a conexão entre infrações de jurisdições distintas, pertencentes a justiças distintas. Tem lá, por exemplo, um crime
eleitoral e um crime comum; prevalece a jurisdição especial. A reunião dos processos vai se dar na Justiça Eleitoral. Cuidado, porque isso não se aplica à Justiça Militar com Justiça comum; se é um crime militar ou um crime comum, a separação é obrigatória. Falamos sobre isso lá atrás: crime militar, crime comum, separação obrigatória. Tá, pessoal? Maravilha! E se forem jurisdições de mesma graduação, uma não é especial em relação à outra. São de mesma categoria. Como é que faz? Né? Imagine, por exemplo, duas infrações penais conexas; uma aconteceu em Porto Velho e a outra em Teresina. Como
é que eu vou estabelecer o foro prevalente? Eu vou reunir os processos para julgamento conjunto, mas onde? Em Porto Velho ou Teresina? O primeiro critério é o seguinte: o lugar onde foi praticada a infração penal mais grave. Tá? Então, digamos que é um roubo que aconteceu em Porto Velho, conexo com uma receptação que aconteceu em Teresina. O roubo tem pena mais grave, então o foro prevalente será o de Porto Velho, o lugar onde ocorreu a infração penal mais grave. Se as infrações são de mesma gravidade, aí é prevalente o foro do lugar onde foi praticado
o maior número de infrações. Professor, mas e se foi o mesmo número de infrações, uma em cada uma ou duas em cada uma? Né? Duas aqui, duas aqui. Aí, o critério da prevenção; né? O juízo que primeiro atuar no caso, antecipando-se aos demais na prática de algum ato relativo àquela persecução penal. Mas os dois critérios principais são esses, né? O primeiro critério é o seguinte: o lugar onde aconteceu a infração penal mais grave. Esse vai ser o foro prevalente. Se não houver uma infração mais grave, vai ser o critério, né? O lugar em que foi
praticado o maior número de infrações. Então, digamos que foram praticados três furtos simples; né? Dois em Teresina e um em Porto Velho. Os três têm a mesma pena: reclusão de um a quatro anos e multa, e são conexos. Nesse caso, vou reunir os três para julgamento conjunto. Onde? Porto Velho ou Teresina? Em Porto Velho foi um furto simples; em Teresina, dois furtos simples. Né? Então, o critério aí é a quantidade de infrações. O foro prevalente será o de Teresina, local onde foi praticado o maior número de infrações. Tá? Artigo 78, inciso segundo, alíneas A, B
e C do CPP. Vamos adiante, pessoal. Vamos lá. Citação por edital no Jecrim, impossibilidade. Artigo 66, parágrafo único. Tá? No Jecrim não cabe citação por edital, ou seja, se o réu está em local desconhecido, esse processo não pode continuar no Jecrim, né? Porque vai ser necessária a citação por edital. Então, vai acontecer o quê? Tá lá no Jecrim: é uma infração de menor potencial ofensivo, vai ser necessária a citação por edital do réu, então o processo não pode continuar no Jecrim. Tem que ser remetido para a vara criminal comum, onde será adotado o rito mais
próximo do rito sumaríssimo, que é o rito sumário. Tá? Artigo 538 do CPP. Então, citação por edital no Jecrim é vedada. Institutos despenalizadores no Tribunal do Júri ou juízo comum, tá? Meus amigos, muito cuidado com isso. Por quê? A transação penal e a composição dos danos civis são institutos despenalizadores previstos lá na lei dos juizados para as infrações de menor potencial ofensivo, né? E esses institutos, como o nome já diz, têm por finalidade evitar a aplicação de pena privativa de liberdade, cada qual à sua maneira, né? A questão é a seguinte: artigo 60, parágrafo único.
Tá? No caso de reunião dos processos perante o juízo comum ou perante o Tribunal do Júri, por força aí de regra de conexão ou continência, deverão ser observados os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Como assim? Digamos que o José praticou um homicídio doloso consumado e praticou também uma lesão corporal leve. Os dois são conexos, esses crimes têm alguma conexão entre eles; haverá reunião dos processos para julgamento conjunto. E como o Tribunal do Júri é o foro prevalente, ele vai exercer a força atrativa e vai julgar não só o seu crime,
que é homicídio doloso, mas também a lesão corporal leve. A lesão corporal leve, portanto, apesar de ser uma infração de menor potencial ofensivo de competência do Jecrim, nesse caso não será julgada no Jecrim e sim perante o Tribunal do Júri porque está em conexão com o crime doloso contra a vida. O que o artigo 60, parágrafo único, vai dizer é o seguinte: mesmo que essa infração de menor potencial ofensivo esteja sendo julgada em outro juízo, num juízo criminal comum ou no júri, como é o caso, devem ser aplicados os institutos da composição dos danos civis
e da transação penal. O juiz lá do júri tem que seguir as regras da composição dos danos civis, artigo 74 da lei dos juizados, e da transação penal, artigo 76 da lei dos juizados, mesmo que seja uma infração de menor potencial ofensivo que não esteja sendo julgada perante o GCM. Tá? Outro ponto importante: transação penal e súmula vinculante 35. Né? A transação penal é um acordo pré-processual para não ter denúncia; é bem semelhante, tem a mesma natureza do acordo de não persecução penal, só que a transação penal só cabe para as infrações de menor potencial
ofensivo. Né, as contravenções penais, todas elas, e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse dois anos, cumulados ou não com multa. A questão é a seguinte: a homologação do acordo de transação penal não faz coisa julgada material (Súmula Vinculante 35) e, uma vez descumpridos os termos do acordo, retoma-se a persecução penal. Ou seja, teve lá transação penal, era uma infração de menor potencial ofensivo, o MP propôs a transação, o indiciado aceitou, foi homologada por juiz, né, aquela transação, só que o indiciado não cumpriu as condições fixadas. Então, o que acontece? Bom, retoma-se a persecução penal,
se você não cumpriu tua parte no acordo, eu, promotor, agora vou te denunciar. É basicamente isso, tá? A Súmula Vinculante 35 diz que a homologação da transação penal não faz coisa julgada material, de maneira que, se forem descumpridos os termos do acordo pelo beneficiado, tá rescindida a transação e é retomada a persecução penal. Tá, recursos no JECRIM. Bom, eu quero falar sobre isso, pessoal. Bom, basicamente estou falando aqui de duas grandes decisões, além da hipótese, né, de embargos de declaração no caso de contradição ou obscuridade na sentença. Eu tô falando aqui, pessoal, de duas grandes
decisões: a decisão de rejeição da inicial acusatória, a rejeição da denúncia ou queixa, tá? E tô falando também da sentença de mérito, né, de absolvição ou de condenação. Essas duas decisões no tribunal, no JECRIM, elas são impugnáveis por meio de apelação, e a apelação tem o prazo de 10 dias. Por que eu ressalto isso? Porque no CPP a apelação é em 15 dias, aqui no JECRIM é 10 dias, tá? E as razões do recorrente, as razões de apelação, são apresentadas concomitantemente; ele não vai ter um prazo extra para apresentar as razões. Então, ele recorre, ele
peticiona apelando, e na petição de apelação já deve fazer constar as suas razões recursais, os motivos pelos quais ele entende, né, que aquela decisão tem que ser modificada, reformada ou anulada, tá? E outro ponto importante é que, no caso da rejeição da denúncia ou queixa, eu tenho que fazer essa ressalva, né, porque lá no CPP, a princípio, contra a decisão de rejeição da denúncia ou queixa, é cabível outro recurso, o recurso em sentido estrito, mas no JECRIM, artigo 82, é cabível a apelação. Então, se estamos falando de decisão de rejeição da denúncia ou queixa no
JECRIM, cabe apelação em 10 dias, tá? Então, cuidado com isso; isso aqui é bastante relevante para o estudo de vocês, tá bom? E vamos para mais uma. O que temos para falar ainda? Ah, tá aqui: a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo é um benefício que consiste basicamente na suspensão do processo. Olha como que o nome diz, né? Por um período que varia de dois a quatro anos, durante o qual o beneficiário deverá andar na linha. O processo vai ficar suspenso e ele tem que cumprir algumas condições: andar na linha, não pode
vir a ser processado, né, por outro crime nem por uma contravenção. Isso pode ensejar a revogação do benefício. Ele tem que reparar o dano, salva a impossibilidade de fazê-lo, e cumprir eventuais outras condições fixadas pelo juiz. Se, ao final do período fixado em que o processo ficou suspenso, ele tiver andado na linha, cumprido todas as condições, tá extinta a punibilidade. Tá, isso é a suspensão condicional do processo. O MP vai lá e denuncia o réu, e na própria denúncia já faz a proposta de sursis processual, a proposta de suspensão condicional do processo. Aí, né, o
denunciado diz se aceita ou não. Se o denunciado e o seu defensor aceitarem, o juiz vai lá, recebe a denúncia, homologa a suspensão, fixa as condições. Beleza? E o processo fica suspenso logo no comecinho, né, por um certo período de dois a quatro anos. Se, ao final do período, o cara tiver andado na linha, cumprido as condições bonitinho, tal, não deu margem para revogação, tá? Extinta a punibilidade. Maravilha! A suspensão condicional do processo só cabe para as infrações... Deixa eu botar aqui: ó, cuja pena mínima que importa é a pena mínima, cuja pena não ultrapasse
um ano de privação da liberdade — pena mínima de até um ano, tudo bem? Não importa a pena máxima, então, mesmo que não seja uma infração de menor potencial ofensivo, se a pena mínima não ultrapassa um ano, cabe a suspensão condicional do processo. Por exemplo, estelionato: reclusão de cinco anos e multa. É infração de menor potencial ofensivo? Não! A pena máxima ultrapassa dois anos, mas cabe a suspensão condicional do processo porque a pena mínima não ultrapassa um ano. Furto simples: reclusão de um a quatro anos e multa. É infração de menor potencial ofensivo? Não, não
é! Mas cabe a suspensão condicional do processo porque a pena mínima não ultrapassa um ano. Então, cuidado com isso, pessoal; isso é muito importante. Fiquem atentos a isso, tá? É um ponto relevante para o estudo de vocês. Meus amigos, eu gostaria de continuar com vocês e falar sobre tantas outras coisas, mas é claro que nos faltaria tempo, né? Já estamos aqui em cima do laço, né? Tentei falar sobre pontos importantes com vocês, alguns pontos importantes de inquérito, de ação penal, de competência, né, até de GCM também, eh, a NPP. Espero que ajude na prova de
vocês, né? É claro que a gente não tem bola de cristal, não sabe se vai cair o que a gente falou aqui, mas espero que alguma coisa acabe caindo e que, nessa horinha, vocês tenham conseguido salvar aí alguns pontinhos importantes. Agradeço mais pela atenção de cada um de vocês aqui hoje e desejo a todos, como de costume, uma excelente maratona de estudos e, claro, uma excelente prova também. Até a próxima! Bom demais, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão de véspera. De gestão de pessoas e gestão pública para técnico judiciário de TJRO. Eu
sou o professor Stepan Fantina e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Veremos naquela revisão aqueles pontos fundamentais para a sua prova, mas antes da gente começar, eu deixo o convite para você me seguir no Instagram @prof_stephan_fantina. Sempre tem muita dica boa rolando por lá! No meu canal do Telegram, ADM Concursos, você tem acesso à agenda de aulas da semana, links das aulas, materiais gratuitos e ao meu canal no YouTube, Canal Stepan Fantini. Faça parte, que é sempre muito bom ter você nas minhas redes. Vamos começar, então? Lembrando aqui da diferença entre administração de
recursos humanos e gestão de pessoas. Algumas vezes, bancas e autores tratam como sinônimos, né? Só que a gente sabe que tem diferença, e se a banca cobrar, você tem que lembrar que é o seguinte: a administração de recursos humanos considera as pessoas como recursos, patrimônio físico da organização. Então, a gente tem recurso financeiro, recurso patrimonial e recurso humano. Beleza? Então, a gente fala em manutenção de cultura, introversão e isolamento na gestão de pessoas. Agora, a gente está falando do quê? Pessoas são consideradas parceiras, patrimônio intelectual da organização, fornecendo competências para o sucesso da organização. Agora,
a gente fala em mudança cultural, inovação e extroversão. Joia! Objetivos da gestão de pessoas. Então, a gente tem que lembrar dos objetivos da gestão de pessoas: identificar e atrair recursos humanos qualificados e competentes. Então, identifico e atraio esses recursos, e eu preciso adaptar esses funcionários à minha empresa. E, além disso, desenvolver todo o potencial deles. Depois que eu adaptei e desenvolvi o potencial, preciso manter eles comprometidos e satisfeitos com a organização. Maravilha! Processos de gestão de pessoas. O que Avenato fala é que gestão de pessoas é um conjunto integrado de atividades de especialistas e gestores,
como agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar, no sentido de proporcionar competências e competitividade à organização. Então, aqui a gente tem: - Agregar: pessoas utilizadas para incluir novas pessoas na empresa. Então, a gente fala em provisão, suprimento, recrutamento e seleção de pessoas. - Aplicar: pessoas utilizadas para desenhar atividades que as pessoas vão realizar na empresa, orientar e acompanhar o desempenho das pessoas. - Recompensar: pessoas utilizadas para incentivar as pessoas a satisfazerem suas necessidades individuais mais elevadas. Então, aqui a gente fala em recompensas, remuneração e benefícios. - Desenvolver: pessoas para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional
e pessoal das pessoas. Agora, recrutar é falar em treinamento, desenvolvimento, gestão do conhecimento e gestão de competências. - Manter: pessoas utilizadas para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. Administração da cultura organizacional, clima, higiene, segurança e qualidade de vida. Joia! E, por último, monitorar: pessoas utilizadas para acompanhar e controlar atividades das pessoas, verificar resultados. Portanto, incluem aqui bancos de dados e sistemas de informações gerenciais. Muito bom! Seguindo, portanto, para a gente falar de métodos de avaliação de desempenho. Então, a gente tem que lembrar que, nos métodos de avaliação de desempenho, eu
trouxe alguns dos tradicionais, como as escalas gráficas. As escalas gráficas consistem em uma tabela, um gráfico de dupla entrada, linhas e colunas, que têm por objetivo avaliar o desempenho dos indivíduos por meio de fatores de avaliação pré-determinados, aos quais são atribuídas notas previamente graduadas. Por exemplo, em um exemplo de escala gráfica contínua, eu ponho aqui produtividade. Nota 1 aqui é péssimo e aqui é nota 5, excelente. E aí o avaliador vai lá e marca aqui. Essa é a escala gráfica contínua. A semicontínua, eu ajudo o avaliador e ponho aqui uns tracinhos: 1, 2, 3, 4,
5. E aí ele escolhe o pontinho que ele quer, né? Tem a descontínua, que eu já faço dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele só tem que pintar um desses aqui, então ele não pode escolher qualquer ponto da linha, como no anterior; ele tem que escolher 1, 2, 3, 4 ou 5, só cinco opções. Beleza? Escalas gráficas de escolha forçada. Agora, estou falando na construção de diversos blocos de frases que descrevem algum comportamento do indivíduo avaliado, e depois o avaliador deve escolher uma ou duas frases de cada bloco que melhor descrevem o comportamento.
Então, coloco lá: bloco um, sei lá, é proativo, é produtivo, não gosta de tomar decisões; bloco dois, é ácido, é lento, é motivado; bloco três, e assim por diante. Aí o avaliador vai lá e escolhe uma ou duas. Tem autor que fala que deve escolher uma, tem autor que fala que pode escolher uma ou duas, né? Uma parte de autores ainda dizem que ele pode escolher quantas frases ele quiser, mas o que a gente leva para a prova é a maior parte da doutrina que fala uma ou duas. Aqui, beleza? Então a gente lembra, escolhe
uma ou duas frases que melhor descrevem. Joia! Incidentes críticos: método em que o avaliador busca identificar apenas características extremas, positivas ou negativas, do indivíduo avaliado. Então, ele se preocupa apenas com características que representam desempenhos altamente positivos e altamente negativos. Então, eu coloco assim: tudo que é negativo, falta muito, não lida bem com pessoas; tudo que é positivo, é muito produtivo, lida muito bem com números. O desempenho normal do indivíduo que está aqui no meio não é levado em consideração. Beleza? Joia! Seguindo, a avaliação 360º. Agora a gente fala de um método moderno de avaliação de
desempenho, realizado de forma circular por todos que mantêm algum tipo de contato com o indivíduo avaliado. Então, todos avaliam todos: o chefe avalia, ele, o subordinado, o cliente, fornecedor, colega de trabalho... Até ele mesmo, por meio da autoavaliação. Então, ele é o método rico, fornece informações completas e precisas. Ele tem um feedback de todos os papéis que desempenha na organização: como eu sou enquanto subordinado para o chefe; como eu sou enquanto chefe para o subordinado; como eu sou enquanto fornecedor para o cliente; como eu sou enquanto cliente para o fornecedor; e como eu sou enquanto
colega de trabalho. Beleza? Permite o anonimato, mas não garante. Vai que você só tem um colega de trabalho; você pode acabar descobrindo. Tende a reduzir o efeito halo. O efeito halo, a gente vai falar daqui a pouco, é um método complexo, caro, difícil de planejar, requer o treinamento de avaliadores, pode gerar avaliações conflitivas. E a última desvantagem aqui é que permitir que colegas, pares, subordinados realizem avaliação pode gerar parcialidade, tendenciosidade nos resultados. Então, as avaliações podem ser tendenciosas. Eu tenho só um colega lá que falou assim: "Ó, o João das Neves tá causando muito?". "Não
tá? Vamos avaliar ele mal." Vamos combinar de avaliar ele mal? Ou então falo: "Ó, vamos avaliar bem um ao outro. Eu te avalio bem, você me avalia bem." Ou então eu vou avaliar meu chefe. Eu vou avaliar ele bem, vai que ele descobre. Beleza? Alguns erros, vieses, que podem acontecer no processo de avaliação de desempenho. Primeiro, é o efeito halo, né, cuja avaliação 360º tende a reduzir a ocorrência desse erro. Efeito halo. Então, qual que é o efeito halo? É a tendência do avaliador se deixar levar por uma característica marcante, positiva ou negativa, do indivíduo
avaliado. Então, ele generaliza toda a avaliação com base em aspecto positivo ou negativo do avaliado. Então, vamos lá. Eu vou avaliar o João das Neves. Eu vou lá e faço assim: produtividade, ah, nota 10. "João das Neves é o melhor da equipe! Se não fosse ele, a gente tava lascado!" 10. Assiduidade? Ele falta muito? "Ah, mas ele é muito produtivo." Nove. Relacionamento interpessoal? "Ah, ele briga com todo mundo, mas é muito produtivo." Nove. Então, uma característica positiva generalizou a avaliação como um todo. Beleza? E o inverso disso seria assim: vou avaliar o Mário Bros. Produtividade?
"Ah, ele não é nada produtivo!" Quatro. Assiduidade? "Ele vem todo dia, é pontual." "Ah, mas não é nada produtivo." Seis. Relacionamento interpessoal? "Nossa, ele lida bem com todo mundo e é agregador." "Ah, mas não é nada produtivo." Seis. Agora, uma característica negativa generalizou a avaliação como um todo. Joia! Vamos lá. Presta atenção numa coisa aqui agora: isso daqui chama efeito de generalização, que também pode ser chamado de efeito halo. Contudo, alguns autores tratam da seguinte forma: eles falam que isso é efeito de generalização quando a avaliação beneficia o indivíduo. A generalização beneficia o indivíduo, como
nesse caso ele é nivelado por cima. Chama efeito halo quando a generalização prejudica o indivíduo, como nesse caso ele é nivelado por baixo. Chama-se efeito horn. Então, o único cuidado que você tem que ter quando você vê a palavra efeito halo na sua prova: ele pode vir normalmente como sinônimo de efeito de generalização, ou a banca pode estar querendo a diferença entre halo e horn. Halo é positivo; horn é negativo. Beleza? Só esse cuidado que eu quero que você lembre agora. Show! Tendência central: o avaliador sempre marca valores medianos na avaliação de desempenho, para não
se comprometer com os resultados, para não ter que explicar os resultados positivos, né? Para não prejudicar ninguém com resultados negativos, dá valor mediano para todo mundo. Lenience: ele é muito bondoso, pouco rigoroso, dá nota alta para todo mundo. O excesso de rigor é o contrário: ele é muito severo, muito rigoroso, dá nota baixa para todo mundo. E o recency: é memória fraca; ele se atém apenas a aspectos, comportamentos mais recentes do indivíduo avaliado. Então, você tem apenas aspectos e comportamentos mais recentes do indivíduo avaliado. Então, ele vai avaliar o indivíduo no mês de dezembro: ele
só lembra o que o indivíduo fez em outubro, novembro e dezembro; ele esquece o que o indivíduo fez lá em janeiro, fevereiro, março. É uma memória fraca. Show de bola! Competências: então, a gente tem que lembrar do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso C. O que a gente tem que ficar ligado quando a gente fala em competências? O seguinte: vamos lá, significado de conhecimentos. Conhecimentos referem-se ao saber acumulado. Então, aquilo que o indivíduo precisa entender, né, precisa saber para entender algo e ser capaz de de fato realizar a tarefa. Então, é o saber
o que fazer e por que fazer. Está relacionado à informação, pensa conhecimento, informação. A habilidade é a capacidade que o indivíduo tem de utilizar o conhecimento que ele possui na realização de determinada atividade, determinada tarefa. Então, está relacionado a saber como fazer, a técnica, a prática. E as atitudes são as ações do indivíduo, querer fazer, relacionado ao interesse, motivação, identidade, determinação. Então, vamos lá! Você acaba de completar 18 anos e vai tirar sua carta de motorista. Nunca pisou dentro de um carro, nunca dirigiu. Beleza? Você já tem competência para dirigir? Não. Aí você vai lá
e faz aquelas horas-aula, né? Vai lá, lê o livrinho da autoescola, assiste às aulas do professor. Você está adquirindo conhecimento. Está relacionado à informação. Você já tem competência para dirigir? Ainda não. Você só tem conhecimento. Você sabe o que fazer: brecar o carro. Por que fazer? Porque o farol ficou vermelho. Beleza? Aí depois você vai lá, faz aula prática, senta lá com o instrutor; ele te ensina. Agora você está colocando, né, utilizando o conhecimento que você possui na realização da atividade. Então, você faz mil horas-aula, pegou a técnica, pegou a prática. Agora você tem habilidade.
Já tem a competência para dirigir? Pera aí, vou te perguntar. Você quer dirigir? Está interessado, motivado? Sim, Stepan, tô muito determinado a isso, quero muito dirigir. Pronto! Então agora você tem. Competência para dirigir tem o conhecimento, as habilidades e as atitudes. Beleza, muito bom! Cascata de competências que a gente tem que lembrar do que Avenato aqui, né? O que Avenato fala é que competências fazem parte de uma cascata composta por competências essenciais, funcionais, gerenciais e individuais. As funcionais ou as essenciais, vamos falar delas primeiro. Elas são aquelas que proporcionam forte vantagem competitiva, que alavancam o
negócio da empresa, são indispensáveis para o sucesso da organização. Então, aqui a gente fala que elas são singulares, específicas, próprias daquela empresa, de difícil imitação. Já as funcionais são aquelas relacionadas a cada área de atividade da empresa, que cada área possui e que cada área deve adquirir e desenvolver, que são próprias das atividades especializadas. Maravilha! As gerenciais são competências que o administrador deve possuir para realizar o trabalho de gerenciar a equipe. Então, elas podem estar relacionadas a pessoas, como comunicação e supervisão, ou ao trabalho, administração, raciocínio. E, por último, as individuais, que também podem ser
chamadas de pessoais, consistem aqui no conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes pessoais aplicadas de maneira integrada, convergente. Então, elas é que transformam pessoas em talentos. Joia! Seguindo com competências, agora os tipos de acordo aqui com Carvalho, Nascimento e Serafim. O que a gente tem que lembrar desse tipo de competência? A gente tem as competências conceituais. Então, quando a gente fala em competências conceituais, são aquelas que envolvem conhecimento, domínio de julgamento e caracterizações. Ou seja, aqui eu estou falando que elas dão sustentação aos aspectos de habilidade técnica, humana, gerencial, atitudes. Quando eu falo em conceitual, quero
que você pense: ó, que elas envolvem a compreensão do todo, conceitos abrangentes do todo. Beleza! Técnica é o domínio de um sistema, de um método, de uma técnica de um processo específico para determinada área de trabalho. Então, são funções especializadas, relacionadas a funções especializadas, trabalho operacional. Então, olha lá: conceitual, eu tenho a compreensão do todo; técnica, opa, alguma função especializada requer essa competência relacionada a um trabalho operacional, ao domínio de um método, de uma técnica. Então, conceitual é entender o todo, técnica é dominar uma técnica, um método específico; e a interpessoal são aspectos de relacionamento,
comunicação, interação entre pessoas, relacionados ao bom relacionamento interpessoal. Então, novamente: conceitual compreendo o todo, técnico domino alguma técnica, algum método e a interpessoal é relacionamento. Maravilha! Então, existem várias classificações de competência. Eu trouxe aqui para a gente minhas apostas, as do que Avenato e essas de Carvalho, Nascimento e Serafim. Beleza, as apostas para sua prova são essas. Treinamento e desenvolvimento. Eu quero que você fique ligado na diferença entre treinamento e desenvolvimento. O treinamento tem por objetivo a melhoria do desempenho funcional do indivíduo, nas atividades atuais. Então, ó, eu vou treinar você para as atividades atuais,
para melhorar o desempenho funcional. Então, ele é orientado para o presente, para o cargo atual do indivíduo. Já o desenvolvimento, ó, eu vou desenvolver o indivíduo. Então, desenvolver competências para que o indivíduo se desenvolva profissionalmente, e para que ele seja capaz de utilizar a competência que ele tem futuramente. Então, é orientado para o futuro, cargos futuros para o indivíduo, para ele se desenvolver, e visa a carreira futura. Maravilha! Quero que você fique ligado nessa diferença. Descrição e análise de cargos. Aqui é o seguinte: quando a gente fala em descrição e análise de cargos, a descrição
é a descrição do conteúdo do cargo. Então, são aspectos intrínsecos ao cargo. Dentro do cargo, a descrição está intrínseca ao cargo, relacionando de maneira breve as tarefas, deveres e responsabilidades do cargo. Agora, análise de cargos se trata dos requisitos do ocupante do cargo, ou seja, o perfil desejado para ocupar aquele cargo. Então, está fora do cargo, por quê? Porque está no ocupante do cargo! Então, são aspectos extrínsecos ao cargo. Relaciona conhecimentos, habilidades e competências necessárias ao desempenho adequado do cargo, incluindo requisitos físicos, mentais e responsabilidades. Joia! Maravilha! Então, descrição é dentro, intrínseco ao cargo; análise
é fora, extrínseco ao cargo, por quê? Porque está no ocupante. Muito bom! Então, recrutamento. Vamos lembrar o seguinte: existe o recrutamento e a seleção. O que é o recrutamento? Recrutamento é um conjunto de técnicas que a empresa utiliza para atrair uma quantidade de candidatos qualificados para depois realizar a seleção. Joia! Então, recrutamento consiste em divulgar a vaga e atrair os candidatos e, depois, eu faço a minha seleção. Então, recrutamento atrai com seletividade candidatos que possuem as qualificações para a vaga disponível e, depois, vou lá e faço a seleção. Seleção é, por meio de técnicas específicas,
avaliar as características e competências do candidato, comparar essas características e competências com as características do cargo, né? O perfil profissiográfico e as competências que a organização está procurando, com o objetivo de filtrar, classificar e escolher, selecionar entre os recrutados aqueles que têm as maiores chances de se ajustar àqueles cargos que estão disponíveis, vagos na organização. Beleza? Joia! Então, escolher e classificar os candidatos adequados às necessidades da organização. Quando eu falo em recrutamento, existem alguns meios de recrutamento. O recrutamento interno, qual é? O interno é aquele realizado internamente na empresa. Então, vou buscar encontrar profissionais interessados,
qualificados, para preencher essa vaga. E onde é que estão esses profissionais? Dentro da minha empresa, internamente. Então, o que eu vou querer aqui no interno? Movimentar pessoas, ou seja, promover ou transferir os funcionários da minha empresa. Então, vou movimentar verticalmente, que é o que a gente chama de promoção: analista de marketing vira diretor de marketing. Ou eu vou movimentar horizontalmente, que é a transferência: o analista de marketing vira analista de compras para outra unidade. Ou a movimentação diagonal, que é promoção e transferência ao mesmo tempo: analista de marketing vira diretor de compras. Beleza! O externo
é aquele... Que a empresa vai buscar atrair candidatos de fora da empresa. Então, que estão justamente aí, no mercado, disponíveis. Então, disponíveis no mercado. Ou então, muitas vezes, eles podem estar em uma outra empresa, podem estar empregados, e eu vou lá e posso recrutar ele também. E o misto que ele é realizado com funcionários atuais, internos da empresa, e com candidatos de fora, ou seja, interno e externo juntos. Show! O recrutamento interno e o recrutamento externo possuem vantagens e desvantagens. Então, vamos lá. O interno tem como vantagem ser mais barato, mais econômico. Por que ele
é mais barato? Porque a empresa não precisa gastar com anúncio, com honorário, muitas vezes, de empresa de recrutamento. Beleza! Ele é mais rápido; a galera já está dentro, ali, eu já posso transferir, promover de forma imediata. Mais seguro, porque eu já conheço aquele empregado, né? Ele já é conhecido na empresa. Motiva, incentiva e fideliza os funcionários, porque eles vislumbram chances de poderem ser promovidos. Aproveita o potencial dos funcionários da empresa, aproveita o investimento que a organização fez em treinamento e desenvolvimento. A empresa foi lá, gastou para treinar, desenvolver; eu vou promover ele, eu estou aproveitando
esse investimento. Não há necessidade de que aquele funcionário faça aquela nova integração com a empresa; ele já conhece, então não preciso ter aquele treinamento introdutório para ele. E eu desenvolvo um espírito de competição saudável entre funcionários. Só que tem desvantagens. Pode tornar a cultura organizacional fortemente conservadora, porque estou mantendo os funcionários que a organização já possui. Pode dificultar a mudança, a inovação; por conta disso, eu não trago novas ideias. Favorece a manutenção do status quo, do estado de coisas, da rotina atual. Pode gerar frustração nos funcionários que não foram escolhidos, que ficam chateados. Exige a
contratação de um novo funcionário para ocupar o cargo antigo. Então, eu fui lá, promovi o analista de marketing a diretor de marketing; agora eu vou ter que contratar um analista de marketing. Beleza! Pode gerar conflito de interesses, por exemplo, o chefe que não tem a qualificação necessária para subir de cargo pode começar a contratar funcionários pouco qualificados para evitar que um dia esse subordinado ultrapasse ele no futuro. Então, esse chefe pode começar a atrapalhar o desempenho e também as aspirações dos seus funcionários para evitar que eles o ultrapassem. E tende a gerar o princípio de
Peter, o risco de competência progressiva. O que é isso? Aqui, quando ocorrem promoções constantes, há o risco de que o funcionário acabe sendo promovido acima do limite da competência dele. Então, a pessoa é promovida até atingir o seu nível de incompetência. Pensa lá: João das Neves é um excelente recepcionista. Nossa, lida muito bem com os clientes. Vamos promovê-lo a vendedor. Nossa, é o melhor vendedor de todos, lida muito bem com os clientes, vende bastante. Vamos promovê-lo a gerente. O pior gerente que a gente já viu! Ele não lida bem com pessoas, aqui, gerencialmente falando, né?
De gerir pessoas. Então, ele lida muito bem no relacionamento interpessoal com clientes, consegue vender muito bem, só que gerenciar pessoas, equipes, ele não manja. Então, eu promovi ele até ele atingir o nível de incompetência dele. Pegou a ideia? Isso é o princípio de Peter que pode ocorrer no recrutamento interno. O recrutamento externo tem vantagens e desvantagens. Tem! Então, vamos começar a lembrar delas. Ó, vantagem: renova o normal da empresa, traz novos profissionais, traz novas ideias e competências para a organização, promovendo a mudança e a inovação. Renova e enriquece os recursos humanos da organização, renova a
cultura organizacional, favorece a flexibilidade e a adaptabilidade organizacional, evita a ocorrência do princípio de Peter que a gente acabou de falar e exige menor investimento para desenvolver competências. Por quê? Porque eu vou aproveitar o gasto que uma outra empresa teve em treinar e desenvolver aquela pessoa, eu já pego ela pronta. Tem desvantagens. É mais caro; eu preciso anunciar, muitas vezes, gastar honorários com empresas de recrutamento. É mais demorado, né? Porque eu preciso aplicar técnicas de recrutamento, depois atrair esses candidatos, etc. e etc. Depois, a seleção é menos segura, porque eu não conheço o indivíduo. Há
risco de incompatibilidade entre funcionário e a empresa; o funcionário pode ter um perfil incompatível com a empresa, com a cultura organizacional. Pode trazer frustração para os funcionários da empresa; eles vão falar assim: "Poxa, eu não tenho chance de crescer aqui dentro." Pode reduzir a fidelização dos funcionários, então pode aumentar a rotatividade do pessoal, e pode afetar a política de remuneração da empresa, causar desajustes na política salarial, então, especificamente quando a oferta e a demanda de recursos humanos estão desequilibrados. Ou seja, existe uma maior demanda por um certo tipo de profissional e poucos profissionais no mercado.
Então, ele tende a requisitar um salário mais alto e aí faz esse desajuste na política salarial da empresa. Maravilha! Processo de mudança organizacional. A gente tem que lembrar que a primeira fase é o descongelamento. O que acontece no descongelamento? Ó, é a fase que a gente percebe, entende e aceita que é necessário mudar. Então, aquelas velhas práticas, ideias, comportamentos são abandonados. Descongelei. Aí é hora de mudar, mudança. Então, as novas práticas, ideias, comportamentos são aprendidos. Então, essas novas ações começam a ser executadas. Depois, eu vou pro recongelamento. Agora eu preciso recongelar de novo. Ou seja,
as novas práticas, ideias e comportamentos são incorporados pelo indivíduo. Então, é a fase em que essas novas ações, o novo padrão, é completamente consolidado. Então, a gente lembra: descongelamento, mudança e recongelamento. Maravilha! Muito bom, bom demais! Então, com isso, a gente encerra essa nossa revisão de vest. Eu vou deixar aqui para você, mais uma vez, o Instagram: @profpestanpfan. Sempre tem muita dica boa rolando por lá. Meu canal Nutel Agradem Concursos, lá você tem acesso à agenda de aulas da semana, links das aulas, materiais gratuitos e o meu canal no YouTube, canal Stefan Fantini. Faça parte!
Que é sempre muito bom ter. Você, nas minhas redes, ó, e lá no Telegram também. Qualquer possibilidade de recurso, eu sempre trago em primeira mão lá no Telegram. Então, faça uma excelente prova, vá tranquilo, né? Tenta segurar um pouco a ansiedade para não deixar atrapalhar e vá, vá com tudo! Coloque em prática aquilo que você vem estudando nesses últimos tempos, né? Vai com tudo! Vamos juntos, com tudo para cima da banca! Arruma sua aprovação, podem contar comigo nessa caminhada. Um grande abraço e até a próxima. Boa prova! Valeu! [Música] C [Música]
Related Videos

6:43:55
Revisão de Véspera TJ RO - Analista Judici...
Estratégia Concursos
1,801 views

3:07:35
Direito Administrativo para Concursos DO Z...
Estratégia Concursos
536,023 views

55:20
Top 3 concursos de nível médio - Melhores ...
Estratégia Concursos
1,955 views

2:31:59
Simulado Final TJ RO – Técnico Judiciário ...
Estratégia Concursos
2,932 views

2:32:14
TJRO - FGV - Técnico Judiciário - Direito ...
PHD Concursos Públicos e Cursos de capacitação
57,080 views

1:04:30
Como é trabalhar no MPU? - Prof. Wesley Leite
Estratégia Concursos
1,004 views
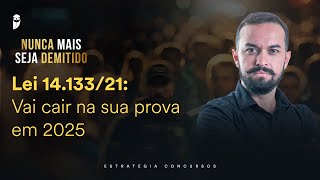
3:01:51
Lei 14.133/21: Vai cair na sua prova em 20...
Estratégia Concursos
18,162 views

Cozy Winter Coffee Shop Ambience with Warm...
Relax Jazz Cafe

4:14:44
Aulão de Véspera para o Tribunal de Justiç...
PHD Concursos Públicos e Cursos de capacitação
12,851 views

9:51:47
Revisão de Véspera PC MG Delegado
Estratégia Carreira Jurídica
6,815 views

3:56:05
Direitos Humanos para Concursos em UMA AUL...
Estratégia Concursos
207,105 views

11:34
JUST IN: Trump Announces 'I'll Be Signing ...
Forbes Breaking News
914,416 views

3:36:55
Reta Final TRT 10 Pós-Edital: Noções de Go...
Estratégia Concursos
1,657 views

☕Warm Relaxing Jazz Music with Cozy Coffee...
Jazz Cafe Ambience

2:50:31
Funções essenciais à Justiça - MPU
Nelma Fontana
17,197 views

3:27:45
INSS do zero - Direito Constitucional do z...
Estratégia Concursos
25,956 views

3:11:21
Reta Final MPU Pós-Edital: Direito Adminis...
Estratégia Concursos
25,183 views

1:04:49
Aula 1 - Começando do Zero | Direito Const...
Adriane Fauth
273,058 views

🔴 Deep Focus Music To Improve Concentrati...
4K Video Nature - Focus Music

7:10:47
Concurso TRF 6 | Revisão de Véspera: Anali...
Gran Cursos Online
5,736 views