👨 Saber Direito – Direito Constitucional - Aula 3
1.07k views8380 WordsCopy TextShare

Rádio e TV Justiça
No Saber Direito desta semana, Francisco Braga apresenta um curso sobre controle de constitucionalid...
Video Transcript:
[Música] No Saber direito desta semana, o professor Francisco Braga apresenta o curso de controle de constitucionalidade. As aulas trazem o histórico, os controles difuso e concentrado, as ações usadas para verificar a constitucionalidade de leis e atos normativos, além das repercussões externas e do controle estadual. Aula tr. [Música] Bem-vindos ao Saber Direito da TV Justiça. Esta aula será transmitida na TV Justiça e ficará disponível no YouTube da TV Justiça e no aplicativo TV Justiça Mais. Eu sou o professor Francisco Braga, sou procurador do estado de São Paulo, professor de Direito Constitucional e autor de obras jurídicas.
Nós estamos no nosso curso de controle de constitucionalidade e agora nesta aula veremos o controle concentrado abstrato de constitucionalidade no Brasil. Vamos lá, pessoal. Em relação ao controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, vocês precisam lembrar, e foi uma coisa que nós já vimos nas aulas anteriores, que o controle concentrado é aquele que se concentra em um único órgão, em um único tribunal. Então, é aquele que é realizado por um só tribunal, enquanto o controle difuso é feito por qualquer juiz, por qualquer tribunal, no julgamento dos casos que aprecia. Bom, no Brasil o controle concentrado pode ser
feito pelo Supremo Tribunal Federal quando tem como paradigma de controle a Constituição Federal e pode ser feito pelos tribunais de justiça, quando tem como paradigma de controle o parâmetro superior à constituição daquele estado. Então, lembrem, o controle concentrado de constitucionalidade estadual tem como paradigma de controle a Constituição do Estado, mas excepcionalmente o STF aceita, admite que os tribunais de justiça realizem um controle concentrado de constitucionalidade, tendo como paradigma de controle a Constituição Federal. Isso é exceção, é excepcional e só pode ser feito em dois casos. Primeiro, quando o caso envolve norma de reprodução obrigatória da
Constituição Federal e nesse caso os TJs podem realizar o controle concentrado estadual com base na Constituição Federal, porque uma norma da Constituição Federal que é de reprodução obrigatória, de observância obrigatória, ela é automaticamente considerada incluída no ordenamento jurídico local. E o segundo caso em que o TJ pode realizar o controle concentrado, abstrato com base na Constituição Federal, é aquele caso que envolve uma norma remissiva da Constituição do Estado. O que é uma norma remissiva? É aquela norma que diz: "Essa matéria será disciplinada de acordo com aquela outra norma". Ou seja, a norma remete o caso
para uma outra norma. Então, quando a Constituição do Estado remete a disciplina daquela matéria para uma norma da Constituição Federal, o controle concentrado pode ser realizado eh com base, né, tendo como paradigma a Constituição Federal. Bom, tendo essas premissas sobre controle concentrado em mente, a gente passa para a análise da AADI. O controle concentrado abstrato de constitucionalidade realizado pelo STF é feito em quatro ações típicas. O que é uma ação típica? É uma ação que é expressamente prevista no ordenamento jurídico para aquela finalidade. Isso é uma ação típica. E nós temos quatro ações típicas de
controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, que são a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, nós temos quatro ações típicas. ADI é o padrão de ação de controle concentrado abstrato, é o stand procedimental do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Por isso, nós vamos estudar primeiramente a ADI e depois nós vamos estudar as demais ações, porque uma vez estudada a ADI, fica mais fácil de compreender as outras ações, porque é
só a gente tomar como parâmetro de comparação a ADI para entender bem as outras ações, tá? A ADI pode ter como para como parâmetros de controle, parâmetro superior e parâmetro inferior, as seguintes normas. O parâmetro superior, que é o paradigma de controle, é o bloco de constitucionalidade, que nós já estudamos em aulas anteriores, aquelas normas constitucionais que são formalmente constitucionais, estejam elas ou não, no texto permanente da Constituição, e tudo que decorre implicitamente dessas normas. E o parâmetro inferior, o objeto da ADI, ou seja, o que pode ser impugnado na ADI é lei ou ato
normativo federal ou estadual. Isso tá no artigo 102, inciso 1, da Constituição Federal. Então, para ser implugnado em ADI, o ato tem que ser uma lei em sentido formal. ou se não for lei, tem que ser um ato normativo e tem que ser um ato primário. O ato primário é aquele que decorre diretamente da Constituição. Ele não deriva de uma lei, de uma norma infraconstitucional. Ele tem primariedade. E aí ele retira o fundamento de validade dele diretamente da Constituição. Então o ato que não é lei, ele tem que ser um ato normativo e tem que
ser primário. O que é um ato normativo? já expliquei nas aulas anteriores, é aquele ato que tem eh generalidade, abstração e impessoalidade. Então, um ato que não é lei e que não tem normatividade, ou seja, um ato concreto sem forma de lei, não pode ser objeto de ADI, porque objeto de ADI é lei e ato normativo federal e estadual, tá? A partir disso, vocês já podem saber tudo que pode ser objeto de ADI e o que não pode ser objeto de ADI. Então, tem que ter forma de lei ou tem que ser um ato primário
normativo. E na categoria lei eh eh está englobado lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória e emendas constitucionais, tá? Na categoria de atos normativos estão englobadas todas as todos os demais atos do poder público. Isso mostra pra gente o seguinte: se for um ato que tem forma de lei sobre uma lei em sentido formal, ainda que ela não tenha conteúdo normativo, ou seja, ainda que ela tenha um conteúdo concreto como leis orçamentárias, ela pode ser objeto de ADI. Agora, se for um ato sem forma de lei para ser objeto de ADI, ela não pode
ser um ato de efeitos concretos. Ela deve ser um ato que tem normatividade, ou seja, um ato geral, um ato abstrato, um ato impessoal. Tá certo, meus amigos? Bom, uma vez ajuizada a ADI, se o seu objeto for alterado, for revogado no curso da ação, o que é que acontece com a ação? Se o objeto da ADI é revogado no curso da ação, ela em regra ficará prejudicada. A ADI fica prejudicada e deve ser extinta sem resolução do mérito. Agora temos algumas exceções. Essas exceções são as seguintes. Primeiro, quando fica caracterizada uma fraude processual. O
que seria uma fraude processual? É aquilo que acontece quando é aizada uma ADI contra, por exemplo, uma lei, vamos supor aqui, uma lei estadual. é a juizada uma lei contra uma lei estadual. E aí no curso do processo, o poder legislativo daquele estado revoga essa lei só para ela não ser declarada inconstitucional e o STF não fixar o seu entendimento sobre aquilo. Se isso acontece, se nós nós temos uma fraude processual, a ADI não fica prejudicada, ainda que a lei seja revogada, porque para que o STF possa fixar o entendimento dele sobre a matéria. E
o STF tem um critério objetivo para que fique caracterizada em cada caso a fraude processual ou não, que é o critério da publicação ah das intimações para apresentações de razões finais. Se foi publicada ali a intimação para apresentar razões finais e houve revogação da norma, depois disso fica caracterizada a fraude processual, tá? Segundo hipótese excepcional, quando ocorre a revogação da norma no curso da ADI, mas a comunicação dessa revogação é tardia. Então vamos imaginar novamente o caso da lei estadual. Ela é impugnada em uma DI, ela é revogada no curso da ação, mas a Assembleia
Legislativa não comunica o Supremo da revogação da lei, espera a ADI ser julgada. E aí da e a quando a ADI é julgada pela procedência declarando a inconstitucionalidade, a assembleia vai lá e comunica ao Supremo: "Olha, Supremo, houve a revogação da norma, a ADI tem que ficar prejudicada". Nesse caso, o STF não aceita a prejudicialidade da ADI. Ele entende que a ADI não fica prejudicada e a decisão permanece. Porque se o Supremo admitisse que a comunicação tardia prejudicasse a ADI, ele estaria permitindo que interesses de terceiros pudessem manipular a jurisdição do STF. Tá bom? Terceira
hipótese, o caso de continuidade normativa. O que é a continuidade normativa? É aquilo que acontece quando uma lei é revogada e o seu conteúdo permanece em outra lei, por exemplo, na própria lei revogadora. Então, quando uma ADI é a juizada contra uma lei e essa lei é revogada no curso de processo, mas o conteúdo dela permanece em outra lei, especialmente na lei revogadora, a ADI não fica prejudicada, tá? E aí já houve casos em que em que houve o aditamento da inicial da ADI comunicando a continuidade normativa para que a ADI não ficasse prejudicada. E
houve casos em que o STF julgou a ADI sem exigir o aditamento da inicial para que a ADI não ficasse prejudicada, tá? Então a gente não pode afirmar que o STF exige o aditamento nesses casos, certo? Nós tivemos casos em que houve aditamento em que não houve aditamento da inicial e a daí em ambos não ficou prejudicada, tá? Outra situação, norma temporária. Uma é juizada contra uma norma de vigência temporária e no curso do processo se exalácia dessa norma, porque ela foi editada para produzir efeitos por, por exemplo, 4 meses. A ADI é ajuizada contra
essa norma, enquanto essa norma ainda está em vigor. Mas no curso da ADI, a norma tem a sua eficácia exaurida. Se isso acontecer, daí em regra fica prejudicada. A menos que o julgamento tenha sido iniciado, o processo tenha sido incluído em pauta, o julgamento tenha sido iniciado antes do exaurimento da eficácia da norma. Esse é o entendimento do Supremo. E nós temos aqui uma exceção que é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que excepcionalmente, quando a matéria tratada naquela norma temporária é muito relevante, o STF julga o mérito da ADI, ainda que essa
norma temporária tenha tido a sua eficácia exaurida antes da inclusão em pauta do julgamento, antes do início do julgamento. Por quê? Porque nesses casos o que mais importa é o Supremo fixar o entendimento dele sobre aquela matéria para que esse entendimento sirva como baliza para julgamentos futuros ou para o próprio legislador quando for criar normas, tá certo? Ah, outra situação é o caso em que não temos uma revogação da norma impugnada na ADI, mas nós temos uma alteração da norma impugnada na ADI. A alteração da norma pode ser uma alteração substancial ou uma alteração não
substancial. Quando nós temos uma alteração não substancial, por exemplo, uma lei que trata de servidor público e aí essa lei é impugnada em uma ADI, no curso da ADI, essa lei é alterada só para modificar o nome do cargo daqueles servidores. Nesse caso, a alteração não é substancial. E aí a ADI prossegue normalmente para ser julgada no mérito, não fica prejudicada e nem é preciso que o legitimado ativo adite a inicial para informar da alteração da norma. Agora, quando a ADI é a juizada contra uma norma e no curso da ação essa norma sofre uma
alteração substancial, ou seja, o conteúdo daquela norma é alterada. Aí, para que a ADI não fique prejudicada, o STF exige que o legitimado ativo adite a petição inicial, informando a alteração da norma e demonstrando que aquela aquele novo conteúdo daquela norma também é inconstitucional, tá? Então, nós temos eh essas nuances quanto à alteração e revogação do objeto no curso da ADI. Agora, a gente viu o que acontece quando o objeto da ADI é alterado no curso de processo, mas o que acontece quando a o próprio paradigma de controle, ou seja, quando o parâmetro superior da
ADI, a norma constitucional violada é alterada ou é revogada no curso da ADI? Nesse caso, em regra, a ADI fica prejudicada. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal até hoje. Mas excepcionalmente nos casos em que o STF percebe que julgar prejudicada a ADI acarretaria uma constitucionalidade superveniente daquela norma que foi impugnada, nesses casos, o STF não permite que a ADI fique prejudicada e julga a ação no mérito, tá? Isso acontece, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal vê que a DI foi ajuizada, depois a Constituição foi alterada naquele ponto que se alega ter sido
violada, mas o Supremo vê que aquela norma impugnada, ela realmente violava a Constituição. E aí, para evitar uma constitucionalidade superveniente, o STF não extingue o processo de resolução do mérito e julga a norma, julga o mérito da da alegação de inconstitucionalidade, tá? Tudo isso para evitar o fenômeno da constitucionalidade superveniente, tá? E aqui a gente precisa fazer uma observação. A ADI não pode ser ajuizada contra normas que já estão revogadas. Então, se uma norma já está revogada, o legitimado ativo não pode ajuizar uma ADI para impugnar essa norma. Ela já está revogada, tá? Só que
tem uma situação excepcional em que na ADI deve haver a impugnação, deve haver a impugnação de normas que já estavam revogadas antes do ajuizamento da ação. Isso acontece no chamado efeito repristinatório indesejado. A gente viu nas aulas anteriores que o efeito da declaração de inconstitucionalidade no controle difuso e no controle concentrado abstrato também é retroativo. Então a a norma é declarada inconstitucional desde a sua origem porque ela é nula. Se a norma é nula, significa que ela não teve a aptidão para produzir efeitos no mundo jurídico. Logo, ela não teve aptidão nem mesmo para revogar
as normas anteriores a ela. De modo que se ela tiver revogado alguma norma anterior, quando ela for declarada inconstitucional, essa norma anterior vai voltar a ser aplicável. E isso é o que a gente chama de efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. O efeito repristinatório é uma decorrência natural da declaração de inconstitucionalidade. Porque se quando a gente declara inconstitucionalidade, a gente reconhece a nulidade com efeitos retroativos, é natural que haja um efeito, que haja a o retorno da aplicação das normas anteriores. Então isso é efeito repristinatório. Efeito repristinatório não se confunde com repristinação, tá? A repristinação
é um fenômeno legislativo em que é editada uma nova lei que faz voltar a a entrar a ter vigência uma lei anterior que já tinha sido revogada na no efeito repinatório do controle de constitucionalidade. Não, nós não temos um fenômeno legislativo, nós temos uma decisão judicial declarando a inconstitucionalidade. Isso faz com que naturalmente volte a ser aplicável a norma anterior que tinha sido revogada pela norma inconstitucional. Tá bom? O que acontece é que às vezes o efeito repristinatório pode ser indesejado. Quando o efeito repstinatório será indesejado? Quando aquela norma anterior que tinha sido revogada pela
norma inconstitucional também era inconstitucional. Nesses casos, nós temos um efeito represinatório, que é natural da declaração de inconstitucionalidade, mas esse efeito repristinatório é indesejado porque ele faz voltar a ser aplicada a uma norma que também é inconstitucional e ninguém deseja inconstitucionalidade. Bom, em casos de efeito reprstinatório indesejado, o STF entende que o legitimado ativo, quando a juíza a uma ação contra uma norma que revogou norma anterior, eh, ele deve também incluir na impugnação dessa ADI a norma que já estava revogada, que também é inconstitucional. E se houver outras normas anteriores a essa norma que já
tinham sido revogadas e que também eram inconstitucionais, ou seja, normas que compõem a mesma cadeia normativa de normas revogadas e revogadoras, o legitimado ativo tem que impugnar todas as normas que anteriores, que já tinham sido revogadas e que também eram inconstitucionais. Ele só não tem que impugnar normas que fossem anteriores à Constituição, porque nesse caso, quando cotejada a norma anterior à Constituição com a Constituição, nós não temos um controle de constitucionalidade, nós temos um controle de recepção ou não recepção. E a ADI não se presta para controle de recepção ou não recepção, tá bom? Então,
em caso de de efeito represinatório indesejado, o legitimado ativo deve fazer a impugnação de toda a cadeia normativa. Isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal. E se ele não fizer a impugnação de toda a cadeia normativa, o que acontece? O STF teve entendimento por muitos anos, no sentido de que, nesse caso, a inicial daí deveria ser e eh rejeitada, tá? Deveria haver o quê? A o indeferimento da inicial. Por quê? Porque o STF ficaria inviabilizado de afastar o efeito represtinatório indesejado, já que como regra o STF não pode declarar inconstitucionalidade de ofício no controle abstrato.
Para no controle abstrato, aquele controle por ação direta, tem que haver impugnação da norma para que a norma seja declarada inconstitucional. A única exceção a isso é a inconstitucionalidade por arrastamento. Na inconstitucionalidade por arrastamento, o Supremo pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma que não foi impugnada, porque essa norma não impugnada tem uma relação de interdependência com a norma que foi impugnada, que é inconstitucional, tá? É uma relação de é a a norma que foi impugnada é a razão de ser da norma que não foi impugnada. Então aí nós temos uma inconstitucionalidade por arrastamento. Nesse
caso, o STF pode declarar a inconstitucionalidade da norma que não foi impugnada. Nada aí, mas só nesse caso. Nos demais casos tem que haver impugnação. Então por isso a STF fixou o entendimento de que se o legitimado ativo não faz impugnação de toda a cadeia normativa em caso de efeito reprocinatório desejado, a inicial deveria ser indeferida. Só que mais recentemente o STF mitigou esse entendimento. Ele decidiu o seguinte: "Olha, já que a gente pode realizar modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em caso de efeito represinatório indesejado em que o legitimado ativo não impugnou toda
a cadeia normativa, nós podemos simplesmente dizer que aquela declaração de inconstitucionalidade da norma que foi impugnada não gera efeitos retroativos. elas gerem feitas a partir de alguma data posterior à data da entrada em vigor da norma que foi impugnada, de modo que essa norma impugnada, embora inconstitucional, produziu efeitos por algum período, inclusive a revogação das normas anteriores que também eram inconstitucionais, tá? Então fiquem atentos a essa questão do efeito repstinatório indesejado. Bom, na ADI a gente tem que destacar que a causa de pedir é aberta. A causa de pedir é aberta e o pedido é
fechado. O que significa o pedido ser fechado? Significa, como eu disse para vocês, que só pode ser declarada a inconstitucionalidade de norma que foi impugnada. Agora, a causa de pedir ser aberta significa que o STF, quando declara a inconstitucionalidade pode fazer isso como fundamento em qualquer norma da Constituição. Ele não fica vinculado à fundamentação que foi trazida pelo legitimado ativo. O legitimo relativo vai trazer a fundamentação dele, mas quando a ADI é a juizada, o STF pode analisar a validade daquela norma com fundamento em qualquer norma da Constituição. A causa de pedir é aberta. Mas
existem algumas mitigações a isso. E uma dessas mitigações que já foi decidida pelo STF é a seguinte: se o legitimado ativo a juízo a uma ADI, alegando apenas inconstitucionalidade formal daquela norma impugnada, o STF não pode declarar a inconstitucionalidade material daquela norma, tá? A inconstitucionalidade formal é uma inconstitucionalidade por violação de alguma formalidade, né? por exemplo, não observou o processo legislativo ou então a norma foi editada por um ente federado que não tinha competência para editar aquela norma, ou então quem deu início ao processo legislativo daquela norma não era o órgão ou a autoridade que
tinha a iniciativa legislativa naquele caso, é algum vício formal. Então, quando o legitimado ativo alega apenas inconstitucionalidade formal, o STF não pode analisar uma inconstitucionalidade material, ou seja, uma incompatibilidade do conteúdo daquela norma com a Constituição. Isso é jurisprudência do Supremo. Por quê? Porque se o legítimoativo só alega a inconstitucionalidade formal, para o STF analisar eventual inconstitucionalidade material, ele teria que analisar toda a Constituição. Isso seria uma tarefa inviável, tá? Outro detalhe por que decorre da causa de pedir ser aberta. Se o legitimado ativo ajuizou uma ADI com uma determinada fundamentação e depois ele percebe
que a fundamentação dele não foi tão boa, que ela merece um complemento, não há necessidade de ele ajuizar uma nova ADI para reforçar a fundamentação, porque a causa de pedir é aberta, de modo que qualquer coisa que ele possa alegar na fundamentação é matéria que o STF já pode conhecer, independentemente de complementação da fundamentação. E aí, se o mesmo legitimado ativo ajuizar uma nova ADI para reforçar a fundamentação, nós teremos uma leitência e a segunda ADI deverá ser extinta. Beleza? Agora, embora a causa de PED seja aberta, isso não significa que o legitimado ativo não
tenha ô na fundamentação da ADI. Primeiro detalhe, segundo o STF, a causa de pedir ser aberta não significa que a a o legitimado ativo fique livre do ônus da fundamentação suficiente da ADI. Ou seja, a fundamentação da ADI tem que ser uma fundamentação robusta para demonstrar aquela inconstitucionalidade. Não pode ser algo superficial, algo muito raso, não. Tem que haver uma fundamentação suficiente, senão a ADI não será conhecida. E outro detalhe, o fato de a causa de pedir ser aberta não exclui o ônus da da impugnação específica do ato impugnado. Então imagine que o legitimativo quer
impugnar toda uma lei, uma lei completa. Ele não pode ajuizar a ADI e falar: "Eu peço, eu venho requerer que eh haja a declaração de inconstitucionalidade de toda essa lei." Não. Ele tem que pedir e fundamentar a declaração de inconstitucionalidade de cada dispositivo dessa lei, porque ele tem um ônus da impugnação específica. Ele não pode pedir simplesmente a declaração de inconstitucionalidade geral daquela lei, de toda aquela lei, tá bom? Bom, na ADI, né, nos aspectos processuais, nós temos duas coisas bem importantes que precisam ser mencionadas. Primeiro é que nós temos a participação do procurador-geral da
República na ADI e segundo é que nós temos a participação do advogado geral da União na ADI, tá? A participação do PGR, procurador-geral da República, tá prevista no artigo 103, parágrafo primeiro da Constituição. E esse esse dispositivo fala que o PGR se manifestará, né, será previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade, em todas as ações de inconstitucionalidade de competência do Supremo Tribunal Federal. E o PGR se manifesta emitindo a sua opinião jurídica sobre aquela matéria. Ele vai emitir um parecer livremente a favor da norma impugnada ou contra a norma impugnada. Então o PGR pode livremente pugnar
pela inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade da norma impugnada. Já o advogado geral da União tem um outro papel na ADI. O papel do advogado geral da União tá no artigo 103, parágrafo terceirº da Constituição, que fala que o advogado geral da União participará do da do processo de inconstitucionalidade no controle concentrado abstrata de constitucionalidade para defender o texto impugnado, para defender o ato impugnado. A Constituição é muito clara, ela fala expressamente que o AGU é defensor do ato impugnado. fala expressamente que o AGU será chamado ao processo. Ela usa aqui a expressão citará. Ela fala que
o advogado geral da União será citado. É uma expressão tecnicamente não muito boa, porque não ocorre aí verdadeiramente uma citação do AGU, mas ela fala que o AGU virá ao processo para defender o ato impugnado. E aqui é necessário chamar atenção para uma questão. A participação do AGU aqui no processo de controle concentrado extrato não tem nada a ver com a função do AGU enquanto chefe da advocacia pública federal, tá? O AGU não está aqui representando a União ou presentando a União. Ele não está aqui na qualidade de chefe da AGU. Ele está aqui na
qualidade de uma agente que atua no controle de constitucionalidade para trazer o quê? Dialeticidade ao processo. O autor da ADI faz a impugnação da norma, o AGU vem defender a norma. Com isso, ele estabelece uma dialeticidade no controle de constitucionalidade. Esse é o papel dele. Então, ele deve defender a norma impugnada. E aí existem alguns posicionamentos no sentido de que o AGU não seria obrigado a defender a norma impugnada se fosse uma norma que contrariasse interesses da União, certo? Por quê? Porque o AGU é o chefe da advocacia pública federal. Mas esse posicionamento, ele tem
caráter doutrinário e ele não é acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Nos posicionamentos mais recentes, nas decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal, o STF disse expressamente que o AGU tem o dever no controle concentrado abstrato, tem o dever de defender o ato impugnado. Esse é o dever dele. O STF só admite uma exceção a esse dever do AGU. O STF entende que o AGU só não é obrigado a defender o ato impugnado quando o próprio STF já decidiu aquela matéria e já disse que aquela matéria é inconstitucional. Nesse caso, o AGU não é obrigado a
defender o ato pugnado, mas nos outros casos, ele tem que defender o ato pugnado, porque essa é a missão constitucional dele no controle concentrado abstrato de constitucionalidade, tá? E aí tem uma observação bastante interessante que foi uma sugestão do ministro Gilmar Mendes. Vou até procurar o precedente aqui para vocês. Na ADI, ã, deixa eu encontrar aqui. Encontrei na ADI 5525, julgada em 2018, o ministro Gilmar Mendes, no voto dele, ele deu a seguinte sugestão. Quando a norma impugnada na ADI é manifestamente contrária à Constituição, ou seja, ela ofende a literalidade mesmo da Constituição. Por exemplo,
a normaal, a norma impugnada fala dois, a Constituição fala quatro sobre aquela mesma matéria. Nesse caso, a inconstitucionalidade é manifesta. E aí o ministro Gilmar Mendes falou: "Olha, nesse caso e entendo que o advogado geral da União não fica obrigado a defender o ato impugnado, porque embora ele seja defensor do ato impugnado no controle de constitucionalidade, ele também, por ser um integrante do poder público, ele tem como obrigação o quê? proteger a rigidez da Constituição, mas foi só uma ressalva feita eh individualmente pelo ministro Gilmar Mendes. Isso nunca foi aplicado pelo pleno do Supremo Tribunal
Federal. O que a gente tem no pleno do Supremo é simplesmente que o advogado geral da União é obrigado a defender o ato impugnado, exceto quando já houve fixação de entendimento do STF sobre aquela matéria, decidindo que ela realmente é inconstitucional, tá? Agora a gente passa para legitimidade ativa na ADI. A legitimidade ativa na ADI, que é a mesma legitimidade ativa para as demais ações de controle concentrado abstrato no STF, tá prevista no artigo 103 da Constituição Federal, tá? E e esse artigo elenca os órgãos e autoridades que podem ajuizar a ADI. E ele fala
o seguinte: "Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou seja, a mesa do legislativo eh estadual, o governador de estado, o governador do Distrito Federal, o procurador geral da República, o Conselho Federal da UAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. O que acontece? Acontece que em relação a esses legitimados, o Supremo Tribunal Federal
realizou uma distinção, tá? Isso é uma coisa que não está na Constituição Federal, mas que a jurisprudência do STF construiu. Ele dividiu esses legitimados ativos em dois grupos, nos legitimados universais e nos legitimados especiais. Os legitimados universais são aqueles que podem ajuizar a ADI contra normas que tratam de qualquer matéria, desde que seja uma lei ou ata normativo federal ou estadual. Já os legitimados especiais são aqueles que só podem ajuizar a ADI quando demonstrarem pertinência temática com aquela norma impugnada. Ou seja, quando eles demonstrarem que aquela norma impugnada interessa as suas finalidades institucionais, ou seja,
a atuação do legitimativo tem que ter alguma relação com aquela matéria tratada naquela norma. E quais são os legitimados especiais? São basicamente os legitimados de origem estadual, que são as mesas do legislativo estadual e do Distrito Federal, e os chefes do executivo do dos Estados e do Distrito Federal, e além deles o a confederação sindical e a entidade de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados especiais e que, portanto, precisam demonstrar pertinência temática para ajuizar a ADI e as demais ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Uma outra coisa importante, esses legitimados ativos para
ADI, para controle concentrado abstrato no STF, possuem todos eles capacidade postulatória, o que significa que eles não precisam constituir advogado para ajuizar a ação, com exceção de dois, o partido político com representação no Congresso Nacional e a entidade de classe eh de âmbito nacional e a confederação sindical. Esses precisam constituir advogado, tá? Os demais não precisam, mas podem constituir advogados se quiserem. Com um detalhe, o advogado deve receber uma procuração com poderes específicos para a juizar aquela ADI, indicando inclusive os dispositivos que devem ser impugnados, tá? Esses dispositivos até ele podem não ser indicados na
procuração de forma numérica, mas desde que a procuração deixe claro quais são as matérias que devem ser objeto de impugnação na ADI. Beleza? Isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal. E aqui tem algumas observações sobre os legitimados ativos. Primeiro, a legitimidade ativa, segundo o STF, é do órgão ou da do ou do cargo e não da pessoa física que ocupa aquele cargo. Então, por exemplo, imaginem que uma ADI é a juizada por um governador de estado. Se no curso da ação esse governador que ajuizou a ADI é afastado do cargo por qualquer motivo, a ADI
não fica prejudicada, porque a legitimidade é do cargo, a legitimidade não é da pessoa física, tá? Outra observação em relação aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional, se eles ajuízam a ADI com no momento em que eles têm representação no Congresso Nacional, caso no curso da ADI eles percam essa representação, ou seja, por exemplo, eles tinham um deputado na Câmara dos Deputados e aí se encerra a legislatura e eles não conseguem renovar, não conseguem nenhuma cadeira mais na Câmara dos Deputados, a ADI não fica prejudicada, tá? E em relação às entidades de classe de
âmbito nacional, é necessário que a gente deixe destacado aqui que o STF entende que esse âmbito nacional deve ser verificado de forma semelhante como é verificada a abrangência nacional dos partidos políticos, porque o STF aplica por analogia a lei dos partidos políticos para se verificar o âmbito nacional dessas entidades de classe. Ou seja, então uma entidade de classe para ser considerada de âmbito nacional tem que estar presente em pelo menos 1/3 dos estados ou Distrito Federal, tá bom? Assim como os partidos políticos para demonstrar o seu caráter nacional. Agora, tem uma exceção a isso bem
interessante. Às vezes aquela entidade de classe representa uma atividade que, por conta das suas características, não está presente em todo o território nacional. Por exemplo, a atividade de produção de sal. A gente não tem produção de sal em todo lugar no território, extração de minérios. A gente não tem extração de minérios em todo o território nacional. Essas atividades são reservadas a determinadas regiões do país. Nesses casos, o STF substitui a exigência de presença da entidade de classe em 1/3 dos Estados pela relevância da atividade. Se a atividade for relevante para todo o país, fica caracterizada
a abrangência nacional da entidade de classe para fins de ajuizamento das ações de controle concentrado, abstrato de constitucionalidade. Tá certo, meus amigos? Mais uma observação a gente deve fazer aqui, é bem importante, é o seguinte, a gente viu que a maioria dos legitimados ativos têm capacidade postulatória, mas eles podem constituir advogados se quiserem. No caso, por exemplo, do governador do estado ou até mesmo do presidente da República, eles têm a possibilidade de ajuizar a ação isoladamente, sozinhos. ou podem constituir um advogado privado ou podem fazer isso por meio do chefe da sua advocacia pública. No
caso do estado, de governador do estado, ele pode ajuizar a ADI por meio do seu procurador geral do Estado. Só que o procurador geral do Estado não pode assinar a petição inicial da ADI sozinho. Tem que ter também a assinatura do próprio chefe do poder executivo. Por quê? Porque só cabe ao próprio legitimado ativo decidir se a ADI deve ser ajuizada ou não. Se a ADI é ajuizada numa peti como uma petição inicial subscrita apenas pelo procurador do legitimado ativo, a gente não sabe se o legitimado ativo realmente queria juizar aquela ADI. Então é necessário
que haja na petição inicial a assinatura do legitimado ativo, tá? Outro detalhe importante sobre legitimidade, a legitimidade para recorrer na ADI, nos processos de controle concentrado abstrato. Em relação aos processos de controle concentrado abstrato no STF, o único recurso cabível são os embargos de declaração, tá? Então, a ADI é julgada, só cabem embargos de declaração, não cabe mais nada, não cabe nem ação recisória, tá? A legitimidade para recorrer é apenas do próprio legitimado ativo que ajizou a ação. A pessoa jurídica que aquele legitimado ativo integra não tem legitimidade. Por exemplo, a ADI é a juizada
pelo presidente da República, a União não tem legitimidade. E da mesma forma os demais legitimados ativos que não foram os que ajuizaram a ação, também não tem legitimidade para recorrer. Só quem ajuizou a ação tem legitimidade. Então, a legitimidade recursal no controle concentrado abstrato no Supremo é paralela à legitimidade ativa. Certo? Mas tem um detalhe, isso não se aplica no controle concentrado abstrato estadual. Nós ainda vamos estudar o controle concentrado estadual, mas é necessário fazer aqui uma diferenciação, porque essa diferenciação foi feita pelo STF. A legitimidade recursal é paralela à legitimidade ativa apenas no controle
concentrado abstrato processado no Supremo Tribunal Federal. No controle concentrado abstrato estadual não se exige o paralelismo entre a legitimidade ativa e a legitimidade recursal. De modo que quem não ajuizou a ação e quem nem mesmo é legitimado ativo para o controle estadual pode apresentar recurso contra a decisão da ação de controle concentrado abstrato estadual, tá? A gente tem vários precedentes do STF admitindo o recurso extraordinário contra acordão de ADI estadual interposto por quem não ajuizou a ação, tá? E aí o STF fez essa diferença expressamente em um caso relatado pelo ministro Luiz Fux. A legitimidade
recursal é paralela à legitimidade ativa só no controle concentrado federal, aquele que é feito no STF. No controle concentrado estadual não existe esse paralelismo, tá? E um detalhe importante que o STF já decidiu, o recurso no controle concentrado abstrato de constitucionalidade pode ser interposto sem a assinatura do legitimado recursal, do legitimado ativo. Então pode o advogado do legitimado assinar sozinho essa petição, porque se trata de um ato técnico. O recurso é um ato eminentemente técnico e muitas vezes o legitimado ativo nem mesmo tem conhecimento técnico para fazer qualquer interferência ali na interposição do recurso. Beleza?
Só que esse recurso, embora seja interposto sozinho pelo procurador do legitimado, é interposto em nome do legitimado, né? Quem interpõe ali não é o procurador, então não é o advogado falando: "Eu, advogado, venho interpor esse recurso". Não, é o legitimado que interpõe o recurso, né? Apesar disso, vocês têm que saber que houve alguns casos julgados nesse sentido pelo STF, em que o STF colocou na ementa do julgado uma frase que dizia mais ou menos assim: "O procurador do legitimado tem legitimidade para recorrer, tá? Mas fiquem atentos, embora, embora tenha essa frase na ementa, na verdade
que o STF quis dizer que o procurador do legitimado pode assinar sozinho a petição recursal, mas a o recurso continua sendo interposto em nome do próprio legitimado, tá? No cadastro processual, o nome do recorrente será o nome do legitimado e não o nome do procurador ou do advogado dele, tá bom? Fiquem atentos. Só que tem um caso em que o próprio procurador será legitimado para em nome próprio dele interpor recurso no controle concentrado abstrato. Que caso é esse? A gente viu que o AGU no controle abstrato no STF tem a função de defender o ato
impugnato. Ponto. Em âmbito estadual, no controle concentrado abstrato estadual, também temos um defensor do ato impugnado. Não é obrigatório que esse defensor seja o procurador geral do Estado por simetria com a atuação do AGU no âmbito federal. O STF já decidiu que não é obrigatória a ver simetria entre a atuação do AGU e a atuação do PGE nos controles abstratos federal e estadual. Então, por exemplo, é possível que a Constituição do Estado preveja que a defesa do ato impugnado será feita pelo procurador-geral da Assembleia Legislativa? A Constituição do Estado pode prever que o que o
a defesa do ato impugnado será feita alternadamente pelo procurador-geral da Assembleia Legislativa e pelo procurador-geral do Estado. Seja como for, o STF já decidiu que quem realiza essa defesa do ato impugnado tem legitimidade para recorrer em nome próprio com o objetivo de defender o ato impugnado. E isso decorre da teoria dos poderes implícitos. Se a Constituição prevê para aquela autoridade, para aquele cargo, a função de defender o ato impugnado, ela implícitamente dá a esse cargo, a a esse agente público, os poderes para realizar essa defesa até o fim. Então, por exemplo, em um controle concentrado
abstrato estadual, se o PGE é o responsável pela defesa do ato impugnado, ele tem legitimidade para interporário quando for cabível pro STF. e vai ser um recurso extraordinário interposto em nome próprio do próprio procurador-geral do Estado. No âmbito federal, no controle abstrato realizado pelo STF, o STF tem decisão dizendo que o AGU, enquanto defensor do ato impugnado, tem legitimidade para recorrer em nome próprio para defender o ato impugnado. Só que no caso do controle abstrato feito pelo STF, um único recurso cabível, como a gente viu, são os embargos de declaração. Então, o AGU pode, no
controle abstrato feito pelo Supremo, opor embargos de declaração em nome próprio, com o objetivo de e realizar a defesa do ato impugnado. Beleza, meus amigos? Vamos seguir aqui para os efeitos da decisão na ADI. A gente já viu bastante os efeitos, né? Nas aulas anteriores, a gente viu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade na decisão de mérito da ADI são e vinculantes, ergaises e retroativos. Essa é a regra. E nós temos também o efeito reprstinatório, que é natural da declaração de inconstitucionalidade com eficácia retroativa. Lembrando que pode haver a modulação de efeitos, conforme prevê o
artigo 27 da lei 9868 de 99. E a modulação de efeitos exige votos de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, desde que haja razões de segurança jurídica, de relevante interesse social que justifique a modulação. E aí, se o STF realizar a modulação, ele vai mexer em alguns desses efeitos. Ou ele vai dizer que aquela decisão não é retroativa, porque ela tem que produzir efeitos a partir de outra data. Ou ele vai dizer, por exemplo, que essa decisão não é regenes, porque ele vai ressalvar um determinado grupo de pessoas da aplicação daquela decisão. Quando ele
perceber que a aplicação daquela decisão para um específico grupo de pessoas pode causar um prejuízo desproporcional só para esse grupo de pessoas. Então, na modulação, o Supremo Tribunal Federal pode mexer tanto no aspecto temporal da decisão quanto no aspecto subjetivo da decisão. Ele pode ressalvar um grupo de pessoas da aplicação daquela declaração de inconstitucionalidade, tá? Só que além da decisão de mérito, nós temos também na ADI a possibilidade de decisão cautelar para suspender a eficácia daquela norma impugnada. E quais são os efeitos da cautelar na ADI? também são vinculantes, também são ergômenes, só que não
são retroativos. tem uma eficácia exnunque, uma eficácia não retroativa, a menos que o STF estabeleça uma outra eficácia temporal para essa decisão. Mas segundo a lei 9868, essa decisão tem uma eficácia não retroativa. Só que embora ela tenha uma eficácia não retroativa, ela também gera um efeito repristinatório, um efeito repristinatório automático. Ela também faz com que a norma anterior que foi revogada seja aplicável novamente. Só que veja uma diferença. Enquanto a decisão de mérito na ADI tem uma eficácia reprocinatória que é automática e decorre naturalmente da declaração de inconstitucionalidade com efeito retroativo, na decisão cautelar,
a eficácia repristinatória decorre de disposição de lei. Ela só existe porque a lei 9868 diz que a cautelar tem eficácia repristinatória. Beleza? Bom, o efeito vinculante, vejam só, o efeito vinculante, eu já expliquei para vocês, atinge os demais órgãos do poder judiciário e toda a administração pública de todo o país só não atinge a função legislativa do poder legislativo, tá? Isso significa que o poder legislativo pode aprovar uma nova lei que tem o mesmo conteúdo da lei que foi declarada inconstitucional. E aí, recentemente houve um debate que é o seguinte: se o legislativo aprova uma
nova lei com o mesmo conteúdo que já foi declarado inconstitucional, esse ato legislativo pode caracterizar uma improbidade administrativa? Olha só, isso foi debatido na segunda turma do Supremo e a segunda turma de Supremo decidiu o seguinte: nós sabemos que a declaração de inconstitucionalidade não vincula a função legislativa. Ponto. E por isso o poder legislativo pode criar novas leis com o mesmo conteúdo que já foi declarado inconstitucional. Logo, a mera aprovação de uma nova lei com conteúdo já declarado inconstitucional não é por si só um ato de improbidade administrativa. Só que se houver outros elementos que
demonstrem ali que o legislativo abusou do poder de legislar com alguma finalidade que é contrária à legislação que proíbe, né, que veda a improbidade administrativa, aí sim poderá eventualmente ficar caracterizada uma improbidade administrativa, mas a improbidade não decorre simplesmente da aprovação de uma nova lei com conteúdo já declarado inconstitucional, tá? Então fiquem atentos a essa questão aí. Seguindo, tem um debate importante que é o seguinte: o STF já decidiu que no controle concentrado abstrato de constitucionalidade não há espaço para se falar em impedimento e suspeição dos ministros, porque é um processo objetivo. Então, os ministros
podem deixar de participar do julgamento por motivo de foro íntimo, mas não é possível alegar eh impedimento e suspeição dele, já que não é um processo subjetivo. E esse mesmo entendimento o STF aplicou posteriormente para o recurso extraordinário com repercussão geral, especificamente na fase de fixação da tese de repercussão geral, porque o recurso extraordinário tem duas etapas, a primeira de fixação da tese de repercussão geral e a segunda de julgamento do caso concreto daquele recurso. Na fase de fixação da tese de repercussão geral, nós temos ali um processo objetivo porque ele é abstrativizado. Então, nesse
momento, não é possível falar impedimento e suspeição de ministro do Supremo, mas na hora do julgamento do caso concreto, aí sim é possível falar em impedimento e suspeição de ministro do Supremo Tribunal Federal. E pra gente finalizar, vamos falar aqui sobre a intervenção de terceiros na ADI e a participação de amigos Curi. A lei 9868 de99 diz que não é permitida a intervenção em terceiros na ADI, mas é possível a participação do Amicuscuri para contribuir com o julgamento. E aí em relação ao Amicuscuri, nós temos alguns debates importantes. Primeiro, até quando ele pode pedir para
entrar no processo? Segundo, ele pode recorrer no processo. E terceiro, pode ser pessoa física ou não. Bom, segundo o STF, o Micuscur só pode pedir para ingressar no processo até que o processo seja incluído em pauta para o julgamento. Excepcionalmente, muito excepcionalmente, o STF admite que depois desse momento o Amicuscuri ingresse no processo quando a matéria for muito relevante, quando o Amicuscuri puder contribuir muito para aquele julgamento. Segundo, o amicuscuri pode recorrer no controle de constitucionalidade, o STF entende que nos processos objetivos do controle concentrado abstrato de constitucionalidade, o Micuscuri não pode apresentar recursos, ele
não pode opor embargos de declaração e não pode também recorrer contra a decisão que nega o seu ingresso no processo. No controle de constitucionalidade em processos subjetivos, como o recurso extraordinário, o icur segundo STF, também não pode apresentar recurso contra a decisão que indefere o seu ingresso no processo e também não pode apresentar embargos de declaração quando se trata de recurso extraordinário com repercussão geral, já que o recurso extraordinário com repercussão geral está abstrativizado. Se for um outro processo de caráter subjetivo, aí o homicuscuri pode opor em bargos de declaração, pelo menos a princípio, porque
o artigo 138 do CPC permite isso. E para finalizar, pessoa física pode ser a micuscure ou não. O último julgamento do pleno do STF sobre isso foi o da ADI 3396. E lá o STF entendeu que o Micuscuri não pode ser eh pessoa física no controle concentrado abstrato de constitucionalidade. A gente teve casos de ministros relatores admitindo a pessoa física em ADI como a Micuscuri, mas isso acontece porque a decisão que admite o Micuscuri é irrecorrível, segundo a lei 9868, segundo o Código de Processo Civil. Então o ministro pode acabar admitindo pessoas como Micuscuri que
o pleno do STF já tinha decidido que não poderiam ser a Micuscuri, já que ninguém pode recorrer quanto a isso. Mas um entendimento mais recente do pleno do STF e que talvez seja o último, já que o STF não admite mais recurso contra a decisão que rejeita e contra a decisão que admite amicuscuri, foi no sentido de que pessoa física não pode ser amicuscuri no controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, especialmente em ADI. E agora nós vamos ao nosso quiz. Vamos [Música] lá. Sobre o controle de constitucionalidade brasileiro, assinale a alternativa correta. No Brasil, o controle
concentrado abstrato foi previsto pela primeira vez na Constituição de 1891. B. O sistema judicial de controle de constitucionalidade brasileiro foi alterado pela emenda 16 de 65 a Constituição de 46, uma vez que introduziu o controle judicial concreto. C. O sistema judicial de controle de constitucionalidade brasileiro até a introdução do controle concentrado por modificação operada na Constituição Federal de 46, seguiu o modelo norte-americano, sendo que a partir daí recepcionou a concepção austríaco-queuceniana, sem contudo abandonar a fiscalização judicial difusa. D. Não há no Brasil previsão expressa do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. A resposta é letra C,
porque a gente estudou, especialmente nas aulas anteriores, que o controle de constitucionalidade no Brasil foi introduzido inicialmente no modelo norte-americano, o controle difuso, na Constituição de 1891 e antes dela na Constituição Provisória de 1890 pelo decreto número 510 e que o controle concentrado abstrato foi introduzido por uma alteração na Constituição de 46 pela emenda 16 de65. E aí quando a emenda 16 de65 fez isso, ela introduziu o modelo de controle concentrado abstrato, que passou a conviver com o modelo norte-americano. E desde então nós temos os dois modelos de controle de constitucionalidade no Brasil previstos na
Constituição, tá? Vamos pra [Música] próxima. Sobre o papel do advogado geral da União no controle concentrado abstrato de constitucionalidade, assinale a alternativa correta. O AGU não participa do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. B. O AGU participa do controle concentrado abstrato de constitucionalidade emitindo parecer com a sua opinião jurídica sobre a questão debatida nos autos. C. O AGU participa do controle concentrado abstrato de constitucionalidade como defensor do ato impugnado. D. Em hipótese alguma, o AGU pode deixar de defender o ato impugnado no controle concentrado abstrato de constitucionalidade. A resposta é letra C, porque como a gente
viu, o AGU participa do processo de controle concentrado abstrato no papel de defensor do ato impugnado. Ele não pode emitir um parecer livremente. Quem faz isso é o procurador geral da República, que também é ouvido no controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Em algumas situações, o AGU até pode não defender o ato impugnado, mas desde que tenha havido já manifestação anterior do STF, reconhecendo que aquela matéria é inconstitucional. Vamos [Música] seguir sobre a legitimidade ativa na ADI, assinale a alternativa correta. Ajuizamento de ADI, os legitimados ativos devem sempre constituir advogado. B. Sempre que um legitimado ativo
a juiz a uma ADI, ele deve demonstrar a pertinência temática. C. Se um partido político é juízo a uma ADI e pede a representação no Congresso Nacional no curso do processo, a ação fica prejudicada. D. Caso a ADI seja proposta pelo chefe do executivo e no curso do processo ele seja afastado do cargo por qualquer motivo, a ação não fica prejudicada. A resposta é letra D. Porque nós vimos, meus amigos, que a Constituição Federal prevê os legitimados ativos da ADI. Nós vimos que eles possuem capacidade postulatória, então não precisam sempre constituir advogado. Em regra, eles
possuem capacidade postulatória. E nós vimos que a legitimidade ativa pertence ao órgão ou ao cargo e não a pessoa física que ocupa aquele cargo. De modo que se, por exemplo, o chefe da executiva juíza uma ADI e depois ele perde o cargo por qualquer motivo ou se afasta do cargo temporariamente, a daí não fica prejudicada, já que a legitimidade ativa é do cargo, não é da pessoa física. Bom, meus amigos, nós acabamos de estudar aqui o controle concentrado abstrato de constitucionalidade com foco na ADI. Nós vimos muitas coisas que nós precisaremos conhecer para o estudo
das demais ações de controle concentrado, abstrato, de constitucionalidade, que eh as quais nós daremos prosseguimento nas próximas aulas. Eh, se quiserem me acompanhar nas redes sociais, o meu perfil no Instagram é @professorfranciscobraga. Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do saber direito? Então mande um e-mail pra gente. Saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radiovjustiça.jus.br br ou pode rever as aulas no canal do YouTube @radioetjustiça. [Música]
Related Videos

55:11
👨 Saber Direito – Direito Constitucional ...
Rádio e TV Justiça
933 views

55:27
👨 Saber Direito – Direito Constitucional ...
Rádio e TV Justiça
780 views

1:33:40
Controle de Constitucionalidade | Profª. R...
Supremo
71,803 views

45:59
📺 JJ – Jornal da Justiça de 2 de maio de ...
Rádio e TV Justiça
390 views

57:05
👨 Saber Direito – Direito Constitucional ...
Rádio e TV Justiça
4,827 views

36:15
RFK Jr. & HHS: Last Week Tonight with John...
LastWeekTonight
5,125,860 views

1:34:35
Who Rules the New Global Order? with Profe...
KrasnoUNC
195,067 views
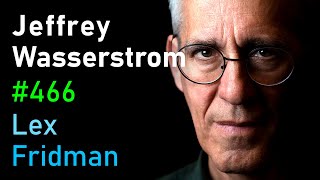
3:04:01
Jeffrey Wasserstrom: China, Xi Jinping, Tr...
Lex Fridman
374,039 views

55:05
👨 Saber Direito – Direito Constitucional ...
Rádio e TV Justiça
585 views

51:34
É isso que cai de PORTUGUÊS em CONCURSO PÚ...
Prof. Álvaro Ferreira
1,898,285 views

1:02:43
15 Questões obrigatórias de Português para...
Prof. Álvaro Ferreira
218,239 views

53:10
⭐️ Princípios Fundamentais — Direito Const...
PHD Concursos Públicos e Cursos de capacitação
820,393 views

55:37
👨 Saber Direito - Direito Constitucional ...
Rádio e TV Justiça
782 views

55:31
👨 Saber Direito – Direito Constitucional ...
Rádio e TV Justiça
1,652 views

36:02
ADPF: CONTROLE CONCENTRADO-ABSTRATO DE CON...
Supremo
6,290 views

2:42:34
Poder Legislativo - aula 01 | Direito Cons...
Adriane Fauth
55,551 views

54:00
👨 Saber Direito – Direito Constitucional ...
Rádio e TV Justiça
1,573 views

23:05
ADI, ADC, ADO E ADPF: ASPECTOS COMUNS E PR...
Portal Flavia Bahia
36,678 views

3:58:14
Controle de Constitucionalidade em 1 aula ...
Esquadrão de Elite
15,493 views

1:07:14
RESUMÃO de Processo Civil #1 - Teoria Geral
É Isso! - com Marco Evangelista
38,428 views